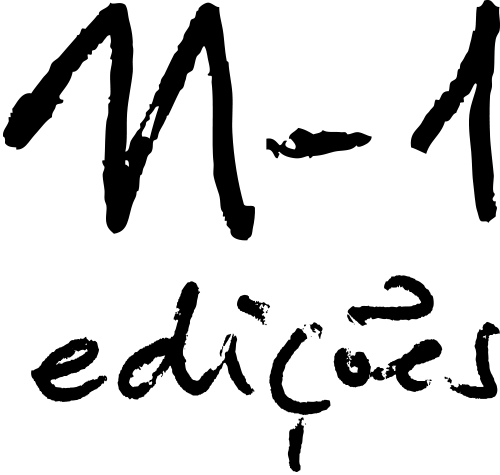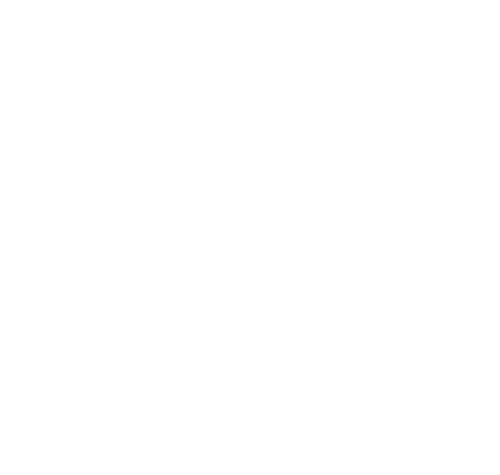“Como você ousa comparar Tzahal à Wehrmacht?” (Omer Bartov)
Embora eu tenha trabalhado no exterior por muitos anos, Israel é onde nasci e fui criado. É o lugar onde meus pais viveram e estão enterrados; é onde meu filho estabeleceu sua própria família e onde a maioria dos meus amigos mais antigos e queridos vive. Conhecendo o país por dentro e tendo acompanhado os eventos ainda mais de perto desde 7 de outubro, eu não me surpreendi completamente com o que encontrei ao retornar [recentemente], mas ainda assim foi profundamente perturbador.
Ao refletir sobre essas questões, não posso deixar de recorrer à minha experiência pessoal e profissional. Servi nas Forças de Defesa de Israel (Tzahal) por quatro anos, um período que incluiu a Guerra do Yom Kippur em 1973, patrulhas na Cisjordânia, no norte do Sinai e em Gaza, terminando como comandante de uma companhia de infantaria. Durante meu tempo em Gaza, testemunhei em primeira mão a pobreza e o desespero dos refugiados palestinos sobrevivendo em bairros superlotados e degradados. Mais vividamente, lembro-me de patrulhar as ruas sombrias e silenciosas da cidade egípcia de El Arīsh — então ocupada por Israel — perfuradas pelos olhares da população temerosa e ressentida nos observando por trás de suas janelas fechadas. Pela primeira vez, entendi o que significava dominar outro povo.
O serviço militar é obrigatório para os judeus israelenses quando completam 18 anos — embora haja algumas exceções —, mas mesmo depois você ainda pode ser convocado novamente para servir no exército, seja para treinamento ou deveres operacionais, ou em caso de emergência, tal como uma guerra. Quando fui convocado em 1976, eu era um estudante de graduação na Universidade de Tel Aviv. Durante essa primeira convocação como oficial da reserva, fui gravemente ferido em um acidente de treinamento, junto com vários dos meus soldados. O exército encobriu as circunstâncias desse evento, que foi causado pela negligência do comandante da base de treinamento. Passei a maior parte daquele primeiro semestre no hospital de Be’er Sheva, mas retornei aos meus estudos, formando-me em 1979 com especialização em história.
Essas experiências pessoais me deixaram ainda mais interessado em uma questão que há muito me ocupava: o que motiva os soldados a lutar? Nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, muitos sociólogos americanos argumentaram que os soldados lutam primeiro e principalmente uns pelos outros, e não por algum objetivo ideológico maior. Mas isso não se encaixava bem com o que eu havia experimentado como soldado: nós acreditávamos que estávamos nisso por uma causa maior que ultrapassava nosso grupo de amigos. Quando completei minha graduação, também comecei a me perguntar se, em nome dessa causa, os soldados poderiam ser levados a agir de maneiras que de outra forma considerariam repreensíveis.
Tomando o caso extremo, escrevi minha tese de doutorado em Oxford, posteriormente publicada como livro, sobre a doutrinação nazista do exército alemão e os crimes que ele perpetrou na frente oriental durante a Segunda Guerra Mundial. O que descobri contrariava a forma como os alemães dos anos 1980 entendiam seu passado. Eles preferiam pensar que o exército havia lutado uma guerra "decente", mesmo enquanto a Gestapo e a SS perpetravam o genocídio pelas costas, por assim dizer. Os alemães levaram muitos anos para perceber o quanto seus próprios pais e avós foram cúmplices do Holocausto e do assassinato em massa de muitos outros grupos no leste da Europa e na União Soviética.
Quando a primeira intifada palestina, ou levante, eclodiu no final de 1987, eu estava lecionando na Universidade de Tel Aviv. Fiquei horrorizado com a instrução de Yitzhak Rabin, então ministro da defesa, ao exército, para “quebrar os braços e pernas” dos jovens palestinos que atiravam pedras em tropas fortemente armadas. Escrevi uma carta a ele alertando que, com base em minha pesquisa sobre a doutrinação das forças armadas da Alemanha nazista, temia que, sob sua liderança, o exército estivesse seguindo um caminho igualmente perigoso.
Como minha pesquisa havia mostrado, mesmo antes de serem recrutados, jovens alemães haviam internalizado elementos centrais da ideologia nazista, especialmente a visão de que as massas eslavas subumanas, lideradas por judeus bolcheviques insidiosos, estavam ameaçando a Alemanha e o resto do mundo civilizado com a destruição, e que, portanto, a Alemanha tinha o direito e o dever de criar para si um “espaço vital” no leste e de dizimar ou escravizar a população daquela região. Essa visão de mundo era então ainda mais incutida nas tropas, de modo que, quando marcharam para a União Soviética, percebiam seus inimigos através desse prisma. A feroz resistência do Exército Vermelho apenas confirmava a necessidade de destruir completamente soldados e civis soviéticos, e especialmente os judeus, vistos como os principais instigadores do bolchevismo. Quanto mais destruição causavam, mais temerosas as tropas alemãs ficavam da vingança que poderiam esperar se seus inimigos prevalecessem. O resultado foi o assassinato de até 30 milhões de soldados e
cidadãos soviéticos.
Para minha surpresa, alguns dias após escrever para ele, recebi uma resposta de uma linha de Rabin, repreendendo-me por ousar comparar Tzahal ao exército alemão. Isso me deu a oportunidade de escrever-lhe uma carta mais detalhada, explicando minha pesquisa e minha ansiedade sobre o uso de Tzahal como uma ferramenta de opressão contra civis ocupados e desarmados. Rabin respondeu novamente, com a mesma afirmação: "Como você ousa comparar Tzahal à Wehrmacht?" Mas, em retrospecto, acredito que essa troca revelou algo sobre sua jornada intelectual subsequente. Pois, como sabemos de seu envolvimento posterior no processo de paz de Oslo, por mais falho que tenha sido, ele acabou reconhecendo que, a longo prazo, Israel não poderia sustentar o preço militar, político e moral da ocupação.
Desde 1989, tenho lecionado nos Estados Unidos. Escrevi profusamente sobre guerra, genocídio, nazismo, antissemitismo e o Holocausto, buscando entender as ligações entre o assassinato industrial de soldados na Primeira Guerra Mundial e o extermínio de populações civis pelo regime de Hitler. Entre outros projetos, passei muitos anos pesquisando a transformação da cidade natal da minha mãe — Buchach, na Polônia (agora Ucrânia) — de uma comunidade de coexistência interétnica em uma onde, sob a ocupação nazista, a população gentia se voltou contra seus vizinhos judeus. Enquanto os alemães chegaram à cidade com o objetivo expresso de assassinar seus judeus, a velocidade e eficiência do assassinato foram grandemente facilitadas pela colaboração local. Esses cidadãos locais eram motivados por ressentimentos e ódios pré-existentes, que podem ser rastreados até o surgimento do etnonacionalismo nas décadas anteriores, e a visão prevalecente de que os judeus não pertenciam aos novos Estados-nação criados após a Primeira Guerra Mundial.
Nos meses posteriores ao 7 de outubro, o que aprendi ao longo da minha vida e carreira se tornou mais dolorosamente relevante do que nunca. Como muitos outros, achei esses últimos meses emocional e intelectualmente desafiadores. Como muitos outros, membros da minha própria família e das famílias de meus amigos também foram diretamente afetados pela violência. Não há escassez de tristeza onde quer que você olhe.
O ataque do Hamas em 7 de outubro foi um tremendo choque para a sociedade israelense, do qual ela ainda não começou a se recuperar. Foi a primeira vez que Israel perdeu o controle de parte de seu território por um período prolongado, com o exército incapaz de impedir o massacre de mais de 1.200 pessoas — muitas mortas das maneiras mais cruéis imagináveis — e a captura de mais de 200 reféns, incluindo dezenas de crianças. A sensação de abandono pelo Estado e de insegurança contínua — com dezenas de milhares de cidadãos israelenses ainda deslocados de suas casas ao longo da Faixa de Gaza e na fronteira com o Líbano — é profunda.
Hoje, em vastas parcelas do público israelense, incluindo aqueles que se opõem ao governo, dois sentimentos reinam supremos.
O primeiro é uma combinação de raiva e medo, um desejo de restabelecer a segurança a qualquer custo e uma completa desconfiança em soluções políticas, negociações e reconciliação. O teórico militar Carl von Clausewitz observou que a guerra era a continuação da política por outros meios e alertou que, sem um objetivo político definido, ela levaria a uma destruição ilimitada. O sentimento que agora prevalece em Israel ameaça igualmente transformar a guerra em seu próprio fim. Nessa visão, a política é um obstáculo para alcançar objetivos, em vez de um meio para limitar a destruição. Essa é uma visão que só pode, em última análise, levar à autoaniquilação.
O segundo sentimento reinante — ou melhor, a falta de sentimento — é o outro lado da mesma moeda. É a completa incapacidade da sociedade israelense hoje de sentir qualquer empatia pela população de Gaza. A maioria, ao que parece, nem quer saber o que está acontecendo em Gaza, e esse desejo se reflete na cobertura televisiva. Os noticiários israelenses hoje geralmente começam com reportagens sobre os funerais de soldados, invariavelmente descritos como heróis, mortos nos combates em Gaza, seguidos por estimativas de quantos combatentes do Hamas foram “liquidados”. Referências às mortes de civis palestinos são raras e normalmente apresentadas como parte da propaganda inimiga ou como causa de pressão internacional indesejada. Diante de tantas mortes, esse silêncio ensurdecedor agora parece sua própria forma de vingança.
Claro, o público israelense há muito se acostumou à ocupação brutal que caracterizou o país por 57 dos 76 anos de sua existência. Mas a escala do que está sendo perpetrado em Gaza agora pelo exército é sem precedentes, assim como a completa indiferença da maioria dos israelenses ao que está sendo feito em seu nome. Em 1982, centenas de milhares de israelenses protestaram contra o massacre da população palestina nos campos de refugiados de Sabra e Chatila, no oeste de Beirute, por milícias cristãs maronitas, facilitado pelo exército. Hoje, esse tipo de resposta é inconcebível. O modo como os olhos das pessoas se torna indiferente sempre que se menciona o sofrimento dos civis palestinos, e as mortes de milhares de crianças, mulheres e idosos, é profundamente perturbadora.
Encontrando meus amigos em Israel desta vez, frequentemente senti que eles estavam com medo de que eu pudesse perturbar seu luto e que, vivendo fora do país, eu não poderia compreender sua dor, ansiedade, perplexidade e impotência. Qualquer sugestão de que viver no país os havia insensibilizado à dor dos outros — a dor que, afinal, estava sendo infligida em seu nome — só produzia um muro de silêncio, um recuo para dentro de si mesmos ou uma rápida mudança de assunto. A impressão que tive foi consistente: não temos espaço em nossos corações, não temos espaço em nossos pensamentos, não queremos falar ou ver o que nossos próprios soldados, nossos filhos ou netos, nossos irmãos e irmãs estão fazendo agora em Gaza. Devemos nos concentrar em nós mesmos, em nosso trauma, medo e raiva.
Em uma entrevista realizada em 7 de março de 2024, o escritor, agricultor e cientista Zeev Smilansky expressou esse mesmo sentimento de uma maneira que achei chocante, precisamente porque veio dele. Conheço Smilansky há mais de meio século, e ele é filho do celebrado autor israelense S. Yizhar, cuja novela de 1949 Khirbet Khizeh foi o primeiro texto na literatura israelense a confrontar a injustiça da Nakba, a expulsão de 750.000 palestinos do que se tornou o Estado de Israel em 1948. Falando sobre seu próprio filho, Ofer, que vive em Bruxelas, Smilansky comentou:
“Ofer diz que para ele toda criança é uma criança, não importa se está em Gaza ou aqui. Eu não me sinto como ele. Nossas crianças aqui são mais importantes para mim. Há um desastre humanitário chocante lá, eu entendo isso, mas meu coração está bloqueado e cheio de nossas crianças e nossos reféns… Não há espaço no meu coração para as crianças em Gaza, por mais chocante e aterrorizante que seja, mesmo sabendo que a guerra não é a solução.”
“Eu escuto Maoz Inon, que perdeu ambos os pais [assassinados pelo Hamas em 7 de outubro]… e que fala de forma tão bonita e persuasiva sobre a necessidade de olhar para frente, que precisamos trazer esperança e querer paz, porque as guerras não vão resolver nada, e eu concordo com ele. Concordo com ele, mas não consigo encontrar força no meu coração, com todas as minhas inclinações esquerdistas e amor pela humanidade, eu não consigo… Não é só o Hamas, são todos os gazenses que concordam que está tudo bem matar crianças judias, que essa é uma causa digna… Com a Alemanha houve reconciliação, mas eles se desculparam e pagaram reparações, e o que [acontecerá] aqui? Nós também fizemos coisas terríveis, mas nada que se compare ao que aconteceu aqui em 7 de outubro. Será necessário reconciliar, mas precisamos de algum distanciamento.”
Esse era um sentimento generalizado entre muitos amigos e conhecidos de esquerda e liberais com quem conversei em Israel. Era, claro, muito diferente do que políticos e figuras da mídia de direita têm dito desde 7 de outubro. Muitos dos meus amigos reconhecem a injustiça da ocupação e, como Smilansky disse, professam um “amor pela humanidade”. Mas, neste momento, nessas circunstâncias, não é nisso que estão focados. Em vez disso, eles sentem que, na luta entre justiça e existência, a existência deve vencer, e na luta entre uma causa justa e outra — a dos israelenses e a dos palestinos — é nossa própria causa que deve triunfar, não importa o preço. Para aqueles que duvidam dessa escolha dura, o Holocausto é apresentado como a alternativa, por mais irrelevante que seja para o momento atual.
Esse sentimento não apareceu repentinamente em 7 de outubro. Suas raízes são muito mais profundas.
Em 30 de abril de 1956, Moshe Dayan, então chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, fez um breve discurso que se tornaria um dos mais famosos da história de Israel. Ele estava se dirigindo aos enlutados no funeral de Ro’i Rothberg, um jovem oficial de segurança do recém-fundado kibutz Nahal Oz, estabelecido pelo exército em 1951 e que se tornou uma comunidade civil dois anos depois. O kibutz estava localizado a apenas algumas centenas de metros da fronteira com a Faixa de Gaza, de frente para o bairro palestino de Shuja’iyya.
Rothberg havia sido morto no dia anterior, e seu corpo foi arrastado pela fronteira e mutilado, antes de ser devolvido às mãos israelenses com a ajuda das Nações Unidas. O discurso de Dayan se tornou uma declaração icônica, usada tanto pela direita quanto pela esquerda política até hoje:
“Ontem de manhã Ro’i foi assassinado. Ofuscado pela calma da manhã, ele não viu aqueles que esperavam em emboscada na borda do sulco. Não vamos acusar os assassinos hoje. Por que deveríamos culpá-los por seu ódio ardente por nós? Por oito anos eles têm morado nos campos de refugiados de Gaza, enquanto diante de seus olhos transformamos a terra e as aldeias em que eles e seus antepassados viveram em nossa própria propriedade.”
“Não devemos buscar o sangue de Ro’i nos árabes em Gaza, mas em nós mesmos. Como fechamos os olhos e não enfrentamos diretamente nosso destino, não enfrentamos a missão de nossa geração em toda a sua crueldade? Esquecemos que esse grupo de jovens, que habita em Nahal Oz, está carregando sobre seus ombros os pesados portões de Gaza, do outro lado dos quais se aglomeram centenas de milhares de olhos e mãos orando por nosso momento de fraqueza, para que possam nos despedaçar — será que esquecemos isso?…”
“Somos a geração do assentamento; sem um capacete de aço e o cano de um canhão, não poderemos plantar uma árvore e construir uma casa. Nossos filhos não terão vida se não cavarmos abrigos, e sem arame farpado e metralhadoras não poderemos pavimentar estradas e cavar poços de água. Milhões de judeus que foram exterminados porque não tinham terra estão nos olhando das cinzas da história israelense e nos ordenando que nos estabeleçamos e ressuscitemos uma terra para nosso povo. Mas além do sulco da fronteira, um oceano de ódio e um desejo de vingança se ergue, esperando pelo momento em que a calma embotará nossa prontidão, pelo dia em que daremos ouvidos aos embaixadores da hipocrisia conspiratória, que nos pedem para abaixar nossas armas…”
“Não vamos recuar diante do ódio que acompanha e preenche a vida de centenas de milhares de árabes que moram ao nosso redor e esperam o momento em que poderão derramar nosso sangue. Não vamos desviar os olhos para que nossas mãos não enfraqueçam. Este é o destino de nossa geração. Esta é a escolha de nossas vidas – estar prontos, armados, fortes e resistentes. Pois se a espada cair de nosso punho, nossas vidas serão ceifadas.”
No dia seguinte, Dayan gravou seu discurso para a rádio israelense. Mas algo estava faltando. Desapareceu a referência aos refugiados assistindo os judeus cultivarem as terras das quais haviam sido expulsos, que não deveriam ser culpados por odiar seus desapossadores. Embora ele tivesse dito essas linhas no funeral e as escrito posteriormente, Dayan escolheu omiti-las da versão gravada. Ele também conhecera essa terra antes de 1948. Ele lembrava das aldeias e cidades palestinas que foram destruídas para dar lugar aos colonos judeus. Ele claramente entendia a raiva dos refugiados do outro lado da cerca. Mas ele também acreditava firmemente tanto no direito quanto na necessidade urgente de assentamento e soberania judaica. Na luta entre abordar a injustiça e tomar a terra, ele escolheu seu lado, sabendo que isso condenava seu povo a depender para sempre da arma. Dayan também sabia muito bem o que o público israelense poderia aceitar. Foi por causa de sua ambivalência sobre onde estavam a culpa e a responsabilidade pela injustiça e violência, e sua visão determinista e trágica da história, que as duas versões de seu discurso acabaram apelando para orientações políticas vastamente diferentes.
Décadas depois, após muito mais guerras e rios de sangue, Dayan intitulou seu último livro Shall the Sword Devour Forever? (A espada devorará para sempre?). Publicado em 1981, o livro detalhava seu papel na conquista de um acordo de paz com o Egito dois anos antes. Ele finalmente havia aprendido a verdade da segunda parte do versículo bíblico do qual tirou o título do livro: “Não sabes que no final haverá amargura?”
Mas em seu discurso de 1956, com suas referências a carregar os pesados portões de Gaza e os palestinos esperando por um momento de fraqueza, Dayan estava aludindo à história bíblica de Sansão. Como seus ouvintes lembrariam, Sansão, o israelita, cuja força sobre-humana derivava de seus longos cabelos, tinha o hábito de visitar prostitutas em Gaza. Os filisteus, que o viam como seu inimigo mortal, esperavam emboscá-lo contra os portões trancados da cidade. Mas Sansão simplesmente levantou os portões sobre seus ombros e saiu livre. Foi apenas quando sua amante Dalila o enganou e cortou seus cabelos que os filisteus puderam capturá-lo e aprisioná-lo, tornando-o ainda mais impotente ao arrancar seus olhos (como os gazenses que mutilaram Ro’i são acusados de ter feito também). Mas em um último ato de bravura, enquanto é zombado por seus captores, Sansão pede a ajuda de Deus, agarra os pilares do templo para o qual havia sido levado e o derruba sobre a multidão alegre ao seu redor, gritando: “Que eu morra com os filisteus!”
Esses portões de Gaza estão profundamente arraigados no imaginário sionista israelense, um símbolo da divisão entre nós e os “bárbaros”. No caso de Ro’i, Dayan afirmou: “O anseio pela paz tapou seus ouvidos, e ele não ouviu a voz do assassinato esperando na emboscada. Os portões de Gaza pesaram demais sobre seus ombros e o derrubaram.”
Em 8 de outubro de 2023, o presidente Isaac Herzog se dirigiu ao público israelense, citando a última linha do discurso de Dayan: "Este é o destino de nossa geração. Esta é a escolha de nossas vidas — estar prontos, armados, fortes e resistentes. Pois se a espada cair de nosso punho, nossas vidas serão ceifadas." No dia anterior, 67 anos após a morte de Ro’i, militantes do Hamas haviam assassinado 15 residentes do kibutz Nahal Oz e levado oito reféns. Desde a invasão retaliatória de Israel a Gaza, o bairro palestino de Shuja’iyya em frente ao kibutz, onde 100.000 pessoas viviam, foi esvaziado de sua população e transformado em uma vasta pilha de escombros.
Uma das raras tentativas literárias de expor a lógica sombria das guerras de Israel é o extraordinário poema de Anadad Eldan, de 1971, intitulado Sansão Rasgando Suas Roupas, no qual esse antigo herói hebreu invade e sai de Gaza, deixando apenas desolação em seu rastro. Conheci esse poema pela primeira vez no excelente ensaio em hebraico de Arie Dubnov, “Os Portões de Gaza”, publicado em janeiro de 2024. Sansão, o herói, o profeta, o subjugador do eterno inimigo da nação, é transformado em seu anjo da morte, uma morte que, como lembramos, ele acaba trazendo também para si mesmo em uma grande ação suicida que ecoou através das gerações até os dias de hoje.
Quando fui
a Gaza, encontrei
Sansão saindo rasgando suas roupas
em seu rosto arranhado, rios fluíam
e as casas se curvavam para deixá-lo
passar
suas dores arrancaram árvores e ficaram presas nas
raízes
emaranhadas. Nas raízes havia fios de seu
cabelo.
Sua cabeça brilhava como um crânio feito de rocha
e seus passos vacilantes rasgaram minhas lágrimas
Sansão caminhava arrastando um sol cansado
vidros quebrados e correntes no mar de Gaza
se afogaram. Eu ouvi como
a terra gemia sob seus passos,
como ele rasgava suas entranhas. Os sapatos de Sansão
chilreavam quando ele caminhava.
Nascido na Polônia em 1924 como Avraham Bleiberg, Eldan veio para a Palestina quando criança, lutou na guerra de 1948 e, em 1960, mudou-se para o kibutz Be’eri, a cerca de 4 km da Faixa de Gaza. Em 7 de outubro de 2023, Eldan, de 99 anos, e sua esposa sobreviveram ao massacre de cerca de cem habitantes do kibutz, quando os militantes que entraram em sua casa inexplicavelmente os pouparam.
Após 7 de outubro, na sequência da sobrevivência milagrosa deste poeta obscuro, uma obra diferente sua foi amplamente partilhada nos meios de comunicação israelenses. Pois parecia que Eldan, um cronista de longa data da tristeza e da dor causadas pela opressão e pela injustiça, tinha previsto a catástrofe que se abateu sobre a sua casa. Em 2016, ele publicou uma coleção de poemas intitulada Six the Hour of Dawn (Seis, a hora do amanhecer). Essa foi a hora em que começou o ataque do Hamas. O livro contém o poema angustiante On the Walls of Be’eri, que lamenta a morte de sua filha por doença (em hebraico, o nome do kibutz também significa “meu poço”).
Após o dia 7 de outubro, o poema parece estranhamente prever a destruição e transmitir uma certa visão do sionismo, como originário da catástrofe e do desespero da diáspora, levando a nação a uma terra amaldiçoada onde as crianças são enterradas pelos pais, mas mantendo a esperança de um novo e promissor amanhecer:
Nas paredes de Be’eri, escrevi sua história
desde as origens e profundezas desgastadas pelo frio
quando leram o que estava acontecendo com dor e suas luzes
caíram na névoa e na escuridão da noite e um uivo gerou
oração, pois seus filhos caíram e uma porta está trancada
pela graça do céu eles respiram desolação e tristeza
quem consolará pais inconsoláveis, pois uma maldição
está sussurrando que não haja orvalho nem chuva, você pode chorar se puder
há um tempo em que a escuridão ruge, mas há amanhecer e brilho
Assim como o elogio fúnebre de Dayan para Ro’i, On the Walls of Be’eri tem significados diferentes para pessoas diferentes. Deve ser lido como um lamento pela destruição de um kibutz bonito e inocente no deserto, ou é um grito de dor pela vingança sangrenta sem fim entre os dois povos desta terra? O poeta não nos disse seu significado, como é costume dos poetas. Afinal, ele escreveu isso há anos, em luto por sua amada filha. Mas, considerando seus muitos anos de trabalho silencioso, preciso e pungente, não parece fantasioso acreditar que o poema foi um apelo à reconciliação e à coexistência, em vez de mais ciclos de derramamento de sangue e vingança.
Por acaso, tenho uma ligação pessoal com o kibutz Be’eri. É onde minha nora cresceu, e minha viagem a Israel em junho foi principalmente para visitar os gêmeos — meus netos — que ela trouxe ao mundo em janeiro de 2024. O kibutz, porém, havia sido abandonado. Meu filho, minha nora e seus filhos se mudaram para um apartamento vazio nas proximidades com uma família de sobreviventes — parentes próximos, cujo pai ainda está sendo mantido como refém —, criando uma combinação inimaginável de nova vida e tristeza inconsolável em uma única casa.
Além de ver a família, eu também tinha vindo a Israel para encontrar amigos. Esperava entender o que havia acontecido no país desde o início da guerra. A palestra abortada na Universidade de Ben-Gurion não estava no topo da minha agenda. Mas assim que cheguei à sala de aula naquele dia de meados de junho, rapidamente compreendi que essa situação explosiva também poderia fornecer algumas pistas para entender a mentalidade de uma geração mais jovem de estudantes e soldados.
Depois que nos sentamos e começamos a conversar, ficou claro para mim que os estudantes queriam ser ouvidos e que ninguém, talvez nem mesmo seus próprios professores e administradores da universidade, estava interessado em ouvi-los. Minha presença e o conhecimento vago que eles tinham de minhas críticas à guerra despertaram neles a necessidade de explicar para mim, mas talvez também para si mesmos, o que eles estavam fazendo como soldados e cidadãos.
Uma jovem, recém-chegada de um longo serviço militar em Gaza, subiu ao palco e falou com veemência sobre os amigos que havia perdido, a natureza maligna do Hamas e o fato de que ela e seus companheiros estavam se sacrificando para garantir a segurança futura do país. Profundamente perturbada, ela começou a chorar no meio do discurso e desceu do palco. Um jovem, calmo e articulado, rejeitou minha sugestão de que as críticas às políticas israelenses não eram necessariamente motivadas pelo antissemitismo. Em seguida, ele fez uma breve pesquisa sobre a história do sionismo como resposta ao antissemitismo e como um caminho político que nenhum gentio tinha o direito de negar. Embora estivessem chateados com minhas opiniões e agitados por suas próprias experiências recentes em Gaza, as opiniões expressas pelos alunos não eram de forma alguma excepcionais. Elas refletiam uma parcela muito maior da opinião pública em Israel.
Sabendo que eu havia alertado anteriormente sobre o genocídio, os alunos estavam especialmente interessados em me mostrar que eram humanos, que não eram assassinos. Eles não tinham dúvidas de que as Forças de Defesa de Israel eram, de fato, o exército mais moral do mundo. Mas também estavam convencidos de que qualquer dano causado às pessoas e aos edifícios em Gaza era totalmente justificado, que tudo era culpa do Hamas por usá-los como escudos humanos.
Eles me mostraram fotos em seus celulares para provar que haviam se comportado admiravelmente com as crianças, negaram que houvesse fome em Gaza e insistiram que a destruição sistemática de escolas, universidades, hospitais, prédios públicos, residências e infraestrutura era necessária e justificável. Eles viam qualquer crítica às políticas israelenses por outros países e pelas Nações Unidas como simplesmente antissemita.
Ao contrário da maioria dos israelenses, esses jovens tinham visto a destruição de Gaza com seus próprios olhos. Pareceu-me que eles não apenas internalizaram uma visão particular que se tornou comum em Israel — a saber, que a destruição de Gaza como tal foi uma resposta legítima ao 7 de outubro —, mas também desenvolveram uma maneira de pensar que eu havia observado muitos anos atrás, quando estudava a conduta, a visão de mundo e a autopercepção dos soldados do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Tendo internalizado certas visões do inimigo — os bolcheviques como Untermenschen; o Hamas como animais humanos — e da população em geral como menos que humanos e indignos de direitos, os soldados que observam ou cometem atrocidades tendem a atribuí-las não ao seu próprio exército, ou a si mesmos, mas ao inimigo.
Milhares de crianças foram mortas? A culpa é do inimigo. Nossas próprias crianças foram mortas? Certamente a culpa é do inimigo. Se o Hamas comete um massacre em um kibutz, eles são nazistas. Se lançamos bombas de 2.000 libras em abrigos de refugiados e matamos centenas de civis, a culpa é do Hamas por se esconder perto desses abrigos. Depois do que eles fizeram conosco, não temos escolha a não ser exterminá-los. Depois do que fizemos a eles, só podemos imaginar o que eles fariam conosco se não os destruíssemos. Simplesmente não temos escolha.
Em meados de julho de 1941, poucas semanas depois de a Alemanha ter lançado o que Hitler proclamou ser uma “guerra de aniquilação” contra a União Soviética, um suboficial alemão escreveu para casa a partir da frente oriental:
O povo alemão tem uma grande dívida com nosso Führer, pois se essas feras, que são nossos inimigos aqui, tivessem vindo para a Alemanha, teriam ocorrido assassinatos que o mundo nunca viu antes… O que vimos… beira o inacreditável… E quando se lê Der Stürmer [um jornal nazista] e se olha as fotos, isso é apenas uma fraca ilustração do que vemos aqui e dos crimes cometidos aqui pelos judeus.
Um panfleto de propaganda do exército publicado em junho de 1941 pinta um quadro igualmente assustador dos oficiais políticos do Exército Vermelho, que muitos soldados logo perceberam como um reflexo da realidade:
Qualquer um que já tenha olhado para o rosto de um comissário vermelho sabe como são os bolcheviques. Aqui não há necessidade de expressões teóricas. Insultaríamos os animais se descrevêssemos esses homens, em sua maioria judeus, como bestas. Eles são a personificação do ódio satânico e insano contra toda a nobre humanidade… [Eles] teriam posto fim a toda a vida significativa, se essa erupção não tivesse sido contida no último momento.
Dois dias após o ataque do Hamas, o ministro da Defesa Yoav Gallant declarou: “Estamos lutando contra animais humanos e devemos agir de acordo”, acrescentando mais tarde que Israel “destruiria um bairro após o outro em Gaza”. O ex-primeiro-ministro Naftali Bennett confirmou: “Estamos lutando contra nazistas”. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu exortou os israelenses a “lembrarem o que Amalek fez com vocês”, aludindo ao apelo bíblico para exterminar “homens e mulheres, crianças e bebês” de Amalek. Em uma entrevista de rádio, ele disse sobre o Hamas: “Não os chamo de animais humanos porque isso seria um insulto aos animais”. O vice- presidente do Knesset, Nissim Vaturi, escreveu no X que o objetivo de Israel deveria ser “apagar a Faixa de Gaza da face da Terra”. Na TV israelense, ele afirmou: “Não há pessoas não envolvidas”.
Na televisão israelense, ele afirmou: “Não há pessoas não envolvidas… devemos entrar lá e matar, matar, matar. Devemos matá-los antes que eles nos matem”. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, enfatizou em um discurso: “O trabalho deve ser concluído… Destruição total. ‘Apague a memória de Amalek debaixo do céu’”. Avi Dichter, ministro da Agricultura e ex-chefe do serviço de inteligência Shin Bet, falou sobre “lançar a Nakba de Gaza”. Um veterano militar israelense de 95 anos, cujo discurso motivacional às tropas das Forças de Defesa de Israel (IDF) que se preparavam para a invasão de Gaza os exortava a “apagar sua memória, suas famílias, mães e filhos”, recebeu um certificado de honra do presidente israelense Herzog por “dar um exemplo maravilhoso para gerações de soldados”. Não é de se admirar que tenha havido inúmeras postagens nas redes sociais por tropas das Forças de Defesa de Israel em Gaza pedindo para “matar os árabes”, “queimar suas mães” e “arrasar” Gaza. Não se sabe de nenhuma ação disciplinar por parte de seus comandantes.
Essa é a lógica da violência sem fim, uma lógica que permite destruir populações inteiras e sentir-se totalmente justificado por isso. É uma lógica de vitimização – devemos matá-los antes que eles nos matem, como fizeram antes — e nada fortalece mais a violência do que um senso justo de vitimização. Veja o que aconteceu conosco em 1918, disseram os soldados alemães em 1942, lembrando o mito propagandístico da “facada nas costas”, que atribuía a catastrófica derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial à traição judaica e comunista. Veja o que aconteceu conosco no Holocausto, quando confiamos que outros viriam em nosso socorro, dizem as tropas das Forças de Defesa de Israel em 2024, dando a si mesmas licença para a destruição indiscriminada com base em uma falsa analogia entre o Hamas e os nazistas.
Os jovens com quem conversei naquele dia estavam cheios de raiva, não tanto contra mim — eles se acalmaram um pouco quando mencionei meu próprio serviço militar —, mas porque, eu acho, se sentiam traídos por todos ao seu redor. Traídos pela mídia, que eles consideravam muito crítica, pelos comandantes seniores que eles achavam muito lenientes com os palestinos, pelos políticos que não conseguiram impedir o fiasco de 7 de outubro, pela incapacidade das Forças de Defesa de Israel de alcançar a “vitória total”, pelos intelectuais e esquerdistas que os criticavam injustamente, pelo governo dos Estados Unidos por não fornecer munições suficientes com rapidez suficiente e por todos aqueles políticos europeus hipócritas e estudantes antissemitas que protestavam contra suas ações em Gaza. Eles pareciam assustados, inseguros e confusos, e alguns provavelmente também sofriam de TEPT.
Contei a eles a história de como, em 1930, o sindicato estudantil alemão foidemocraticamente tomado pelos nazistas. Os estudantes daquela época se sentiram traídos pela derrota na Primeira Guerra Mundial, pela perda de oportunidades devido à crise econômica e pela perda de terras e prestígio após o humilhante Tratado de Paz de Versalhes. Eles queriam tornar a Alemanha grande novamente, e Hitler parecia capaz de cumprir essa promessa. Os inimigos internos da Alemanha foram eliminados, sua economia floresceu, outras nações voltaram a temê-la e, então, ela entrou em guerra, conquistou a Europa e assassinou milhões de pessoas. Por fim, o país foi totalmente destruído. Perguntei em voz alta se talvez os poucos estudantes alemães que sobreviveram àqueles 15 anos se arrependeram de sua decisão em 1930 de apoiar o nazismo. Mas não acho que os jovens da BGU compreenderam as implicações do que eu lhes contei.
Os estudantes eram assustadores e assustados ao mesmo tempo, e seu medo os tornava ainda mais agressivos. Esse nível de ameaça, bem como um certo grau de coincidência de opiniões, parecia ter gerado medo e subserviência em seus superiores, professores e administradores, que demonstravam grande relutância em discipliná-los de qualquer forma. Ao mesmo tempo, uma série de comentaristas da mídia e políticos têm aplaudido esses anjos da destruição, chamando-os de heróis um momento antes de colocá-los no chão e virar as costas para suas famílias enlutadas. Os soldados mortos morreram por uma boa causa, dizem às famílias. Mas ninguém se dá ao trabalho de articular o que essa causa realmente é, além da mera sobrevivência por meio de cada vez mais violência.
E assim, também senti pena desses estudantes, que estavam tão inconscientes de como haviam sido manipulados. Mas saí daquela reunião cheio de apreensão e pressentimento.
Ao voltar para os Estados Unidos no final de junho, refleti sobre minhas experiências durante aquelas duas semanas confusas e perturbadoras. Eu estava consciente da minha profunda conexão com o país que havia deixado. Não se trata apenas da minha relação com minha família e amigos israelenses, mas também com o tom particular da cultura e da sociedade israelenses, caracterizadas pela falta de distância ou deferência. Isso pode ser reconfortante e revelador; é possível, quase instantaneamente, se envolver em conversas intensas, até mesmo íntimas, com outras pessoas na rua, em um café, em um bar.
No entanto, esse mesmo aspecto da vida israelense também pode ser infinitamente frustrante, já que há muito pouco respeito pelas convenções sociais. Existe quase um culto à sinceridade, uma obrigação de dizer o que se pensa, independentemente de com quem se está falando ou do quanto isso possa ofender. Essa expectativa compartilhada cria tanto um senso de solidariedade quanto limites que não podem ser ultrapassados. Quando você está conosco, somos todos uma família. Se você se voltar contra nós ou estiver do outro lado da divisão nacional, será excluído e pode esperar que vamos atrás de você.
Essa também pode ter sido a razão pela qual, desta vez, pela primeira vez, eu estava apreensivo em ir para Israel e por que parte de mim estava feliz por partir. O país havia mudado de maneiras visíveis e sutis, maneiras que poderiam ter criado uma barreira entre mim, como observador de fora, e aqueles que permaneceram como parte orgânica dele.
Mas outra parte da minha apreensão tinha a ver com o fato de que minha visão do que estava acontecendo em Gaza havia mudado. Em 10 de novembro de 2023, escrevi no New York Times: “Como historiador de genocídios, acredito que não há provas de que esteja ocorrendo um genocídio em Gaza, embora seja muito provável que estejamocorrendo crimes de guerra e até crimes contra a humanidade. […] Sabemos pela história que é crucial alertar sobre o potencial de genocídio antes que ele ocorra, em vez de condená-lo tardiamente depois que ele aconteceu. Acho que ainda temos tempo para isso.”
Não acredito mais nisso. Quando viajei para Israel, já estava convencido de que, pelo menos desde o ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF) a Rafah em 6 de maio de 2024, não era mais possível negar que Israel estava envolvido em crimes de guerra sistemáticos, crimes contra a humanidade e ações genocidas. Não foi apenas o fato de que esse ataque contra a última concentração de habitantes de Gaza — a maioria deles já deslocados várias vezes pelas Forças de Defesa de Israel, que agora mais uma vez os empurraram para uma chamada zona segura — demonstrou um total desrespeito por quaisquer padrões humanitários. Também indicava claramente que o objetivo final de toda essa empreitada, desde o início, era tornar toda a Faixa de Gaza inabitável e debilitar sua população a tal ponto que ela morresse ou buscasse todas as opções possíveis para fugir do território. Em outras palavras, a retórica proferida pelos líderes israelenses desde 7 de outubro estava agora se traduzindo em realidade — ou seja, como afirma a Convenção das Nações Unidas sobre Genocídio de 1948, Israel estava agindo “com a intenção de destruir, no todo ou em parte”, a população palestina em Gaza, “como tal, matando, causando danos graves ou impondo condições de vida destinadas a provocar a destruição do grupo”.
Essas eram questões que eu só podia discutir com um pequeno grupo de ativistas, acadêmicos, especialistas em direito internacional e, sem surpresa, cidadãos palestinos de Israel. Fora desse círculo limitado, tais declarações sobre a ilegalidade das ações israelenses em Gaza são um anátema em Israel. Mesmo a grande maioria dos manifestantes contra o governo, aqueles que pedem um cessar-fogo e a libertação dos reféns, não as toleram.
Desde que voltei da minha visita, tenho tentado colocar minhas experiências lá em um contexto mais amplo. A realidade no terreno é tão devastadora e o futuro parece tão sombrio que me permiti entregar-me a alguma história contrafactual e alimentar algumas especulações esperançosas sobre um futuro diferente. Pergunto-me: o que teria acontecido se o recém-criado Estado de Israel tivesse cumprido seu compromisso de promulgar uma constituição baseada em sua Declaração de Independência? Essa mesma declaração afirmava que Israel “será baseado na liberdade, justiça e paz, conforme previsto pelos profetas de Israel; garantirá completa igualdade de direitos sociais e políticos a todos os seus habitantes, independentemente de religião, raça ou sexo; garantirá liberdade de religião, consciência, idioma, educação e cultura; protegerá os Lugares Sagrados de todas as religiões; e será fiel aos princípios da Carta das Nações Unidas”.
Que efeito teria essa constituição sobre a natureza do Estado? Como teria moderado a transformação do sionismo de uma ideologia que buscava libertar os judeus da degradação do exílio e da discriminação e colocá-los em pé de igualdade com as outras nações do mundo, para uma ideologia estatal de etnonacionalismo, opressão dos outros, expansionismo e apartheid? Durante os poucos anos promissores do processo de paz de Oslo, o povo de Israel começou a falar em torná-lo um “Estado de todos os seus cidadãos”, judeus e palestinos. O assassinato do primeiro-ministro Rabin em 1995 pôs fim a esse sonho. Será que algum dia Israel conseguirá descartar os aspectos violentos, excludentes, militantes e cada vez mais racistas de sua visão, agora abraçada por tantos de seus cidadãos judeus?
Será que algum dia Israel conseguirá abandonar os aspectos violentos, excludentes, militantes e cada vez mais racistas da sua visão, tal como é agora abraçada por tantos dos seus cidadãos judeus? Será que algum dia conseguirá reimaginar-se tal como os seus fundadores tão eloquentemente o imaginaram — como uma nação baseada na liberdade, na justiça e na paz?
É difícil se entregar a tais fantasias no momento. Mas talvez precisamente por causa do nadir em que os israelenses, e muito mais os palestinos, se encontram agora, e da trajetória de destruição regional em que seus líderes os colocaram, eu rezo para que vozes alternativas finalmente se levantem. Pois, nas palavras do poeta Eldan, “há um tempo em que a escuridão ruge, mas há amanhecer e brilho”.
Publicado pelo The Guardian em 13 de agosto de 2024.
Omer Bartov é um historiador israelo-americano, professor Emérito de Estudos sobre o Holocausto e Genocídio na Brown University, onde leciona desde 2000. Eis algumas de suas publicações: Hitler’s Army: Soldiers, Nazis, and War in the Third Reich, Oxford Paperbacks, 1992; The Eastern Front, 1941–1945: German Troops and the Barbarization of Warfare, Palgrave Macmillan, 2001; Germany’s War and the Holocaust: Disputed Histories, Cornell University Press, 2003; Anatomy of a Genocide: The Life and Death of a Town Called Buczacz, Simon & Schuster, 2018.