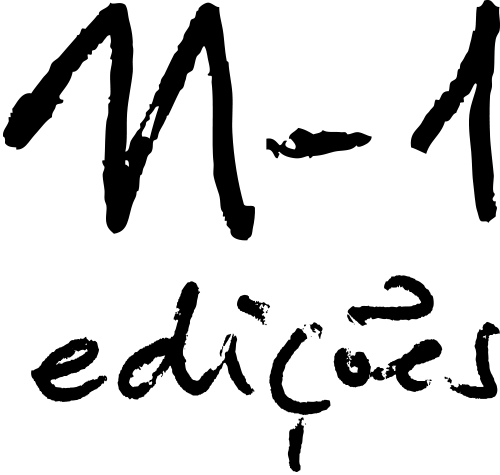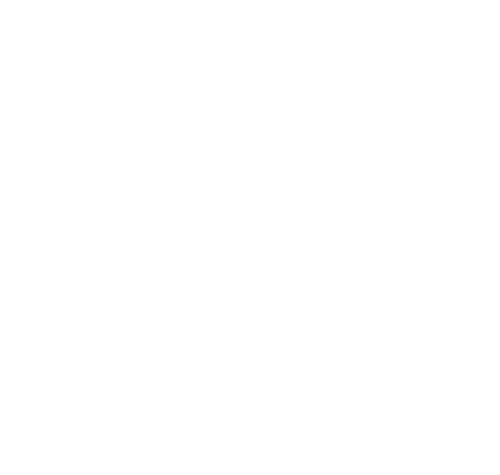De tanto falar em povo judeu, o século se tornou palestino. (Salvador Schavelzon)
Um fluxo molecular escapava, minúsculo no
começo, depois aumentando sem deixar de ser
inassinalável… No entanto, o inverso é também
verdadeiro: as fugas e os movimentos moleculares não
seriam nada se não repassassem pelas organizações
molares e não remanejassem seus segmentos, suas
distribuições binárias de sexos, de classes, de partidos.
Deleuze e Guattari, 1933 – Micropolítica e
segmentaridade¹
Em novembro de 2025, a Faixa de Gaza ainda testemunha a morte diária de muitos palestinos apesar do cessar-fogo tardiamente imposto a Israel por Trump. Netanyahu persiste na estratégia de evitar o julgamento político por corrupção, o que o levou a intensificar a investida destrutiva e, talvez, a propositalmente não reagir ao ataque do Hamas no 7 de outubro, como justificativa para a guerra. Paralelamente, a ocupação de colônias na Cisjordânia se expande. Portanto, a guerra prossegue, e a oposição em Israel permanece tímida.
A seguir tentaremos interpretar os movimentos (cosmo)políticos relacionados com o judaísmo que se tornam possíveis ou visíveis na atual situação. Comentar o livro O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocentrismo, de Bentzi Laor e Peter Pál Pelbart, pode ajudar a encontrar palavras sobre uma mudança de signo na posição que o povo judeu ocupa hoje, na diáspora e no Oriente Médio. Trata-se de pensar um pós-judaísmo que seja sem Estado e cosmopolítico, isto é, aberto ao cosmos e à terra, mas não à terra prometida, nem a dos palestinos.
A sensação predominante é de que a população israelense e os aliados globais do sionismo falharam em compreender o uso midiático dos reféns, instrumentalizados para silenciar a oposição ao genocídio em curso, planejado como nova fase das políticas coloniais – ou, pior, a ideia da expulsão dos palestinos como única alternativa, por segurança ou direito divino, como continuidade de décadas de subalternização. Tal postura, contudo, só alimentará mais conflitos, criando um ambiente insuportável na sociedade israelense e desmantelando, de uma vez por todas, qualquer mito sobre o caráter progressista do Estado de Israel e qualquer possibilidade de solução para judeus e palestinos a partir do Estado.
A destruição de Gaza e os ataques contra civis na Palestina e em outros países árabes dão prosseguimento a uma política de apartheid e ocupação de regiões não autorizadas pelo plano de partição da ONU de 1947.² Essa conduta é, portanto, ilegal, na base do mesmo direito que legitimou a criação do Estado de Israel, além de violar as convenções de Genebra sobre direito humanitário em conflitos armados. Porém, mais do que um direito estatal sempre parcial e manipulável, esse avanço fundamenta-se no programa da extrema direita que governa Israel e busca reconstruir a Grande Judeia bíblica. Não se trata apenas do processo tradicional de uma burguesia nacional construindo um Estado, mas de um “povo escolhido” impondo um mandado divino. É esse plano de discussão que também nos leva a pensar numa cosmopolítica como resposta de baixo a uma elite religiosa com poder político e que comanda uma limpeza étnica sem compromisso com um contexto afincado claramente na modernidade. A resposta cosmopolítica, inspirada em Stengers, Viveiros de Castro e outros, não é mais a da razão moderna, da ciência moderna, do progresso… trata-se de escapar de um poder e de um modelo de sociedade em decadência.
Para além do fanatismo e do mandato divino dos partidos religiosos que comandam a guerra, a gravidade da situação reside no acompanhamento silencioso, velado e resignado da maioria da população israelense e de judeus latino-americanos e apoiadores liberais do mundo todo, geralmente alinhados às diversas direitas, não apenas as extremas. Quando o mandado divino se combina com a própria vitimização e a estigmatização do vizinho, colocando a totalidade do povo palestino como ameaça pelo simples fato de ser palestino, qualquer raciocínio se torna sinônimo de aprovação religiosa ou política do sionismo – que deixa de ser um simples nacionalismo e se transmuta em força estatal em defesa de apartheid, limpeza étnica e genocídio.
O judeu pós-judeu
O sentido de judeu que sai do genocídio de Gaza acaba com o judeu do Holocausto, que construiu o Estado de Israel, assim como o judeu do Holocausto modificou o judeu da diáspora e do antissemitismo dos séculos anteriores. O novo judeu está em disputa e construção, e hoje parece se confirmar mais no lugar do supremacismo, da etnocracia da guerra, da venda de tecnologia militar e policial, do capitalismo e da amizade com a extrema direita libertária ou fascista do que em outras construções, positivas ou negativas, que acompanharam os últimos séculos da história do Ocidente. O livro de Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor é uma descrição desse panorama e também uma resposta.
Escrito rapidamente a quatro mãos durante os primeiros meses de intervenção militar israelense em Gaza, o livro agora ganha uma nova edição (com dois novos capítulos) a ser publicada ainda em novembro de 2025. Além de buscar entender a tragédia, a obra defende um caminho possível para o judaísmo, uma aposta na possibilidade de um “pós” que remete a um “pré” do judaísmo diaspórico, de um povo sem Estado, mas transformado por um século de pensamento e prática política de quem se reconhece de forma afirmativa ou opositora com essa tradição – e também das muitas formas em que esse elo foi e continua sendo rompido, para além da identidade e da tradição.
O prefixo “pós” estabelece uma relação ambígua com a coisa que modifica, sugere superação, mas não deixa de marcar certa relação de continuidade. É uma relação “crítica”, de oposição dentro de um mesmo código, evidenciado pela própria menção ao termo pretensamente superado. Se o objetivo fosse de oposição radical, podemos dizer que, em lugar de pós-judaísmo, outro termo precisaria ser inventado, como de fato ocorreu com aqueles que no último século se afastaram da coletividade judaica por casamento, opção de vida ou abandono militante dessa fé em busca de outros caminhos revolucionários ou de diversos secularismos no contexto do capitalismo e da modernidade.
Ao contrário do judaísmo de Estado, como mito supremacista que só se entende em um território, sem importar quem o ocupava anteriormente, o pós-judeu de Laor e Pál Pelbart se entende na proliferação. Se entendermos as forças de captura e territorialização que Deleuze, Foucault e Guattari associaram ao Estado e ao poder centralizado, entenderemos também como essa proliferação de diferenças se opõe a qualquer estrutura estatal, colonialismo e identidade como lugar essencialista, fixo ou imutável. O pós-judeu não se define pelo nascimento nem pela herança (cultural ou de qualquer tipo), é transformação autodeclarada: o Eu que se abre para o outro, o além, a antropofagia, a negação da negação, e a resposta de quem sai, deixa, foge ou se dispersa em lugar de expulsar ou se impor evangelizando e destruindo o que existia antes de sua chegada.
Em tempos de genocídio, a bifurcação entre dois judaísmos parece não deixar espaço para meios-termos: é abandonar o Estado como modo de existência e o colonialismo, devido à incapacidade de convívio de israelenses com palestinos; ou seguir o caminho que levou à guerra: a aproximação do sionismo com a extrema direita mundial, o projeto de Estado teocrático e a política de genocídio que foi preparada de forma explícita pelo menos nos últimos trinta anos.
Há uma possibilidade para o sionismo no capitalismo moderado liberal de inspiração democrática e não fascista? A guerra atual em Gaza mostra que isso já não é possível de ser pensado. Alguém acredita em Israel aceitando qualquer arranjo não supremacista e colonial? Como no fascismo histórico europeu, a extrema direita ganha rápido a consciência do burguês assustado, ao dizer do Brecht.
Em outubro de 2024 participei de uma conversa entre
Maniglier e Eduardo Viveiros de Castro sobre outro “pós”, estruturalista, com uma apresentação de Viveiros de Castro do livro A vida enigmática dos signos (Cultura e Barbárie, 2023), de Patrice Maniglier.³ Sentei por acaso na plateia ao lado de Peter Pál Pelbart, com quem comentei que tinha gostado de seu livro. Ele respondeu: “que bom, ninguém gostou”. Lembrei de um comentário após o primeiro lançamento do livro de Bentzi e Peter em abril de 2024, em São Paulo, quando alguém comentou que os amigos judeus do Peter que assistiam ao lançamento no terraço da Biblioteca Mário de Andrade estavam desconformes. De fato, o ambiente no judaísmo latino-americano tinha ficado difícil nos meses que se seguiram ao 7 de Outubro. No contexto da coletividade judaica atual, aparentemente vicissitudes atribuídas à modernidade, que podiam ser vistas como ameaças para o espírito de corpo judaico como casar com gói ou não acreditar em Deus, se tornaram algo muito mais bem recebido do que a falta de acompanhamento da defesa do sionismo e do Estado.
O que interpreto a seguir é como a leitura de Viveiros de Castro acerca do trabalho de Maniglier e as contribuições desses dois autores em relação ao estruturalismo podem ajudar a situar a transformação atual da tradição judaica. Sobre essa nova leitura que eles vêm fazendo sobre o estruturalismo, Maniglier usou a imagem nietzschiana de quem pega uma flecha no chão e a lança mais para a frente. Viveiros de Castro narrou o clima intelectual do começo do século XXI, quando ambos os autores se conheceram. O relativamente despercebido trabalho de Maniglier sobre Saussure se explica por um momento que podia ser descrito como de ocaso do estruturalismo, quando o cognitivismo, Pierce e a filosofia analítica viviam dias de glória, Viveiros explicava.
Mas, na etnologia ameríndia e na releitura do curso geral de Saussure, já borbulhava uma renovação “pós”- struturalista que os caminhos da virada ontológica em antropologia e a leitura ontológica do signo mostrariam como possibilidade. É Deleuze quem interfere aqui nessa conversa comum em um pós-estruturalismo que abandona o universalismo para se tornar imanentista, por um caminho possível após a leitura dos mitos indígenas que reinventam a antropologia quando esta permite que esses mitos sejam contados por si mesmos. Gaza também se deixa pensar pelo estruturalismo superado e descolonizado na resposta crítica do momento em que as vítimas da perseguição nazista fundam o Estado que transforma o árabe em “judeu”, o judeu em “nazista”, e um povo de artistas e revolucionários – como observa Enzo Traverso no Fim da modernidade judia – em figuras de Estado como Henry Kissinger e Benjamin Netanyahu.
É o estruturalismo das diferenças infinitesimais, dos desequilíbrios e da dimensão diacrônica que um primeiro estruturalismo parecia recusar – nas sociedades “frias” – que aparece aqui atualizado como na imagem de Saussure citada por Maniglier e lembrada por Viveiros de Castro, em que a língua francesa aparece não como descendendo do latim, mas como sua versão atual: “o latim tal como os gauleses o falam atualmente na França”. Não é o estado e sim o ato de falar que transformou o latim em italiano, espanhol ou francês, como no complexo mitológico ameríndio mapeado por Lévi-Strauss e relido também por Viveiros de Castro, com destaque para todas as ambiguidades, reversibilidades e formas transversais que recusam um caminho da natureza para a cultura em sentido único, que é o estruturalismo que aparece quando os ameríndios acabam tomando a palavra.
Numa dupla torção onde aparece a experiência com os povos indígenas sul-americanos de Lévi-Strauss, numa viagem de volta aos trópicos depois da experiência europeia do nazismo, é quando a estrutura encontra o espírito, a história, as coisas, em alianças mitopragmáticas em que, como dizem os povos andinos, o futuro não está à frente, mas atrás. Após uma ruptura dos dualismos, no estouro da multiplicidade, um novo estruturalismo – do devir indígena – vai além do sujeito kantiano e permite imaginar vozes judaicas dissidentes que certamente explicam a sensibilidade que se desenha por trás de gigantes formas arquiteturais modernas construídas por autores como Lévi-Strauss, Freud e Marx.
É aqui que o estruturalismo, o marxismo, o judaísmo, a psicanálise e a antropologia se encontram com o pensamento selvagem, longe do Estado e do desenvolvimento das forças produtivas, mas também transformados pela revolução iniciada por operários e estudantes na Europa e em outros lugares nos últimos anos da década de 1960. Deleuze e Guattari fazem um balanço pós-estruturalista dessa época nos seus livros sobre capitalismo e esquizofrenia, que, para Michel Foucault,⁴ permite ver Marx e Freud “iluminados pela mesma incandescência”. No prefácio que Foucault escreve para a edição norte-americana de O anti Édipo, ele se refere à revolução molecular desses anos como de “júbilo e enigma”; e a derrota norte-americana em Vietnã como o “primeiro grande golpe desferido contra os poderes constituídos”. Esse momento de renovação das linguagens teóricas, com a recuperação de autores como Reich e do surrealismo, diz Foucault, estão no núcleo generativo que encontramos nesses autores e também, consecutivamente, na proposta de Laor e Pál Pelbart.
Não se trata de pensar o judaísmo a partir do Deleuze, nem de encontrar Deleuze, Guattari e Viveiros de Castro no pensamento judeu ou dos índios amazônicos – Peter Pál Pelbart tem conversado com Viveiros de Castro sobre a equivocação acusatória dos “índios deleuzianos”⁵. Tem mais a ver com entender movimentos afins, tendências e desterritorializacões parecidas, no enfrentamento com o estado e nos devires que evidenciam formas de funcionamento não modernas, não adequadas aos consensos de uma história estacionada, reverberações e dissidências que a través dos séculos se revisitam. Para Foucault, essa leitura que revisa todo o pensamento contemporâneo à luz da revolta de 68 “nos incita a ir mais longe”.
É nessa chave que entendemos o pós-judaísmo, inclusive de quem nunca foi judeu, recuperando o sentido do contrastando e o nomadismo que Deleuze e Guattari tomam das pesquisas com os guayaki (Aché) de Pierre Clastres, para transformar em um dispositivo que aparece em todo tempo e lugar. Também com afinidade contra estatal, Bentzi e Pál Pelbart trazem a imagem cabalística do Tsimtsum, traduzido como contração ou retração, pela qual Deus, em uma leitura do século XVI, se retira do poder para permitir a vida, limitando o próprio poder (p. 219-220).
No comentário sobre o percurso do pós-estruturalismo depois do ocaso e retomada, Viveiros de Castro encontra um estruturalismo que abandona um lugar “solar” e “cabralino” para encontrar a sombra, espectros fantasmas que nas primeiras leituras do Saussure ficavam depurados. Nos comentários finais da apresentação de Eduardo Viveiros o problema ficaria colocado como o da relação a ser pensada ainda, nessa tradição de pensamento, entre o devir deleuziano-guattariano, a transformação levi-straussiana dos mitos e a metamorfose de Kafka. Colocamos na lista a revolução, mas também o pós-judaísmo que propõem Laor e Pál Pelbart como ponto de apoio instável para pensar a judaicidade e o etnocentrismo que dominam a política israelense que levou aos bombardeios de Gaza e a necessidade de agir buscando algum lugar com ar respirável dentro desse significante associado a um povo e uma religião.⁶
É suficiente acrescentar o prefixo e propor uma mudança de vetor para se livrar da transformação conservadora do judaísmo contemporâneo? Déborah Danowski acha que não, em um comentário no livro de Laor e Pál Pelbart. Só cabe um devir palestino como termo minoritário da situação e forma do devir-outro do judeu.⁷ É difícil encontrar um lugar a salvo para quem tem qualquer vínculo com esse povo que hoje bombardeia.
Por algum motivo não é possível formular um “pós-nazismo”, separar um nazismo (ou neonazismo) do supremacismo e da posição favorável ao extermínio dos judeus, homossexuais, comunistas… A comparação certa talvez seja com a cristandade, em que de fato apenas alguns apoiaram o Holocausto na Alemanha, filiando-se aos nazistas, da mesma forma como o sionismo é o movimento político em que hoje vemos aparecer com facilidade o desejo de morte dos árabes. No entanto, também não temos “pós-cristãos”, e sim pentecostais, católicos carismáticos, ateus, em distintas transformações de como os cristãos “falam atualmente” o cristianismo, ou de como, “de tanto ser judeus” os cristãos apareceram falando latim no Império Romano.
O ponto aqui em relação ao sionismo e ao massacre na Palestina é que não é preciso ser favorável ao extermínio, basta defender um Estado situado onde se encontrava e encontra outro povo, a fim de endossar políticas que não podem mais ser endossadas com dignidade. Também não podemos pensar hoje em pós- alestino, pois se trata de defender a existência da Palestina anterior, questionada pelo sionismo, e não uma riviere ou ocupação administrada por qualquer poder externo, como busca a proposta norte-americana.
O pós-judaísmo faz sentido porque não parece suficiente se opor apenas à extrema direita que governa Israel, mantendo-se “criticamente” no contexto do sionismo. Essa necessidade de oposição parece ir inclusive além do judaísmo, como expressou a antropóloga Rita Segato, refletindo que a modalidade pública desse genocídio leva à necessidade de não querer mais ser humana e pertencer a esta espécie.⁸ A importância desse ponto pós-humanista não tem a ver com se descomprometer com as responsabilidades da espécie nem com o descuido da desumanização que ocorre com os palestinos em Gaza, como alguns interpretaram. Deixar de ser humano e judeu tem mais a ver com a necessidade de entender o que acontece na Palestina como um problema que não é apenas responsabilidade da direita israelense no governo.
Podemos entender que o pós-judeu é um pós-humano, porque Netanyahu está em todo lugar e todo o Estado é sionista. O tempo de algo novo se abre, assim, para além da crítica dos abusos de um governo ou da crítica do sionismo, e é o judaísmo que precisa reagir, aproveitando as tendências críticas que sempre teve. O mesmo poderia ser dito de qualquer projeto de Estado-nação, estrutura política ligada a burguesia nacional ou grupo religioso que busque impor uma soberania territorial e econômica de forma estatal-imperial. Para aproveitar a imagem linguística, trata-se de imaginar uma língua que se movimenta sem exército por trás, devendo fazer outra coisa, como um sistema análogo aos mitos indígenas em transformações desterritorializadoras, sem sentido único ou centro político civilizador.
Sionismo, apartheid e capitalismo
O discurso político mundial ligado ao judaísmo hoje é o de Bezalel Smotrich, ministro de Finanças desde 2022 e líder do Partido Sionista Religioso que promete expandir os assentamentos na Cisjordânia para “sepultar a ideia de um Estado palestino”, ou Itamar Ben-Gvir, ministro de Segurança, que pede pena de morte para os presos palestinos – aprovada também recentemente pelo Parlamento –, defende torturas e faz provocações em território sagrado dos muçulmanos para exaltar suas bases fascistas. Eles representam os setores supremacistas antiárabes que defendem a anexação de Gaza e a continuidade da guerra.
Seria um erro relacionar tudo a esses líderes sionistas, em Trump ou Netanyahu, quando se sente por trás uma turba fanática que, por exemplo, invade quartéis militares para linchar e estuprar presos palestinos, celebra o genocídio e pede mais sangue árabe, ficando totalmente impune pelas autoridades policiais e judiciais israelenses. Também não basta culpar os fanáticos radicais, porque, por trás dos extremismos, aparece hoje um consenso na sociedade israelense e no sionismo com a segregação racial e étnica patrocinada faz décadas pelo Estado. Como alguns sionistas apontam, é correto dizer que assim se formaram muitos estados, e todo nacionalismo, de esquerda ou de direita, de qualquer lugar tende a derivar, e derivou muitas vezes, em processos similares. De fato é importante se opor ao Estado e a qualquer nacionalismo ou etnocentrismo que defende a expulsão de comunidades locais ou migrantes, como é pauta hoje em muitos lugares. Não é à toa que é tão fácil encontrar ressonâncias do trato com os palestinos em qualquer parte.
A circunstância que nos coloca no lugar de ter que pensar um pós-judaísmo tem a ver com os motivos que nos levam a associar o sionismo às posições da extrema direita, sem que isso seja uma acusação leviana, antissemita ou arbitrária, e sim bem fundamentada para qualquer observador em relação ao avanço de Israel sobre território palestino, desde a fundação do estado. É verdade que sempre houve setores do judaísmo, do Estado de Israel e do sionismo que buscaram outra coisa. Esse espaço se estreitou para quem ainda defende o Estado de Israel e se identifica com a política de manter a ocupação do solo palestino, e bem mais para quem justifica o acionamento militar após o 7 de Outubro – como parece acontecer entre os que mantiveram um posicionamento ativo pela volta dos reféns, e não pelo fim do genocídio, da ocupação e da política das últimas décadas.
As posições apavorantes da extrema direita, por exemplo, nos pogroms de palestinos e nos protestos pela libertação de soldados filmados violentando um palestino⁹ de fato não têm consenso, e há oposição de cidadãos israelenses que não gostam dos palestinos, mas que também não querem que sejam tratados como animais, ou assassinados em massa. No entanto, não houve oposição nas ruas ou nas instituições contra o genocídio, entendido como consequência necessária após o ataque do Hamas.
Como dizemos, um pós-judaísmo retorna a uma forma anterior de se envolver com a luta revolucionária e a elaboração de caminhos socialistas na Europa. Muitos judeus se envolveram antes do Holocausto com a luta de classes contra nacionalismos autoritários, que os excluíram junto a outras minorias. Os caminhos que Bentzi e Peter buscam ajudam a historicizar o sionismo, mostrar como na Europa havia outras possibilidades, como lutar pela revolução no lugar em que se estava – uma política majoritária entre os judeus de antes da guerra e que se expressou no Bund dos trabalhadores judeus do Império Russo e do Leste Europeu, respondendo aos pogroms e inventando a luta pelo socialismo sem criar um nacionalismo estatal análogo ao que os expulsava.¹⁰
O movimento da esquerda socialista e revolucionária teve muitos quadros que encontraram a sua nacionalidade na luta internacionalista dos trabalhadores e defenderam essa assimilação. Muitos outros mantiveram uma identificação étnica, ou foram judeus não judeus, como Isaac Deutscher e muitos bolcheviques, que vimos levando formas e estruturas incorporadas em práticas e pensamento próprios dessa tradição para outros modos enunciativos. É a afinidade que Michael Löwy detecta entre messianismo judeu e a ideia de revolução.
A superação do judaísmo religioso e sionista aconteceu, como em outras religiões, no grande movimento de modernização do século XX, por gerações novas que renegaram ou se afastaram dos ritos, crenças, identidades e formas de vida de seus antepassados. A presença difusa em Estados-nação onde se sentiam alheios levou muitos judeus a se afastarem de raízes religiosas, adotando um pós-judaísmo prático e secular. Muitos se envolveram num primeiro pós-judaísmo (assim entendido por nós, no movimento revolucionário), embora em muitos lugares tenha coincidido também com formas estatais e nacionalistas ou de socialismo, e a libertação nacional, que fundou Estados, às vezes com nomenclatura ou influência de partidos de esquerda.
A proposta de Peter e Bentzi não vai exatamente por esse caminho, e entendemos os motivos em outro processo, o de crise da modernidade com seus relatos teleológicos e universalistas. De fato, algumas reviravoltas do nosso tempo tornam mais difícil apoiar a ideia de assimilação, abandonando a língua e as tradições defendidas por Lenin e outros judeus comunistas para os judeus europeus falantes de iídiche.
Retomando toda uma tradição de lutas e pensamentos pela emancipação humana, é importante entender por onde passa a oposição ao sionismo hoje, para além da mera menção do genocídio atual e da limpeza étnica iniciada como projeto de Estado em 1948. Para além das posições de guerra que a esquerda mundial adota e que se traduzem muitas vezes como árabes contra judeus, podemos entender a crítica política da lógica de exploração e o funcionamento do apartheid colonial israelense. É a história de uma sociedade fundada com mitos religiosos, mas também de justiça e igualdade para judeus refugiados que sobreviveram ao extermínio nazista. A consolidação do Estado sobre terras palestinas foi se tornando uma sociedade que impunha uma dominação econômica e política aos árabes em Israel e nos territórios palestinos. O neoliberalismo chegaria depois, com a lógica de privatização e financeirização da vida, inclusive nos kibutz e na gestão do trabalho dos palestinos como população subalternizada e explorada de acordo com demandas capitalistas.
Pál Pelbart e Laor relatam a transformação na posição histórica em capítulo intitulado “Metamorfose com o advento do Estado”. Lembremos da importância de entender as transformações dos mitos, que o próprio Lévi- Strauss encontrou nas ideologias políticas do mundo ocidental. Do aceite da partição da ONU em 1947 para a ocupação posterior, com a negação da existência do povo palestino, também o sionismo mostrou uma mudança:
Em contraste com as práticas do sionismo no início do século XX, que buscavam criar um “novo judeu” capaz de ser dono de seu trabalho, e não explorar a população nativa, os colonos de hoje empregam a população palestina dos territórios ocupados como mão de obra barata para a construção de suas casas nos assentamentos. Além disso, monopolizam a exploração de recursos naturais (como a apropriação dos poços artesianos), recriando o modelo clássico do colonialismo europeu do século XX (p. 152).
Há toda uma discussão que Bruno Huberman resume em relação à leitura do marxismo clássico sobre colonialismo, em que os trabalhadores deviam trabalhar e não podiam ser eliminados, mudando para formas em que a população “sobressalente” se torna um obstáculo em certos territórios e passa a ser eliminada ou expulsa. É nessa direção que se observa a mudança de estratégia das últimas décadas em Israel, combinando o aumento da exploração palestina por demandas do capital depois da pandemia com o confinamento em Gaza a partir de 2005, e a estratégia de eliminação da população, com a expropriação territorial acelerada após o 7 de Outubro.
Apesar de encontrar continuidade na limpeza étnica que a direita israelense tenta perpetuar atualmente com o que sempre foi política do sionismo, seja com métodos terroristas ou de economia política e controle infraestrutura na gestão estatal, o pós judaísmo aparece junto com um ponto de virada que faz não ser mais possível um progressismo ou proposta plurinacional no que parece uma guerra que tem como política uma espécie de “solução final” dos palestinos.
Não se trata de abandonar uma ótica anticapitalista de análise de classes, mas entender como esta se encontra sobreposta por uma lógica de morte que se impõe com o neoliberalismo para além dos interesses imediatos do capital da classe dominante representada pelo Estado. É uma lógica de supremacismo racista expressada pela extrema direita, mas que se torna política de Estado de todos os israelenses com um grande silêncio e a falta de oposição como condição de existência. A tentativa de anexar Gaza sem eliminação da população local, de fato, se mostrou difícil e onerosa, pelo desequilíbrio que criaria entre judeus e árabes e pelos custos de proteção de uma minoria judia. O Estado partiu, então, para uma nova tática, na base do princípio de dominação territorial de uma população, que existe apesar dos objetivos do estabelecimento desse Estado. Por essa razão, Huberman aponta essa nova fase de extermínio como lógica política, explicando o genocídio por uma combinação de fatores que não se reduzem a questões meramente religiosas.¹¹
Entre o controle do trabalho e a lógica de civilização contra a barbárie, que se traduz em ocupar terra, restringir circulação, prender, estigmatizar e matar minorias, pobres ou membros de movimentos sociais em luta, temos um extenso repertório de políticas de Estado, derivadas de decisões e estratégias do movimento sionista. Ao genocídio que após o 7 de Outubro se acelerou e se massificou, incluindo a destruição material de Gaza, segue outro, presente em decisões militares e administrativas, como a paulatina redução do comércio e da ajuda externa para a população palestina, a redução e a interrupção de contratação de palestinos em Israel, substituindo-os por mão de obra temporária do Sudeste Asiático.
Para além da teocracia judaica, observamos um poder capitalista estabelecido no funcionamento da sociedade. Textos como o de Mark Zeitoun¹² mostram a construção estatal de Israel na administração assimétrica dos recursos hídricos, evidenciando um domínio colonial disfarçado de cooperação e desenvolvimento familiar a qualquer região do terceiro mundo, como no controle da água, em vez do recurso de dividi-lo ou permitir seu uso compartilhado. Assim, o Estado organizou a agricultura e o controle do trabalho de forma a separar ainda mais os dois povos, prejudicando os palestinos e impondo o poder e a força por sobre a geografia. Não é de estranhar a declaração de Yoav Gallant, ministro de Defesa de Israel, ordenando um cerco completo de Gaza, sem permitir a entrada de alimentos ou água no início da resposta desproporcional ao 7 de Outubro, dando continuidade a décadas em que essa era a lógica que imperava.
Para além da religião e da Bíblia, de fato vemos dinâmicas que vinculam o colonialismo de Israel às necessidades de mão de obra barata, que, no entanto, veio sendo substituída com vistas à expulsão da população – como dito anteriormente. O texto “Dialética do sionismo”, de Maurício Tragtenberg (publicado em 1982 e republicado no contexto desta guerra no site da n-1),¹³ também reflete na posição transformada do significante “judeu” e mostra o lugar dos palestinos como “judeus” e as tendências do sionismo em direção ao extermínio, evidenciado naquela época nos massacres de Sabra e Chatila, no Líbano.
Primeiro subalternização, depois expulsão ou morte, a posição da extrema direita sendo o correlato natural de décadas de exclusão, por exemplo na diferenciação com os israelense Árabes com menos direitos por causa de não fazer serviço militar dentre outros mecanismos. Tragtenberg mostra também a lógica capitalista dos kibutz antes da privatização neoliberal mais atual e as relações de produção no território, muitas vezes deixadas de lado a partir de perspectivas judaicas idealistas ou que não incorporam a questão de exploração de classe. O autor dá conta da criação de sindicatos só para judeus, de argúcias legais para a expropriação da terra cultivável e da criação de cidadãos de segunda classe, usados inclusive como mão de obra a preço vil nas próprias terras confiscadas, quebrando a lógica comunitária como política de Estado. Tragtenberg mostra como a categoria de “refugiados” resulta funcional ao sistema de exploração, bem como o uso do argumento da defesa para garantir o expansionismo.
Parte da recuperação das trajetórias dos judeus comunistas no Leste Europeu e no movimento revolucionário pode passar por entender as dinâmicas de classe que, no entanto, hoje precisam de outros elementos. O capitalismo ainda é um fator importante de análise de dinâmicas, mas devemos entender o mesmo a partir de lógicas não econômicas e bem distintas do controle do trabalho em fábricas. Em um contexto de genocídio subsidiado pelos Estados Unidos e de um neoliberalismo que mostra em todo lugar suas dimensões de controle populacional necropolítico, os cálculos de burguesias nacionais e a ideia de um colonialismo que tem por fim a criação de um mercado, ou resolver o excedente de população não absorvido pelo trabalho, se tornam apenas parte da situação e da explicação do que acontece.
Iniciada em 2023, a destruição de Gaza evidencia um conflito que esteve perto de se tornar uma guerra regional e que pode levar a uma guerra nuclear; abrange gestão de recursos naturais, mas também a administração de um quantum civilizatório que parece estar em jogo, do ponto de vista de Israel e de seus aliados, envolvendo no conflito entre israelenses e palestinos o mundo todo, e infinitas situações locais de “israelenses” e “palestinos”. Esta dimensão pode estar relacionada à repercussão inédita na opinião pública mundial, que demonstra o lugar arquetípico do que as elites reproduzem em muitos locais, nesta época, acompanhado de um misto alienante entre capacidade de normalizar o horror e de gerá-lo com uso de mecanismos democráticos e republicanos, na frente de todos e com aparente aprovação da população.
Houve décadas de preparação e andamento do genocídio de Gaza, mas também temos a impressão de uma nova manipulação de Israel por parte de outros poderes a partir da dependência extrema do poder militar e financeiro dos Estados Unidos, que está levando o país à quebra, endividado e com sua “imagem-marca” destroçada. A política antipalestina do sionismo conflui com um cenário securitário de bem contra o mal, manipulado pela direita internacional como modelo de ação, relacionado também à mobilização de discursos religiosos que mostram persistência nas histórias destacadas na mídia e na cultura do Ocidente. Nesse sentido, entende-se o tratamento dado como terroristas ou expulsos para indígenas mapuche, favelados do Rio de Janeiro ou migrantes nos Estados Unidos. Como Trump declarou, a destruição de Gaza poderia se tornar um modelo urbano a ser testado e exportado a outros lugares do Oriente Médio. Explicam-se também a inédita força dos protestos em países cristãos, como Espanha e Itália, e as obtusas posições da pós-esquerda alemã.
O fim de Israel e a proposta cosmopolítica
Nas transformações que levam ao pós-judaísmo, podemos mencionar a análise de Ilan Pappé, para quem a intervenção em Gaza representa o colapso do projeto sionista, e também o fim de Israel.¹⁴ A força de um povo não se mede pela quantidade de prédios em pé em suas cidades, podemos dizer a partir da análise do historiador de origem israelense responsável por explicar as primeiras décadas da ocupação e que durante o genocídio recente já visualizava o fracasso da força colonialista que executava a destruição.
Pappé demonstra o fim de um projeto político que, apesar do apoio de potências à intervenção em Gaza, não consegue esconder o fato de uma ruptura com o mainstream político liberal do Ocidente – que não apoiaria cegamente o projeto teocrático com avanço cada vez maior nas instituições e no governo. É possível que vejamos aqui um limite vindo de fora ao colonialismo e à tática de eliminação e expulsão, reforçando a lógica da gestão que incorpora, em lugar de substituir, uma população étnica. O fracasso do sionismo se visualiza também no fortalecimento da causa palestina, com novos aliados no mundo, inclusive muitos judeus, em especial os mais jovens. O Estado de Israel se endivida e se isola, não tendo conseguido desarmar o Hamas nem garantir qualquer tipo de paz futura.
Reações virão de uma juventude marcada pela guerra dos dois lados, que após centenas de milhares de mortos e exilados ficam no território para limpar os destroços.
O lugar de pária de Israel (agora não por antissemitismo, mas pela indignação que provoca a execução da limpeza étnica, do genocídio e do apartheid) é o que abre o momento de bifurcação entre os dois possíveis judaísmos que Laor e Pál Pelbart pensam no livro que aqui comentamos. Como dizem os autores, de um lado temos as piores tendências, que aproximam o sionismo do fascismo e o afastam da democracia. O jogo simbólico coloca o antissemitismo em um lugar de proteção, associando o antissionismo ao antissemitismo como peça de justificação. Israel também se identifica nesse jogo com a sociedade burguesa, o capitalismo e a dependência em relação ao Estado (endeusado), numa identidade cultuada como superior, justificando o colonialismo frente ao povo palestino, entendido como pobre e sem condições para o progresso e a razão.
A aposta dos autores é pela possibilidade de outro judaísmo, não sionista, que, portanto, leva a pensar no judaísmo anterior à proposta de Herzl, ou de quando o sionismo convivia em minoria com outras apostas, como a da revolução. Frente ao judaísmo abraçado pelas direitas do mundo, os autores apostam na diáspora e no nomadismo sem estado, diferentemente da proposta de um Estado plurinacional, binacional ou secular para árabes e judeus, defendida por Ilan Pappé, entre outros, junto a políticas públicas ou afirmativas de descolonização. Na segunda edição do livro, no entanto, o termo etnocracia é substituído por etnocentrismo, mostrando a intenção de colocar o problema em um contexto mais amplo do que o Estado sionista.
O livro de Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor não busca uma solução política, no sentido institucional ou de acordo nas Nações Unidas, mas sim pensar a partir de uma experiência judaica que não tem centro em Jerusalém nem busca a fundação de um Estado – antes, o esforço é sair dele como postura existencial. Os autores se aproximam, assim, de uma solução cosmopolítica, se entendemos o sentido que a antropologia contemporânea dá a esse termo introduzido na discussão por Isabelle Stengers, a fim de buscar uma política e uma ciência pluriversais que servem de antídoto à política fundamentalista e fanática, mas também republicana e neoliberal.
Uma política sem centro, aberta ao cosmos, que também considera os limites e o necessário descentramento da posição do humano, pode ser lida como passo à frente depois da demonstração do fracasso da proposta sionista de resolver a questão judaica criando um Estado, impedindo a criação de outro e negando a possibilidade de convívio com os árabes num terceiro. O catálogo da editora n-1, coordenada por Peter Pál Pelbart, tem feito contribuições nesse sentido, com publicações como O cogumelo no fim do mundo, de Anna Tsing, e sua proposta de assembleia polifônica das florestas de cogumelos, além de obras de Eduardo Viveiros de Castro, que apresenta um resumo dessa discussão no verbete Cosmopolítica, recentemente publicado também pela n-1 (Os Involuntários da pátria. Ensaios de antropologia II. São Paulo: n-1 edições, 2025).
Nesse manifesto e balanço, a cosmopolítica se relaciona com a perspectiva indígena, entendida como “inflexão contracolonial e anticapitalista” que indica uma relação de imanência entre certos povos e a Terra, estendida para abarcar todos os coletivos e mundos cuja existência foi arruinada ou está ameaçada pelo tecnocapitalismo, escreve Viveiros de Castro. Nessa definição, a noção de “indígena” transcende as conotações de “grupo étnico”, sendo mais uma condição cosmopolítica que constitui uma exterioridade relativa ao mundo capitalista, como extramodernidade contemporânea ao capitalismo, que não é pré-modernidade e que provavelmente lhe sobrevirá, diz o autor (p. 186, 2025), buscando um lugar que dialoga com o pós-estruturalismo – e tentamos, assim, ver como locus de um pós-judaísmo como proposto por Pál Pelbart e Laor.
Em vários momentos, Pál Pelbart e Laor destacam a importância de um judaísmo aberto aos indígenas e às populações afros, mas também às comunidades reais ou virtuais a partir de conectores outros que não a origem, o povo, a raça, a etnia. Os autores citam Franz Fanon, “a negritude não é um destino, mas uma passagem” (p. 260), num diálogo com a antropologia de Viveiros de Castro, que teve registros em distintos eventos por ocasião de apresentações de livros, mas também com as páginas de O judeu pós-judeu, na menção da necessária “reforma agrária do pensamento”, da “multiplicação do mundo” e de um mundo onde caibam muitos mundos na luta contra a hidra capitalista, de inspiração zapatista, também referência para a cosmopolítica de Viveiros de Castro.¹⁵
A tradução direta da cosmopolítica indígena que Viveiros de Castro e outros autores (como Marisol de la Cadena) destacam não poderia hoje ser identificada com os judeus que vivem as consequências de mais de cem anos de projeto sionista, justamente afastados – pelo menos na versão dominante e visível globalmente – do lugar que souberam ocupar na intelectualidade, no teatro e na revolução. Viveiros de Castro se refere à coincidência da emergência dos coletivos indígenas na cena política mundial com os deslocamentos de populações outras-que-brancas do Sul para o Norte, causados pela demanda de mão de obra barata e por crises sistêmicas do Antropo-Capitaloceno (p. 199, 2025).
Para Viveiros de Castro, a crise se manifesta como crise da ideia moderna do Homem Branco, como obsolescência, na modulação progressiva de um proletariado mundial em um planetariado mundial, enquanto devir indígena atual ou virtual dos povos humanos em seu acoplamento imanente com as potências terrestres, ou desacoplamento forçado pela espoliação territorial e devastação ecológica do capitalismo. É o capitaloceno que coloca a espécie em contradição com a Terra e, assim, em perigo de extinção. Na formulação de Viveiros, sair do capitalismo é retomar a Terra pela terra: parcela por parcela, lugar por lugar, zona por zona. Retomá-la, isto é, redescobri-la. Uma retomada que assuma a causa da terra e o sentido de povo usurpados pelos maginários políticos dos fascismos e dos etnonacionalistas (p. 201).
Como ficar alheio a outras catástrofes, perguntam Bentzi e Peter (p. 249), e à importância de não ficar aferrado a uma catástrofe maior, a própria? Muito do que foi construído em décadas em torno do “ser judeu” se desmonta na crítica desse sujeito europeu que o israelense vinha a representar no Oriente Médio, inclusive numa subalternidade a respeito de judeus sefarditas, etíopes ou asiáticos. O pós ou transjudeu se relaciona também com a virada pós-humana que questiona o antropocentrismo. Isaac Deutscher explicava sua relação com o judaísmo como negação da religião e do nacionalismo judaico, que, no entanto, deixava um lugar para a solidariedade incondicional aos perseguidos e exterminados – “sinto o pulso da história judaica”, citam Laor e Pál Pelbart.
O pós-judaísmo dos socialistas internacionalistas e revolucionários era não sionista na proposta de uma sociedade sem classes. A continuidade do judaísmo era um exercício de solidariedade aos oprimidos, inclusive entre os que acreditaram que Israel podia ser essa sociedade do futuro. Esse lugar não é mais possível, com os judeus não mais exterminados, e sim no lugar de exterminar. A cosmopolítica é, para Viveiros de Castro, uma chamada de atenção que também vale para a esquerda moderna “fóssil”, nos dois sentidos da palavra, e para formas limitadas de entender um mundo a partir de uma ideia de sociedade centrada no trabalho, com as respectivas visões sobre cultura e natureza ficando para trás. Um debate sobre materialismo e sociedade, paralelo aos pontos que o pós-estruturalismo mencionado acima hoje discute, nos mostra dimensões importantes para pensar a transformação de um mundo para além do Estado e do capital.
Outra referência mencionada por Pál Pelbart e Laor pode nos levar a algum lugar. Trata-se do romance de Imre Kertész, escritor húngaro judeu que descreve a própria deportação para Auschwitz aos catorze anos. Os autores citam “como ele precisou continuamente decifrar as regras do campo, os códigos, as hierarquias, as relações de poder, as expectativas, as mudanças mínimas – um complexo aprendizado dos signos”. O lugar de Kertész “não era o de criticar ou de se revoltar, mas de se adaptar, encontrar as razões daquilo que ocorria, até mesmo justificar a necessidade daquilo tudo, num esforço de preservar a capacidade mental de ali navegar” (p. 249). A citação é concluída com a menção de que, depois da liberação, o garoto cruza com um adulto muito interessado pelo que ele teria a contar, e, a cada pergunta que lhe faz, o menino responde: “naturalmente” (p. 250).
Gaza (mas também Israel) aparece hoje como um grande campo de concentração de uma sociedade e subjetividade em ruínas. Assim como após a experiência dos campos nazistas, mas também a colonização indígena das Américas, a escravidão e os séculos de capitalismos nas fábricas e plantações, será mais um complexo aprendizado de signos antigos e novos, sem estado e rompendo com a religião dos dois lados do muro, pois veremos as línguas novas que aparecem só de continuarmos falando as que já sabemos falar. No devir da intifada e da revolta dos jovens contra a guerra, um pós-tudo talvez permita escapar da linearidade da história estatal. Há quem diga que o hebraico é um dialeto árabe, constituído em língua nacional à força de Estado e de políticas coloniais.¹⁶ Esperamos também uma possibilidade cosmopolítica nesse encontro pós- nacional na Palestina, entre árabes e judeus tradicionais.
Pós-judaísmo latino-americano
Após Freud e Lacan, a psicanálise também encontra seu pós, indo como Deleuze e Guattari no Anti-Édipo para além do familiarismo burguês e do triângulo edípico. Marx sem produção, judaísmo sem terra prometida, assim como o estruturalismo encontrou seu avesso sem deixar de ser estruturalismo com os mitos ameríndios e a lógica sensível implicada neles. Na América Latina temos uma experiência material da sociedade possível a partir do devir refugiado e migrante de psicanalistas e marxistas judeus e de trabalhadores e artesãos, do Bund e também sionistas. É aqui que um pós-marxismo se torna pós-colonial e ecologista, no encontro com o território indígena e as línguas europeias que se misturam com sotaques africanos ou indígenas americanos num encontro infinitesimal distante do Estado.
Marie “Mimi” Langer foi uma psicanalista judia, marxista e precursora do feminismo que fugiu da Europa após ser denunciada como judia por um paciente austríaco, iniciando um exílio ou diáspora que a levaria ao rio da Prata, depois de curar feridos na Guerra Civil Espanhola, para viver novos exílios na época das ditaduras latino-americanas que a fariam se refugiar no México e chegar a Manágua em tempos de revolução. Em um de seus textos¹⁷ Langer analisa os mitos que circulavam sobre Eva Perón, com especial destaque para um que atualiza um antigo mote ativado pelo medo da burguesia argentina com a chegada do peronismo. Entre as versões que Marie Langer reúne entre as senhoras do Barrio Norte, e que reproduzimos aqui em versão livre, relatava-se a história de um casal que tinha saído para jantar deixando seu bebê com a empregada doméstica. Quando voltaram, a babá peronista tinha cozinhado o bebê e o servido na mesa de jantar, antes de se demitir.
Langer relaciona o mito com outros, como o da história dos irmãos João e Maria, ou de Tântalo e Pélope, em que os filhos são cozidos e comidos, e o castigo da fome e da sede eternas. Há informação na internet sobre as fake news muito disseminadas depois do 7 de Outubro de 2023 sobre um bebê assado pelo Hamas no micro-ondas. O medo dos palestinos recuperou um antigo mito que circula em situações de desigualdade de classes, e sentimentos de ressentimento e desejo de vingança, em distintos momentos históricos e lugares.
A aposta pela revolução e pela esquerda levaram Marie Langer a um novo exílio no México de 1974, quando na Argentina o retorno de Perón mostrou um líder conservador, oposto à esquerda revolucionária, inclusive peronista, e a muitos jovens judeus que, como parte de grupos revolucionários, foram vítimas de desaparecimento. O velho líder nessa época en frentaria um pós-peronismo, quando após seu longo exílio os jovens militantes dos Montoneros constataram que quem causava medo na burguesia nos anos 1940 se reencontraria com o fascismo e a política contrainsurgente dos Estados Unidos, abrindo as portas para a repressão e o terrorismo de Estado. “Como los Nazis, como en Vietnam”, cantavam as mães da praça de Maio em busca de justiça pelos desaparecidos.
Marie Langer tinha se afastado da psicanálise na Europa depois de uma experiência negativa com a Associação Psicanalítica dirigida pelo próprio Freud, que aceitou das autoridades austríacas a proibição de fazer política para os analistas, o que levou a uma admoestação contra Langer, que era militante. Ela deixou o país e a psicanálise com a ideia de que, “enquanto arde o mundo, não podemos estar nos olhando o umbigo”.¹⁸ Voltaria ao exercício na Argentina, com importantes contribuições sobre maternidade, sexualidade e terapia coletiva, após encontrar uma forma de fazer psicanálise na América Latina, vinculando a teoria de Freud com feminismo e marxismo.
Na América Latina podemos ver um pós-judaísmo prático da imanência e do devir, em que, de fato, o convívio e a mistura interétnica são possíveis em cidades como São Paulo, Santiago e Buenos Aires, entre outras, onde houve imigração judaica e árabe em grande quantidade. Vemos também a reprodução de separações, com coletividades bem inseridas nas elites brancas locais que discriminam bolivianos, nordestinos e outros migrantes mais recentes, numa assimilação e evolução econômicas no marco do capitalismo que não foram iguais para todas as comunidades, e estão também intimamente ligadas a visões sobre desenvolvimento e disciplinamento para o trabalho. Décadas depois de sua chegada como refugiados, não é de estranhar uma inserção majoritária e acrítica das coletividades judaicas com as direitas locais.
Concluamos com a opinião de um filósofo e judeu argentino, León Rozitchner, que bem poderia ser aproximado ao pós-judaísmo de Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor. Em algumas entrevistas e textos de intervenção¹⁹ de uma convulsionada Argentina neoliberal dos anos 2000, o autor denunciava a posição das entidades oficiais sionistas, próximas dos governos de direita, que acabavam de pedir desculpas à Igreja Católica num contexto em que o futuro papa e outras autoridades eclesiásticas censuraram a exibição de uma obra do artista plástico Léon Ferrari, considerada uma blasfêmia por vincular a figura de Jesus à guerra. Rozitchner se solidarizava com o artista, que denunciava a Igreja Católica como antissemita, além de colonialista, dogmática, violenta e autoritária, por seu papel no apoio ao nazismo, às ditaduras latino-americanas etc.
Rozitchner critica um judaísmo do poder e também o fato de se aferrar a “alegorias” e “migalhas do passado”, com ritos e cerimônias judaicas, enquanto adotam o modo de vida e os valores cristãos capitalistas. Sobre o conflito no Oriente Médio, ele lembra que quem levou os judeus ao extermínio não foram os árabes, mas o Ocidente cristão, de quem o Estado de Israel é agora aliado. Rozitchner diz que a aliança tem que ser com os palestinos, com os povos indígenas, que também sofreram o genocídio católico na conquista da América, e com os povos de onde a diáspora os levou, como o latino-americano, e não com as ditaduras pró-norte-americanas da América Central – a quem Israel vendeu armas – ou com as extremas direitas que hoje, constataria León, apoiam o genocídio em Gaza e importam seus sistemas de segurança, guetificação e racismo contra os pobres.
Adotar a linguagem do terrorismo contra os árabes, observa Rozitchner, deveria levar a reconhecer a violência colonial e terrorista do próprio Estado de Israel, em lugar de permitir o convívio. “Os judeus não estão para isso”, diz ele, num pós-judaísmo que tem mais a ver com a luta anticapitalista dos judeus do Bund, ou dos jovens de descendência judaica que, hoje, nos Estados Unidos, rompem com o sionismo e protestam contra a guerra nas universidades. Num judaísmo de ações concretas diretas, vemos esses jovens fazendo um contralobby judaico, como o radical bloc de jovens israelenses que põem o corpo contra os fanáticos colonos na Cisjordânia para evitar o avanço de “1948” (forma como chamam Israel, reconhecido como Estado ilegítimo); ou como o fenômeno atual de israelenses que renunciam a essa nacionalidade – ao contrário de todos os que a adquiriram como terra prometida ou salvação econômica nas últimas décadas.
Esse pós-judeu de Bentzi e Peter é também o devir palestino de quem aprende iídiche em lugar de hebraico, ou línguas indígenas na América e o próprio árabe (proibido e desconhecido para 99% dos judeus israelenses, que o aprendem apenas com fins militares), como fez o diretor judeu de No Other Land. A descoberta desse universo próximo e hoje proibido, além de destruído após ser explorado, é um mundo novo a ser revelado, como foi a América nos interstícios da colonização ou a revolução proletária da utopia socialista na Europa.
Salvador Schavelzon é Professor e pesquisador na UNIFESP (Osasco) e PROLAM – USP.
¹ Em: Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia. São Paulo, Editora 34, v. 3, Platô 9, 1996, p. 87
² Segundo Arlene Clemesha, a partir de Pappé, os países da ONU que assinaram a resolução que dá lugar ao Estado de Israel estavam cientes dos movimentos de população que resultariam da decisão, e que os sionistas não ocultavam, mas escolheram não incluir na resolução elementos que impedissem a limpeza étnica (texto “Pensar a palestina após Gaza: uma breve história da Nakba”, revista Margem Esquerda, n. 43, 2024).
³ Comentário de Viveiros de Castro sobre o livro A vida enigmática dos signos, de Patrice Maniglier, junto ao autor. A conversa foi parte do Colóquio Internacional: A vida enigmática do signo – história e atualidade do estruturalismo entre literatura, psicanálise e antropologia, organizado pela PUC-SP e pela USP.
⁴ “O anti-Édipo: uma introdução à vida não fascista” é o prólogo à edição norte-americana de O anti-Édipo, capitalismo e esquizofrenia, publicado em 1977.
⁵ A respeito conversam Peter Pal Pelbart com Eduardo Viveiros de Castro no lançamento do livro do último Os Involuntários da Pátria. Nessa conversa Viveiros de Castro define a tarefa do antropólogo em relação com a filosofia e o pensamento dos nativos, são estes que podem fazer conceitos; os antropólogos podem fazer contra conceitos, como o do contra estado (1h30 e seguintes).
⁶ No livro de Laor e Pál Pelbart, Kafka aparece como quem mais agudamente leu os vestígios do fim do mundo moderno (p. 99). No lugar em que o dualismo, na figura do pai, na ausência de Deus (na leitura de Scholem e do Deleuze e Guattari), ele abre para a multiplicidade: “tal ausência seria afinal sinônimo de uma liberação jubilosa, de uma nietzschiana destruição criadora? Nessa chave, é como se o fim de uma transcendência finalmente permitisse à luminescência do mundo expressar-se a partir de si, em sua multiplicidade, emergindo da universal sombra divina que antes a obscurecia” (p. 220). É na recusa de Kafka (e spinoziana) da esperança que entendemos a espera messiânica judaica como vida onde nada jamais é definitivamente conquistado nem irrevogavelmente concluído (p. 99).
⁷ “O judeu impossível”, texto de Déborah Danowski.
⁸ Entrevista com Rita Segato na TV mexicana.
⁹ O podcast “Do lado esquerdo do muro” (isto é, do lado de dentro de jerusalem) comenta esses episódios corriqueiros e as reações na política interna israelense: pogroms e terrorismo judeu na Cisjordânia, escândalos em Israel pelos abusos e exageros da extrema direita, desrespeito das instituições do Estado, jogos políticos da extrema direita no Parlamento (por exemplo, episódios #207, #290, #310, #326). João Miragaya e Marcos Gorinstein falam de um ponto de vista em que parece que ainda é possível ser judeu acreditando no sionismo e na democracia em Israel. ¹⁰ O Bund, ou União Geral Operária Judaica da Lituânia, Polônia e Rússia, foi fundado em 1897; em 1921, a seção russa foi dissolvida e incorporada ao Partido Comunista russo. Ver livro Revolutionary Yiddishland: A History of Jewish Radicalism, de Alain Brossat e Sylvia Klingberg (Verso, 2016); Molly Crabapple, Here Where We Live is Our Country: The story of the Jewish Labor Bund (a ser lançado em 2026). Ver também, de Antonio Mota Filho, “A relação entre Rosa Luxemburgo e a União Geral Operária Judaica da Lituânia, Polônia e Rússia (1897-1903)”, Revista Marx e o Marxismo – Revista do NIEP – Marx, v. 12, n. 22 (2024).
¹¹ Huberman, Bruno “Gaza, genocídio colonial e capitalismo”, Revista Margem Esquerda, n. 43, 2024. Huberman discute com o colonialismo por povoamento (settler colonialism), de Patrick Wolfe, e mostra a mudança da estratégia de “morte lenta” com controle infraestrutural para a lógica de eliminação da população “sobressalente”. A mudança tática mostra a centralidade da morte no neoliberalismo e também a importância da resistência palestina como motivadora.
¹² Mark Zeitoun, Power and Water in the Middle East. The Hidden Politics of the Palestinian-Israeli Water Conflict. Nova York: I.B.Tauris, 2018.
¹³ Disponível em: https://n-1edicoes.org/terra-arrasada/dialetica-do-sionismo-mauricio-tragtenberg-1982/.
¹⁴ O último livro do Pappé, Israel on the Brink, que inclui o texto “O colapso do sionismo”, foi lançado na Itália com o título “La Fine di Israele” (O fim de Israel). No Brasil o texto foi incluído na revista Margem Esquerda (n. 43, 2024), e explicou a ideia do fim do Israel em entrevistas e palestras.
¹⁵ Ver p. 260 do livro de Bentzi e Peter; verbete sobre cosmopolítica em Os involuntários da pátria, de Viveiros de Castro, e debate de lançamento desse livro no Paço das Artes, em São Paulo, outubro de 2025.
¹⁶ Roland Barthes observava que a diferença entre dialeto e língua é que a segunda tem por trás um exército.
¹⁷ Mimí Langer, “El niño asado y otros mitos sobre Eva Perón”, in: Fantasías eternas a la luz del Psicoanálisis. Buenos Aires: Nova, 1957.
¹⁸ Video Marie Langer, Marxismo y psicoanálisis – David Pavón-Cuéllar. Nesse vídeo o expositor destaca a diferença entre Langer de outros psicanalistas exilados nos Estados Unidos que se afastaram da política e ela, que manteve contanto com movimentos e processos nas margens do capitalismo, marcando outro tipo de trajetória. Ela fez contribuições importantes, introduzindo marxismo e feminismo na psicanálise, desenvolvendo, por exemplo, a terapia grupal.
¹⁹ León Rozitchner, Ser judío y otros ensayos afines. Buenos Aires: Ed. Lozada, 2011.