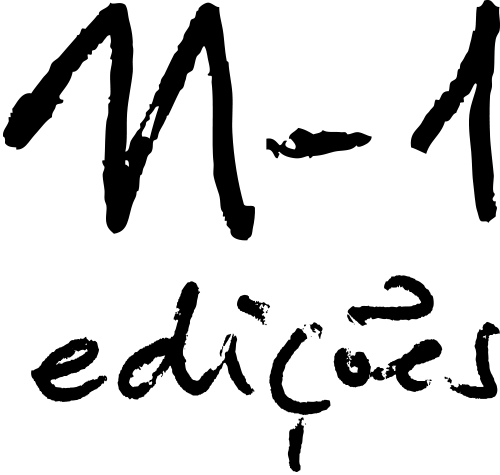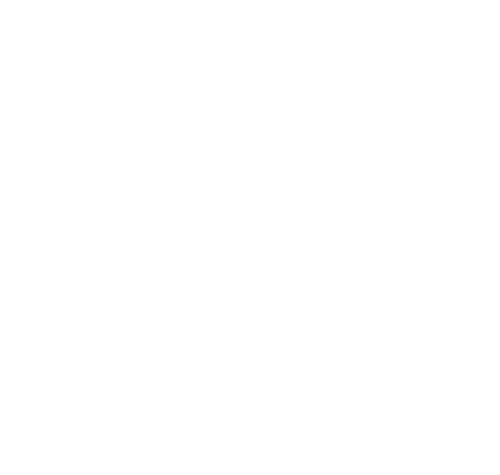O judeu impossível (Déborah Danowski)
Em relatório recente, o Instituto de Pesquisa sobre a Paz de Oslo¹ afirmou que em 2023 havia mais conflitos armados no mundo (cinquenta e nove com envolvimento estatal em trinta e quatro países) do que em qualquer outro ano desde a Segunda Guerra Mundial. Em junho, a Acnur (Agência da ONU para Refugiados) estimou que o número de deslocados no mundo bateu o recorde histórico, estando hoje em torno de cento e vinte milhões de pessoas – incluindo desde as deslocadas internamente até as refugiadas em busca de asilo em outros países. A guerra de Israel contra os palestinos em Gaza e nos territórios ocupados, deflagrada pelos ataques do Hamas a Israel em outubro de 2023, é um dos conflitos – juntamente com a guerra da Rússia contra a Ucrânia – que mais contribuem para esses números alarmantes, e hoje é o que ocupa o centro das atenções da opinião pública mundial. Diversos motivos explicariam (embora não necessariamente justifiquem) essa centralidade, mas mencionemos apenas dois: o fato de Israel ter se tornado (ou se consolidado como) uma espécie de bastião da Europa e dos Estados Unidos no Oriente Médio, vale dizer da “civilização” contra a ameaça da “barbárie”; e o fato de que, visto (e muitas vezes se vendo) como representado pelo Estado de Israel, o povo judeu – ele próprio vítima de um dos maiores genocídios do século xx – agora se encontra na incomodíssima posição de perpetrador daquilo que a Corte Internacional de Justiça em Haia classificou como (até a presente data apenas provável) crimes de guerra, punição coletiva, limpeza étnica e até genocídio contra o povo palestino. Para todos esses crimes, o álibi mais utilizado foi o direito de defesa e uma suposta condição de eterno perseguido.
Os judeus da diáspora (entre os quais me incluo) se viram particularmente tocados por esses acontecimentos dramáticos, desde os que apoiam incondicionalmente as ações de qualquer governo de Israel – e, tendo ou não parentes e amigos vivendo lá, sentem em primeiro (e às vezes único) lugar a dor e aflição das famílias que tiveram membros mortos ou raptados pelo Hamas –, até os que, ainda que condenando as ações do Hamas, abominam as atrocidades do atual governo de extrema direita de Benjamin Netanyahu, solidarizando-se antes com o extremo sofrimento palestino que perdura desde a Nakba de 1948, mas que Israel levou a níveis atrozes desde outubro de 2023. Nesse trágico contexto, é muitíssimo bem-vindo o livro lançado recentemente por Bentzi Laor e Peter Pál Pelbart, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia.² A obra ensaia um denso mapeamento de algumas das principais questões que envolvem a “judaicidade” tanto do ponto de vista histórico como no contexto atual, propondo possíveis saídas para fora da tríade que a tem sustentado e limitado: “o antissemitismo, o sionismo, o capitalocentrismo”, ou “Auschwitz, Israel, Wall Street”, ou ainda “o sofrimento extremo, o nacionalismo extremo, o anseio extremo pelo sucesso financeiro”.³
Escrito rapidamente e no calor dos acontecimentos (como os autores reconhecem), o livro hesita, ziguezagueia entre o passado e o futuro, entre o perto e o distante, testando, com o auxílio de importantes historiadores e filósofos judeus e não judeus, a própria identificação e desidentificação com o judaísmo e Israel – país que quase todos nós, judeus, aprendemos desde crianças a considerar de algum modo como nosso de direito, sempre pronto a receber-nos em caso de vontade ou necessidade.
Assim, é sobre a questão da hesitação entre duas realidades que eu gostaria de me deter um pouco aqui, neste brevíssimo e limitadíssimo comentário (o livro é tão mais do que isso…). No belo subcapítulo “O apartheid nos territórios ocupados da Cisjordânia”, Laor e Pelbart fazem importantes reflexões sobre a relação entre espacialidade e temporalidade no drama da Cisjordânia.
“A Cisjordânia é o caos”, começam eles, passando a descrever a sui generis situação de ocupação e opressão que lá vivem os palestinos todos os dias, sujeitos a um “experimento biopolítico de controle” de suas vidas por parte do Estado de Israel e de seus colonos. Ao contrário do que tenderíamos a pensar, entretanto, tratar-se-ia, segundo os autores, mais de um problema temporal que espacial. “Esse conflito interminável não se resolve porque sempre ‘há algo por acontecer’. E enquanto tudo acontece de modo trágico e ininterrupto, Israel transmite a aparência de um tempo suspenso, descrevendo a ocupação como ‘temporária’.”⁴ Tal “armadilha mental” (na qual o passado nunca passa e o futuro nunca chega) imobilizaria toda a qualquer “linha alternativa”. Esse é um pensamento profundo, que, no livro, faz a passagem entre a revisão histórica e análise dos principais expoentes dos “messianismos heréticos” e a proposta, pelos autores, de uma saída alternativa para seu próprio “sentimento de desmoronamento”. O passado que nunca passa é o trauma coletivo do Holocausto, o antissemitismo, a fuga e, mais recentemente (após a criação do Estado de Israel), a eternamente provisória ameaça do inimigo que nunca acaba de ser morto, que pode ressurgir em qualquer canto. O futuro que nunca chega é o messias, a paz que substituirá a guerra, o cumprimento definitivo da promessa da Terra Prometida, isto é, a propriedade não mais questionada de toda a extensão do rio ao mar. O presente, a realidade que se instala neste intervalo, é a ocupação ilegal e o apartheid do Estado de Israel sobre a população palestina, concretizado pela presença cada vez mais despudorada dos soldados e colonos na Cisjordânia.
Essa percepção do presente do judaísmo como um tempo suspenso é o que permitirá aos autores em seguida abrir a alternativa do tempo de um devir alternativo, um presente que – em vez de ser espremido por um passado e um futuro que não cessam de vir em sua direção e paralisá-lo ou, pior, encurralá-lo em uma linha de morte – se abriria para as duas direções ao mesmo tempo, um tempo menor que só é possível pela aliança com o caráter diaspórico e essencialmente não estatal do judaísmo ou pós-judaísmo proposto pelos autores.
Se posso apontar uma dificuldade nessa proposta é que, descrevendo muito bem a experiência judaica, ela perde a experiência palestina. Para os palestinos da Cisjordânia, da Faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental, presos de fato nessa armadilha temporal que não é a sua, o principal problema, seu problema, é o espaço, ou, mais concretamente, a terra. O próprio texto, aliás, o reconhece ao dizer: “Nesse tempo sem limites, os judeus estão sempre se protegendo do antissemitismo e de qualquer inimigo que surja, e os palestinos não cessam de retornar às terras das quais foram expulsos ou fugiram”.⁵ Na Cisjordânia, levas de colonos protegidos pelo exército invadem mesquitas e expulsam famílias inteiras de palestinos de suas casas; todos são cercados por postos de controle que dificultam ao máximo sua passagem a cada dia; em Gaza, a quase totalidade da população (a que não foi assassinada ou presa e torturada) tem sido sistematicamente expulsa de um lugar para outro, onde é novamente bombardeada (suas casas, ruas, escolas, universidades, bibliotecas, hospitais, fontes de água, oliveiras, plantações – tudo arrancado e completamente destruído). Entretanto, à mínima oportunidade, eles retornam. Mesmo às ruínas eles retornam, porque estão enraizados naquela terra:
A ocupação destruiu nosso povo, as pedras e as árvores na Faixa de Gaza. Destruiu a terra, a fim de deslocar o povo palestino local, o povo desta terra, para fora dela. Mas dizemos à ocupação e a quem quer que a apoie que estamos enraizados na terra, assim como as oliveiras; nunca poderemos ser arrancados, não importa o que façam. Eles não podem nos arrancar. Mesmo que reste apenas um palestino, continuaremos agarrados a esta terra, enraizados nela profundamente, pois é a nossa terra, a fonte da vida [para nós].⁶
Mas seria possível, mesmo a dois autores judeus de esquerda, um vivendo em Israel e outro na diáspora, realmente fazer jus à experiência palestina sem trair sua própria experiência judaica? Penso que não só é possível como necessário a quem ainda quer se identificar com uma posição “de esquerda”, e aqui apresento o cerne de minhas diferenças. Como grande parte dos textos que chegaram até mim em quase um ano desde o início da guerra em curso, O judeu pós-judeu também me parece estar preso em uma armadilha, ou, antes, em um duplo vínculo (double-bind): o de querer se solidarizar ao mesmo tempo e na mesma medida com o drama judaico e com o palestino; com o sofrimento das famílias de judeus e judias mortos ou sequestrados no ataque do Hamas e com as barbaridades e o genocídio que está sendo cometido contra os palestinos. O double bind é um conceito criado por Gregory Bateson para descrever situações que se encontram na origem da esquizofrenia e outras patologias psíquicas.⁷ Trata-se da combinação de duas ou mais mensagens ou injunções postas por uma pessoa ou instância de autoridade (o pai, o professor, o médico, o marido) a determinado sujeito, às quais esse sujeito tem que responder mas não consegue fazê-lo sem desafiar aquela mesma autoridade, e, portanto, faça o que fizer ou não, estará sempre errado e em falta. A única saída possível de tal situação e da angústia (ou de outros sintomas que ela gera) se dá pela intervenção ou construção de um termo que não estava dado inicialmente à escolha do sujeito.⁸
Ora, quando a condição essencialmente diaspórica e portanto movente da judaicidade é capturada pela forma-Estado, a única saída, penso (e em vários momentos, embora não todos, os autores de O judeu pós-judeu também parecem pensar assim), está naquele processo que Deleuze e Guattari designaram como um “devir-minoritário”. Acontece que devir-minoritário, neste caso, não pode ser nem uma (re)negação por vontade própria do judaísmo (devir não judeu), nem sua superação (devir pós-judeu). Hoje, enquanto aquele presente se desenrola nos corpos palestinos como genocídio, limpeza étnica e apartheid, se há um termo “menor” naquela região, um povo menor, ele não é o judeu, e sim o palestino.
Os palestinos são hoje os judeus de Israel. O verdadeiro devir-judeu, portanto, é o devir-palestino.⁹ Devir-outro. Por que digo que esse não foi o caminho tomado pelos autores? Em primeiro lugar, obviamente, pelo título do livro, que evidencia o drama interior dos que se sentem partidos entre o desejo de guardar a “judaicidade” e o sentimento de radical rejeição à “etnocracia” hoje dominante em Israel e na Cisjordânia. Porém, mais importante me parece ser a escolha, ao longo de quase todo o livro, de uma série de termos que são como que o sintoma daquele duplo vínculo do qual parecem não ter conseguido se libertar.
Assim, por exemplo: “ataque sanguinário” ou “incursão sanguinária” para descrever o ataque do Hamas em outubro de 2023 e “invasão sem precedentes” para descrever a resposta de Israel dirigida a Gaza; “ato militar”, “invasão israelense de represália” para as ações do Exército israelense e (repetidamente) “ato terrorista” ou “ataques terroristas” para as ações do Hamas; uso da voz ativa para descrever os atos do Hamas e da voz passiva para os de Israel: “Em 7 de outubro de 2023 o Hamas realizou o ataque mais cruel de sua história, matando mil e duzentos civis israelenses e destruindo parcialmente mais de dez mil localidades, praticando degolas em bebês, estupros, mutilações e rapto de reféns. Em represália, Israel invadiu a Faixa de Gaza, onde permanecia em março de 2024. Nos bombardeios massivos, morreram quase trinta mil palestinos, a maioria civis, dos quais 20% a 30%, aproximadamente, eram crianças. Mais de trezentas mil residências foram atingidas…”.¹⁰
Nesse último trecho, encontro um problema ainda mais grave: os autores repetem inverdades (fake news) espalhadas pelos partidários do governo israelense, desmentidas por diversas agências e veículos mais confiáveis (que as autoridades israelenses): que o Hamas praticou degolas em bebês (a notícia que viralizou, tendo sido repetida inclusive por Joe Biden, foi que o Hamas havia degolado quarenta bebês; a verdade é que o grupo assassinou trinta e seis crianças, sendo vinte menores de quinze anos e um bebê de dez meses).¹¹ Deixaram também passar diversas imprecisões, como ao dizer que no ataque de 7 de outubro o Hamas matou mil e duzentos civis israelenses (as evidências mostram que o número foi de 1.139 pessoas, sendo 766 delas civis e 373 militares); por outro lado, claro, houve estupros e mutilações, embora não haja evidências de que tenham sido generalizados e sistemáticos; e, sim, houve rapto de reféns (251 pessoas, incluindo mulheres, idosos e crianças), que o governo Netanyahu parece não estar tão interessado assim em libertar com vida.
Finalmente, referindo-se às residências atingidas ou destruídas pelo Exército de Israel, os autores esclarecem que tal prática de tornar inabitáveis as casas da população invadida tem um nome, “domicídio”, e esta é uma informação importante na direção certa, mas me pergunto por que não se falou em limpeza étnica e, mais fundamentalmente ainda, em genocídio (exceto o dos indígenas e o dos próprios judeus). Essa ausência é bem mais difícil de compreender, já que um pouco antes, nesse mesmo capítulo em que me demorei um pouco mais aqui, os autores resumem um excelente parecer jurídico¹² que deixa muito clara a prática de um regime de apartheid pelo Estado israelense na Cisjordânia. Há disponíveis diversos documentos elaborados por agências reconhecidamente idôneas e mesmo oficiais que atestam o crime de genocídio na guerra em curso, em especial o elaborado pela Africa do Sul e apresentado ao Tribunal Internacional de Justiça em janeiro de 2024. Há também relatórios que mostram não apenas o domicídio, mas o ecocídio intencional cometido por Israel em Gaza, como uma espécie de irmão gêmeo maligno do genocídio.
Tudo isso, enfim, faz o leitor se sentir por vezes um pouco perdido em relação ao estado de espírito de Laor e Pelbart, embora o livro seja um excelente e corajoso estudo-depoimento, que, além de profundo e esclarecedor, lança luz sobre muitas possibilidades teóricas para escaparmos da dor que tantos de nós vivemos. Talvez até seja bom que a dor não termine, não enquanto todos os povos daquelas terras não forem livres, do rio ao mar.
¹ Rustad, Siri Aas (2024). “Conflict Trends: A Global Overview, 1946–2023”. PRIO Paper. Oslo: PRIO.
² Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2004.
³ Ibid., pp. 190-91.
⁴ Ibid., pp. 147-48.
⁵ Ibid., p. 148, meus grifos.
⁶ Depoimento de Mohammad al Bakri, presidente da Union of Agricultural Work Committies Gaza in: Israel’s Ecocide in Gaza: 2023-2024. Filme realizado pelo Forensic Architecture, 2024. Disponível em: https://forensic-architecture.org/investigation/ecocide-in-gaza. Minha tradução.
⁷ Cf. Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind. Nova York: Ballentine Books.
⁸ Note-se que são os próprios autores que dizem: “Tudo parece sem saída até que se invente uma saída” (Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2004, p. 47).
⁹ O termo “devir-palestino” me foi sugerido há alguns meses por um amigo, em uma conversa em que lhe contava ter sonhado que fugia dos soldados israelenses, que atiravam em mim.
¹⁰ Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2004, pp. 142-43, grifos meus.
¹¹ Ver: https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_IsraelHamas_war#:~:text=The%20October%207%20attacks%20on,Israel%20to%20the%20Gaza%20Strip. Ver também: https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2024/04/03/40-beheaded-babies-the-itinerary-of-a-rumor-at-the-heart-of-the-information-battle-between-israel-and-hamas_6667274_8.html ;
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/despite-refutations-from-israeli-military-headlines-that-hamas-beheaded-babies-persist/3016167#; https://www.theguardian.com/commentisfree/article/2024/may/30/biden-palestinian-beheaded-israeli-babies ; https://www.aljazeera.com/opinions/2023/10/13/watching-the-watchdogs-babies-and-truth-die-together-in-israel-palestine.
¹² Elaborado por Michael Sfard e publicado pela ong Yesh Din em 2020, da qual faz parte, como esclarecem, um dos autores desse livro (Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2004, p. 151).
Déborah Danowski é filósofa, professora emérita da PUC-Rio, com vários artigos e pesquisas sobre a metafísica moderna. Ao longo das últimas décadas, tornou-se uma das maiores estudiosas do colapso climático e militante aguerrida pela causa da Terra. É autora, entre outros, de Há mundo por vir? Ensaio sobre os medos e os fins, em conjunto com Eduardo Viveiros de Castro (Cultura e Barbárie / ISA), e de diversos textos sobre o fenômeno do negacionismo nos séculos xx e xxi, dentre eles o cordel Negacionismos (n-1).