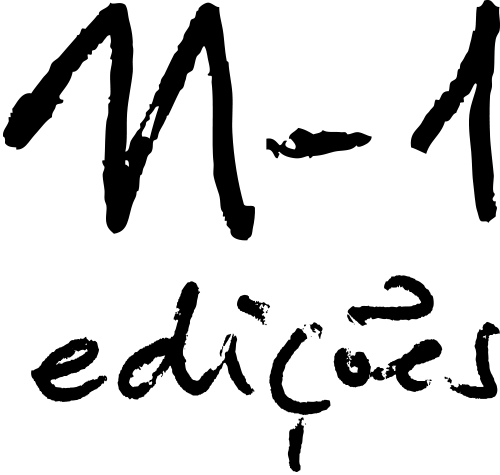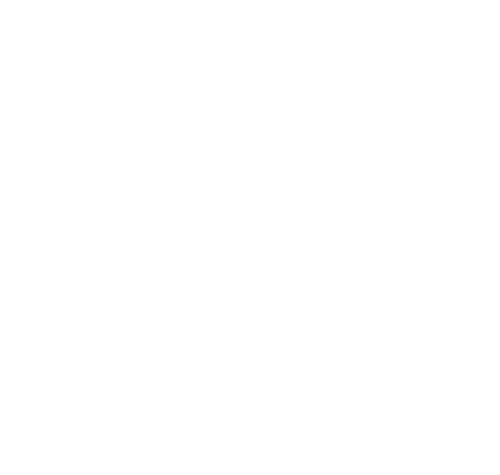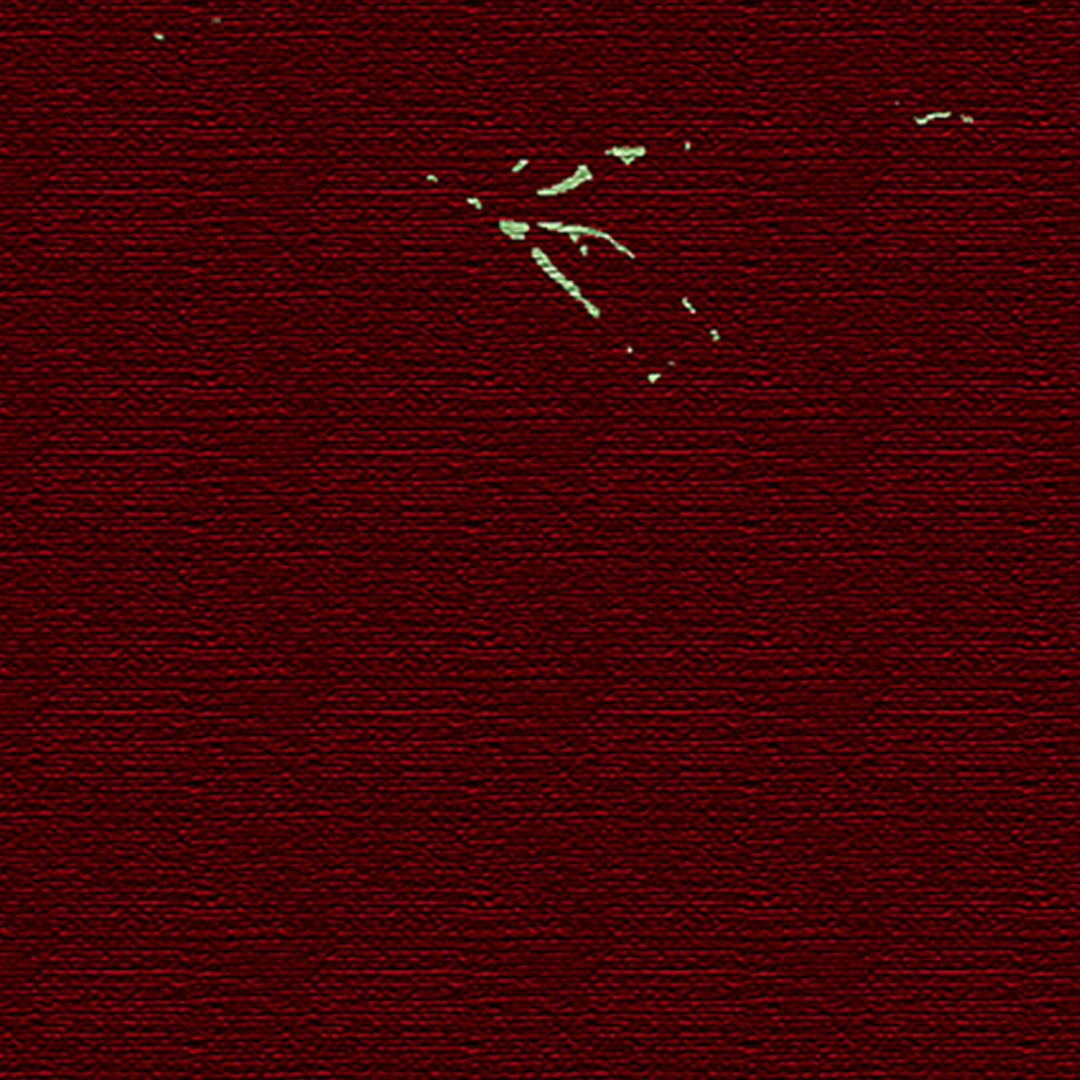
O extermínio de uma língua (Samuel Kilsztajn)
Os museus do Holocausto em todos os países dedicam-se à memória do extermínio em massa do povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, mas não há menção alguma ao extermínio do yiddish, a língua falada pela esmagadora maioria dos sacrificados. A língua e a pujante literatura yiddish foram ceifadas pelos nazistas, pelos soviéticos e pelo Estado de Israel. Ceifou-se a língua, a literatura e toda a milenar cultura yiddish. Em seu discurso ao receber o Prêmio Nobel de Literatura 1968, Isaac Bashevis Singer disse que, até onde sabia, todos os fantasmas falavam yiddish. O yiddish era a língua franca, a pátria dos judeus ashkenazim da diáspora, uma língua sem estado e sem exército, cuja única arma era a caneta.
Bentzi Laor e Peter Pál Pelbart, em O judeu pós-judeu, citando Gustav Landauer e Michael Löwy, destacam que os judeus na diáspora constituíam um povo mas não constituíam um Estado, escapando assim ao delírio estatista. De excluídos, os judeus na Europa se transformaram em cosmopolitas libertários. Nunca poderiam ser verdadeiramente ingleses, franceses, alemães, austríacos, poloneses ou russos… eram simplesmente verdadeiros europeus, por excelência, como diziam Nietzsche e Hannah Arendt. Eram europeus porque estavam representados em todas as nações europeias e, por princípio, posicionavam-se contra as desastrosas guerras entre suas potências. Violência e xenofobia não lhes diziam respeito. Muitos estudiosos fazem pesquisas para levantar o número e dedicação dos judeus que participaram das forças armadas em cada um dos vários países beligerantes durante a Primeira Guerra Mundial, mas o pacifismo dos judeus da diáspora é muito mais digno de condecoração.
O berço do yiddish era o Leste Europeu, a Yiddishland, onde todos os judeus, ortodoxos e laicos, nasciam falando yiddish. Mas o tempo dos judeus no Leste Europeu terminou. Hitler exterminou os yiddish falantes entre 1939 e 1945, Stalin exterminou os escritores e poetas yiddish em 1952 e Ben-Gurion fez questão de banir a língua e toda a cultura humanista, internacionalista e pacifista yiddish para criar o novo judeu viril, racista, nacionalista e militarizado, isto é, mundano, cínico e hipócrita, com dissonância cognitiva. Na sinagoga, enquanto pronuncia o Sh’ma Israel (escute, oh povo), o judeu, cabisbaixo, costuma cobrir os olhos fechados com uma das mãos, para poder enxergar sem ser iludido pelas sensações terrenas e mundanas.
Meus pais eram judeus poloneses sobreviventes, mas não queriam lembrar, queriam esquecer o Holocausto. Só depois que partiram comecei a escrever as suas memórias. Logo no início, me vi impelido a me dedicar ao yiddish, a língua materna em que ambos sonhavam e expressavam os seus sentimentos. Ingressei e participei ativamente dos quatro grupos de yiddish que se reuniam semanalmente em São Paulo. Quando me deparei com a literatura yiddish, que até então desconhecia, fiquei muito surpreso ao encontrar e reconhecer a cultura e os valores judaicos da diáspora que eu trazia incorporados dentro de mim.
Em 1948, depois da criação do Estado, meus pais imigraram para Israel, e, em 1953, ao abandonarem o país, o destino os trouxe às terras do Brasil. Dois dos grupos de yiddish se reuniam no então Arquivo Histórico Judaico Brasileiro, onde descobri que a imigração dos judeus sobreviventes do Holocausto e, particularmente, dos milhares de israelenses que abandonaram o Estado de Israel nos anos 1950 foi e continuava sendo deliberadamente silenciada, porque é politicamente inconveniente para a comunidade judaica brasileira. Entrei em contato com as instituições e os historiadores, mas, por fim, tive que arregaçar as mangas e levantar a história desses indesejados imigrantes, alcunhados de returnees quando desembarcaram na Europa para, num segundo momento, atravessar o Atlântico e alcançar as Américas.
Foi no Bom Retiro, onde a língua oficial era o yiddish, que esses israelenses reencontraram os seus perdidos shtetls. Em Israel, falar yiddish nas ruas era malvisto, quase uma contravenção. Os nazistas exterminaram os pais dos sobreviventes e os israelenses se empenharam em exterminar a sua língua materna. O primeiro-ministro David Ben-Gurion proibiu formalmente a nomeação de oficiais com sobrenomes yiddish para as forças armadas e para o corpo diplomático, forçando a substituição dos sobrenomes yiddish para hebraicos. O poeta Menke Katz, depois de ter sido conduzido à prisão em Israel por falar yiddish com o filho na rua, fez as malas mais uma vez e reemigrou para os Estados Unidos.
Por décadas seguidas, quando já estavam com a vida razoavelmente confortável, os judeus sobreviventes do Holocausto, que haviam imigrado para Israel e depois ancorado no Bom Retiro, mantiveram por hábito reunir-se semanalmente aos sábados e domingos pela manhã no característico entroncamento das ruas Ribeiro de Lima, Graça e Correia de Melo, o platzel, no restaurante com o sugestivo nome Europa, para o schnaps, aguardente, a mesa da alegria em que uma penca de amigos se banqueteava com iguarias judias do Leste Europeu e bebia vodka até cair sentada na sarjeta, tudo em yiddish.
A Torah foi compilada na Babilônia no século vi a.C. e, na Páscoa, os judeus lembram que foram escravos no Egito, isto é, já foram o Outro. Na mesma Páscoa, fazem votos de estar l’shana haba’ah b’Yerushalayim (no próximo ano em Jerusalém), isto é, no paraíso, com o Tikun Olam (reparação do mundo) já alcançado, onde reina a paz messiânica entre os povos, em que a ninguém é reservado o papel do Outro.
Mesmo nos campos de concentração, durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus faziam questão de comemorar às escondidas a Páscoa em que foram escravos no Egito. Quando eu estava escrevendo as memórias dos meus pais, achava muito estranho os judeus fazerem questão de se lembrar, com risco de represálias, da escravidão no Egito, em um lugar onde estavam em condições muito piores que as descritas na Torah – e eram literalmente exterminados, nem para escravos serviam.
Agora, estarem em Jerusalém comemorando a Páscoa, a saída do Egito e o levante suicida do Gueto de Varsóvia, enquanto submetem os palestinos à condição do Outro, na minha formação judaica, além de incompreensível, é revoltante. Não é mais dissonância cognitiva, é esquizofrenia. O premiado jornalista Gideon Levy do Haaretz costuma dizer que os israelenses insistem em ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mesmo que ela não queira, ao mesmo tempo em que desumanizam os palestinos para poder exterminá-los sem se sentirem culpados.
O poeta sânscrito Kālidāsa lembra que você só pode atuar no dia de hoje.
O passado já é um sonho
e o futuro apenas uma visão,
mas um presente bem vivido faz
de todo passado um sonho de felicidade
e de todo futuro uma visão de esperança.
Laor e Pelbart, citando Walter Benjamin, Stéphane Mosès e Jeanne Marie Gagnebin, nos dizem que o passado não está congelado e o futuro não está predeterminado. Primo Levi declarou que Israel havia sido um erro em termos históricos. No presente, o que restaria aos judeus seria ter a coragem messiânica de reconhecer a violência empreendida contra os palestinos na formação do Estado de Israel, sem medo dos desdobramentos futuros de tal reconhecimento – mesmo que isso possa levar ao fim do sonho e do projeto sionista. O Messias está predestinado a aterrar em Jerusalém, isto é, em nossos corações. Entretanto, no presente, o que o Estado de Israel está empenhado em fazer é cavar um abismo a seus pés.
Vou me permitir terminar este breve texto com um desabafo. Durante a ditadura militar no Brasil, fui preso, torturado, vi companheiros mortos, mas o maior trauma que carrego não é o do que vivi, e sim o que herdei de meus pais, o Holocausto que me acompanha desde sempre. E é com pesar que vejo o Holocausto sendo banalizado pelo Estado de Israel e seus apoiadores.
Samuel Kilsztajn nasceu em Jaffa em 1951, filho de judeus poloneses sobreviventes do Holocausto. Aos dois anos de idade imigrou para o Brasil, onde reencontrou seu perdido shtetl polonês no Bom Retiro, São Paulo. Participou ativamente do movimento político estudantil em 1968, durante a ditadura militar, e seguiu carreira acadêmica na área de economia política, demografia e saúde pública. Professor e pesquisador da Unicamp, com pós-doutorado na New School for Social Research/Nova York, é professor titular de Economia Política pela PUC-SP. Começou a exercer a profissão de terapeuta chinês em 2010 e, desde 2012, tem se dedicado a escrever ensaios e memórias.