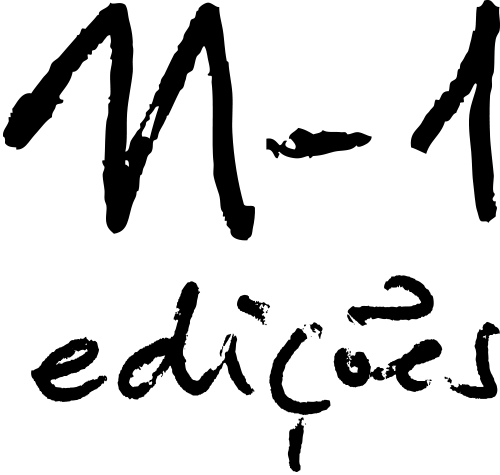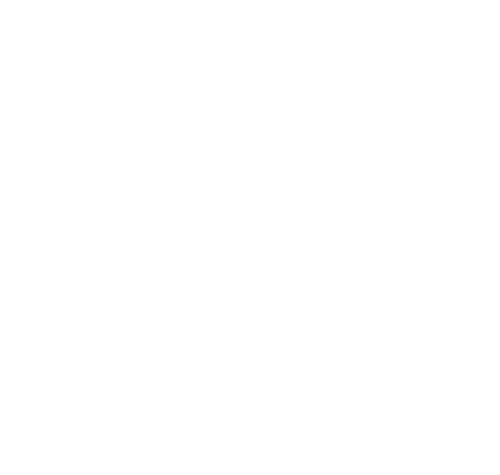Habitar a terra como estrangeiro (Jeanne Marie Gagnebin)
Entre novembro de 2023 e março de 2024, Bentzi Laor, que mora em Israel, e Peter Pál Pelbart, que mora em São Paulo, decidiram escrever este livro a quatro mãos. Ambos judeus, ambos horrorizados não só pelo atentado terrorista do 7 de outubro, mas também pelos massacres contra a população palestina perpetrados pelo Exército israelense como resposta ao atentado, em particular em Gaza. Os autores partem de dois pressupostos: primeiro, o Hamas não é um representante do povo palestino em seu conjunto nem Benjamin Netanyahu de todo o povo israelense; e, segundo, não ser sionista não significa ser antissemita. Vão procurar, então, como evocar uma “judaicidade” (traduzindo assim aquilo que Hannah Arendt chamou de Jewishness) que não seja sinônimo de pertencimento a um Estado (criado em 1948 na Palestina). Eles partem daquilo que nomeiam de “sentimento de desmoronamento”, que nos acomete a todos desde outubro do ano passado.
O livro O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia foi lançado em 23 de abril pela n-1 edições no terraço da biblioteca Mário de Andrade em São Paulo. Noite de lua cheia, vinho, recitação de poemas de jovens poetas israelenses e do grande poeta palestino Mahmoud Darwich, muita gente atenta, de todas as idades. Uma noite de amizade e poesia, com vinho e conversa – aquilo que poderia ser a imagem de uma vida compartilhada. Depois do lançamento houve poucas reações, pelo menos que eu saiba, e cada dia traz uma avalanche de notícias – catastróficas como as enchentes (previstas e previsíveis, mas não levadas a sério pelas “autoridades”) no Sul do país, escandalosas e revoltantes como a proposta do “PL do Estuprador” (como foi rebatizado acertadamente o projeto do deputado Sóstenes Cavalcante), sem falar da Guerra na Ucrânia ou dos refugiados do Sudão. Israel fica longe para os leitores brasileiros.
Mais profundamente, se refletir sobre essa guerra implica tomar “uma posição clara”, isto é, escolher um lado contra o outro e continuar num pensamento de oposições binárias, como hoje parece ser a única postura aceita, então ninguém se arrisca. Além disso, ninguém deseja ser tachado de antissemita ou de adepto de massacres. E devemos observar que na Europa (em particular na Alemanha e na França) ou nos Estados Unidos, as oposições se tornaram ainda mais virulentas, desembocando em interdições policiais.
Ora, quando Primo Levi, numa atitude próxima daquela do filósofo judeu Emmanuel Levinas, assinou uma carta em 16 de junho de 1982 – com outras cento e cinquenta personalidades judias – no jornal La Repubblica para pedir ao governo israelense que retirasse suas tropas do Líbano (onde assistiram sem qualquer reação ao massacre dos campos de refugiados palestinos de Sabra e Chatila por falanges cristãs) e que encaminhasse um processo de pacificação com os palestinos, houve no público judeu italiano uma onda de protestos contra o escritor e os outros assinantes. Na Itália inteira se seguiu uma onda ainda maior de ataques antissemitas. Essa crispação (eufemismo!) em relação à Palestina e a Israel parece somente repetir-se, até aumentar, como se no fundo todos nós quiséssemos nos livrar, mais uma vez, da questão judaica, desta vez aniquilando as populações palestinas.
Peter Pál Pelbart me pediu para falar da obra escrita com seu amigo e aceitei. Ao ler o livro, tento pensar naquilo que eu poderia dizer e me pergunto com cada vez mais insistência o que me cabe (eu, cidadã suíça, residente no Brasil desde 1978, filha de um pastor protestante – reacionário e antissemita – e irmã de dois pastores de esquerda e abertos a outras religiões – isso existe, sim! –, professora de filosofia e “especialista”, como se convém dizer, no pensamento de Walter Benjamin). Quais palavras, então, me caberia tentar articular. Significa também procurar entender por que e como essa história de exclusão, aniquilamento, mortes e memória dos mortos, saída do país natal e condição de estrangeiro ou estrangeira em outra terra, mudança de língua, tentativas de tradução e de aprendizado de outras línguas… porque e como tudo isso ressoa tão forte, hoje, na minha vida e na vida de tantos outros “deslocados”.
Mas vamos por partes. No texto de Laor e de Pál Pelbart há dois fios que se entretecem. Um reconstrói a trama de uma história pouco conhecida, ou pouco evocada hoje, a história da Palestina depois do fim do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial e o Mandato Britânico e suas promessas ambíguas, tanto às populações árabes (contra a Turquia na Primeira Guerra) quanto a um hipotético embrião de um “lar nacional judeu”, na Declaração Balfour de 1917, promessa endossada pelo sionismo nascente. Esse capítulo, intitulado “O sionismo à luz de uma história aberta”, traz muitos ensinamentos sobre a organização social das várias tribos e famílias árabes da Palestina na época e a nascente organização em vista da fundação de um Estado por muitos (não por todos, é bom observá-lo) dos primeiros imigrantes judeus. A conclusão do capítulo é clara:
Avaliando historicamente este período, talvez se possa afirmar que o projeto sionista não teve as mesmas características dos colonialismos das grandes potências europeias, mas se beneficiou do colonialismo inglês para seus próprios fins. Isso não teria acontecido sob o domínio Otomano, evidentemente. A aventura colonialista britânica mudou a dinâmica de poder na sociedade palestina, enfraquecendo a liderança civil e fortalecendo o projeto sionista.¹
Numa tentativa de reconstrução histórica, o outro fio essencial é um capítulo muito erudito que esclarece – e critica – a construção do “mito da continuidade do povo judeu”. Ora, “mito” não pode ser assimilado a uma simples mentira, significa muito mais a narrativa que corresponde à necessidade de construção de uma identidade coletiva, seja ela de um povo, de uma religião, de um partido ou até de uma família. Dispersos e frequentemente perseguidos em países diferentes, muitos pesquisadores judeus tentaram elaborar uma memória e história comum cujas bases encontrar-se-iam no Livro Sagrado, nos textos do Antigo Testamento. A Bíblia é assim lida como o livro da história de um povo, o povo judeu, numa continuidade cronológica e geográfica atestada pela Escrita Sagrada. No entanto, o capítulo desconstrói com paciência (em inúmeras notas eruditas) essa confusão entre um texto tomado como testemunho de um acontecimento histórico e os vários textos bíblicos – sendo esses testemunhos religiosos, sim, mas não descrições de fatos históricos. Essa transformação de textos sagrados muito diversos – tanto por suas épocas de redação quanto por seus gêneros literários – em relatos históricos que “provariam” a ancoragem de todos os judeus numa única história e num único território aponta para uma leitura fundamentalista (própria também de muitas leituras dos atuais chamados evangélicos de origem cristã), que desconhece toda reflexão hermenêutica, isto é, toda reflexão sobre a interpretação dos textos em questão. Ora, tanto na tradição judaica como na teologia cristã, a questão da interpretação das narrativas e dos mandamentos é onipresente, já que a palavra humana nunca consegue realmente dizer o Divino. Portanto, poderíamos afirmar que hermenêutica e teologia são inseparáveis, sendo o estatuto do texto bíblico sempre um objeto de pesquisa e nunca podendo servir de prova ou de fundamento histórico. Transformar esses textos em documentos históricos que deveriam assegurar a continuidade política de um povo e sua preeminência sobre outros povos fere profundamente aquilo que pretende respeitar, a saber, o caráter sagrado e, portanto, enigmático do Antigo ou do Novo Testamento.
Diz a conclusão do capítulo:
No heterogêneo universo judeu, a territorialização sobre o Estado criou diferentes formas de “ser judeu”, bem como transformou as que já existiam. Dois fatores foram decisivos: o Holocausto e o fato de o Estado ter se criado num lugar onde já havia um outro povo. O primeiro se tornou a justificativa inconsciente para a realização do segundo de maneira não conciliatória, gerando a tragédia palestina.²
Devo dizer que fiquei surpresa com a descrição do Holocausto como “justificativa inconsciente” para a criação belicosa do Estado de Israel. Talvez por ter lido vários livros de sobreviventes dos campos de concentração, sempre pensei que fosse, claramente, a justificativa principal depois do fim da Segunda Guerra. Se os primeiros sionistas chegaram à Palestina no início do século xx, fugindo antes de tudo dos pogroms da Europa Oriental, a “descoberta” da Shoah, do aniquilamento planejado e executado de cerca de seis milhões de judeus, evidenciou a urgência de uma “solução”, desta vez para tentar aplacar a culpa europeia – não só a deutsche Schuld, a culpa alemã – , mas a culpa de todas as nações que, com poucas exceções, não quiseram nem souberam proteger seus cidadãos judeus. Como sofreram com um genocídio assustador, os judeus sobreviventes necessitavam de uma compensação à altura do horror cometido, portanto de um abrigo – e este abrigo só podia ser uma pátria, ou seja, uma terra e um Estado, segundo uma forte vertente da ideologia sionista e, talvez mais ainda, segundo a doutrina colonialista ocidental…
Neste contexto, merece ser mencionada a atitude de vários judeus, profundamente judeus e dignos, como na Itália, eu diria Primo Levi, na Alemanha Franz Rosenzweig, Walter Benjamin e seu amigo, Gershom Scholem, que emigrou já em 1923 para Jerusalém, mas buscava por uma convivência pacífica com as populações árabes, Gustav Landauer (tão bem lembrado por Michael Löwy no seu livro Redenção e utopia), na França sobretudo Emmanuel Levinas: todos ressaltam o desejo legítimo de abrigo e de proteção, mas não defendem a necessidade de um Estado; mais ainda: desconfiam da instituição “Estado”, da ideia de nação com suas instituições e forças armadas, e da imposição de uma única língua (sobre isso ver os belos documentários da cineasta Nurith Aviv). Esses escritores e militantes judeus estão no centro do livro de Laor e Pelbart, num capítulo essencial intitulado “Messianismos heréticos”.
Os autores de O Judeu pós-judeu citam Levinas: “Comida (…), Bebida e (…) Abrigo, três coisas necessárias para o homem e que o homem oferece ao homem. A Terra é para isso. O Homem é seu Senhor para servir aos Homens, e nada mais”. Respondendo a seu amigo Maurice Blanchot, que lhe escreve por ocasião da criação do Estado de Israel em maio de 1948, Levinas observa com ironia:
E eis o anacronismo de um Estado judeu. Vão-se satisfazer todas as sedes que dois mil anos de privação exasperaram. (…) A sede de ministros, de embaixadores, de funcionários e militares que finalmente terão seus protocolos, seus oficiais de justiça, seus galões, suas honras, e com tudo isso deixarão uma política que só esperava sua liturgia.³
Uma página depois, Levinas diz que não sabe verdadeiramente como julgar o evento, que se sente como um intelectual que conserva num bocal velhas e belas ideias, que não pode medir algo de “desmedido” que se faz com a criação do Estado. No entanto, sua ironia, com ressonâncias de Kafka, aponta para duas questões essenciais que tento desenvolver a seguir.
Primeiro, poder-se-ia pensar em outra maneira de “habitar o mundo” (expressão cara a Paul Ricoeur), de cultivar a terra, que não passe pela criação de um Estado? (E ali reencontramos outros povos, em particular os povos originários das Américas). E, segunda questão: se essa possibilidade existir, ela certamente se encarna no povo judeu, que sempre se desloca, começando com Abraão, que sai do seu país para obedecer a Deus, continuando com Moisés no deserto, figuras de um exílio contínuo e essencial. Essa condição de “estrangeiros e peregrinos”, segundo as palavras da Epístola aos Hebreus (pois a tradição cristã também retomou este motivo do homem como “estrangeiro sobre a terra”), não seria somente característica dos judeus, ela é profundamente humana. Na introdução ao ensaio Être juif suivi d’une Lettre à Maurice Blanchot [Ser judeu e uma carta a Maurice Blachot], Danielle Cohen-Levinas cita uma afirmação de Emmanuel Levinas numa entrevista de 1987, durante um simpósio na Universidade de Bruxelas, na qual declara “Dans notre esprit, le juif c’est l’homme en tout homme”, explicitando que a presença divina se dá sempre na alteridade do outro.
Então, poderia o “nomadismo” dos judeus ser também interpretado como uma figura da universal ausência de estabilidade que caracteriza profundamente a vida humana? Uma ausência que significa ameaça de miséria e fome quando se vive numa sociedade caracterizada pela posse e pela propriedade como condição de sobrevivência digna, mas que também pode aludir a uma despossessão essencial (da mística de Mestre Eckhart à meditação filosófica de Emmanuel Levinas) e que permite uma liberdade ao mesmo tempo humilde e soberana, algo que, talvez, possa ser um dos nomes de “Deus”.
Ao evocar o exílio e o êxodo dos judeus, Maurice Blanchot escreve: “Le nomadisme répond à um rapport que la possession ne contente pas” [O nomadismo responde a uma relação que a posse não satisfaz]⁴. Reciprocamente, cantar a terra de sua infância e juventude, seus perfumes, suas cores, sua luz, como faz Mahmoud Darwich – e outros inúmeros poetas em outras regiões da Terra –, é uma homenagem à beleza, mas não atestado de propriedade. Aliás, homenagem e erotismo verdadeiros sabem da impossibilidade da posse.
Cita-se sempre Adorno e sua proibição de repetição de Auschwitz quando se trata de defender a política de segurança de Israel, que não recua diante da colonização forçada de territórios vizinhos nem de massacres de civis – como se proteger os judeus de um novo Holocausto permitisse outras práticas de exterminação. Ora, nem mesmo essa citação de Adorno justifica tal interpretação. Escreve ele na Dialética negativa:
“Hitler impôs um novo imperativo categórico aos homens em estado de não liberdade: a saber, direcionar seu pensamento e seu agir de tal forma que Auschwitz não se repita, que nada de semelhante aconteça.”⁵
Como se fosse por acaso, a segunda parte da citação é esquecida. Inúmeros eventos, sejam genocídios no sentido estrito ou não, aconteceram e continuam acontecendo – e aconteciam também antes de Auschwitz. Com essa observação, quero prevenir uma tendência atual que beira a obscenidade: uma comparação entre os vários massacres humanos para saber quem sofreu mais, uma estranha “concurrence victimaire” [concorrência vitimária], segundo a expressão de François Azouvi. Sobretudo na Europa, essa postura talvez seja uma reação de cansaço à insistência na necessidade da memória da Shoah e da luta contra o antissemitismo (que sempre volta). Insistência que oblitera outras aniquilações que o pensamento decolonial, com razão, quer recordar e pesquisar em homenagem aos mortos, em particular à multidão daqueles cujos nomes são ignorados – como diz Walter Benjamin. Sem falar dos genocídios perpetrados hoje, sob os nossos olhos cansados, que não teriam a mesma “importância” paradigmática da Shoah.
Em maio de 1997 tive a possibilidade de participar de um colóquio em Paris sobre a “Associação Interuniversitária de Pesquisa sobre Campos e Genocídios” (Aircrige), fruto de um seminário dirigido em conjunto durante dois anos por Catherine Coquio (Sorbonne) e Irving Wohlfarth (Reims). Embora tenha ocorrido no fim do século passado, continua a ressoar nos trabalhos dos participantes, mais de cinquenta pesquisadores oriundos de diversos continentes. Lembro-me de uma primavera luminosa e quente com uma explosão de cheiros e cores nas ruas e nos parques de Paris, um contraste absoluto com a sala austera da Sorbonne com seus bancos estreitos de madeira… Contraste ainda mais agudo com a sucessão de relatos insuportáveis e questões sem resposta, sempre e ainda Auschwitz, mas também os povos originários ameríndios, o Ruanda, Srebrenica, a denegação dos gulags na memória francesa de esquerda etc. sobre a China, sobre o Kosovo, sobre a Turquia e o genocídio armênio.
Saí do seminário com algumas certezas dolorosas. A primeira é que comparar ou até construir uma escala de sofrimento nas variações humanas de aniquilamento é uma ocupação vã. A segunda é que a construção da memória do passado não depende da intensidade do sofrimento nem do número de vítimas, mas de interesses ideológicos e lutas políticas que pertencem ao presente, portanto, de uma vontade ética e política precisa e atual: memória e desmemória são sempre datadas de hoje (o Brasil é um caso exemplar…). Conclusão: quando não se pode lembrar – quando são impostos silêncio e denegação – não é porque aquilo que aconteceu foi sem importância, um acidente infeliz mas raro, mas porque a lembrança dos mortos coloca em perigo o poder dos vivos atuais. Duas sobreviventes do genocídio armênio, reconhecido em 1997 somente pelo Uruguai (hoje isso mudou em parte, mesmo que se cuidem as relações com a Turquia), apontaram para a ruptura que a morte não reconhecida de seus pais ou avós instaura na vida dos eventuais descendentes, órfãos proibidos de luto.
O contraste entre o genocídio armênio e o Holocausto judeu explicita talvez a singularidade deste último, que não significa nem unicidade nem exemplaridade e, sobretudo, não justifica uma vingança eterna. O apego à memória, à tradição e à escrita que sempre caracterizou a “judaicidade” permitiu, sim, que a Shoah se torne o símbolo do horror, graças ao trabalho de elaboração dos sobreviventes. Os povos originários da Amazônia também foram quase extintos, mas a memória escrita desses massacres pertence aos conquistadores que os mataram, e a memória oral – que existe – não tem um estatuto reconhecido.
Uma última observação. Na minha existência de estudante e de professora de filosofia, a Shoah adquiriu, de fato, um estatuto excepcional, porque seus carrascos e funcionários pertenciam a uma tradição cultural que era e continua sendo a minha. Reconheço que há outras tradições de pensamento que não conheço bem e que talvez sejam mais amigáveis e respeitosas com a Terra e seus diversos habitantes. Mas a filosofia e a música!, em particular alemães, sempre quiseram ser práticas de emancipação e de resistência à injustiça.
Que essa tradição não conseguiu lutar eficazmente contra o Nazismo e que muita gente “culta” acolheu (e acolhe) o Fascismo, essa derrota deve ser interpretada – mesmo reconhecendo o peso da miséria econômica e política que assolou a República de Weimar – como o foi por Adorno e Horkheimer: uma falha gritante da nossa assim chamada racionalidade, da Aufklärung que pretendia dissipar a escuridão do mundo. Isto é, tornou-se difícil crer em Deus depois de Auschwitz, sim, e, mais concretamente, também se tornou difícil confiar na nossa razão (Nietzsche já havia pressentido). A filosofia não pode mais pretender construir um sistema de explicação e de dominação do mundo, talvez devesse se transformar num exercício mais modesto, mas imprescindível, um exercício de atenção ao “real” e de invenção de outra realidade.
¹ Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2004, p. 129.
² Ibid., p. 81.
³ Être juif suivi d’une Lettre à Maurice Blanchot, Rivages poche, 2015, p.74.
⁴ L’entretien infini, p.183.
⁵ Grifado por mim.
Jeanne Marie Gagnebin nasceu e se formou na Suíça, depois na Alemanha. Desde 1978 mora e ensina no Brasil. Foi professora titular de filosofia na PUC-SP e livre-docente de Teoria Literária na Unicamp. Trabalha sobre o pensamento de Walter Benjamin e as questões ligadas ao lembrar e ao esquecer.