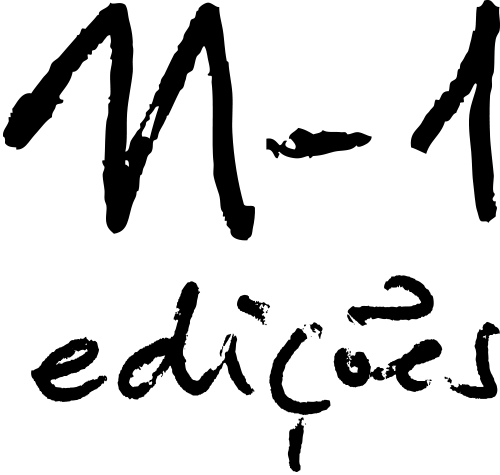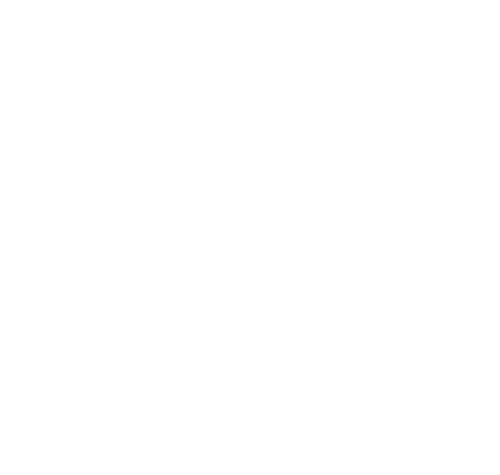Dialética do Sionismo (Mauricio Tragtenberg) (1982)
*Originalmente publicado na revista Escrita – Ensaio. São Paulo, Escrita, 1982. Republicado posteriormente em: Teoria e ação libertárias. São Paulo: Edições Unesp, 2011.
O sionismo aparece como um fato “revolucionário”: leva as pessoas a deixarem seu país para viverem uma vida radicalmente diversa, renunciando à sua origem social, à sua língua, às suas relações sentimentais, rompendo brutalmente com seu passado, para reconstruírem sua vida. Os únicos precedentes paralelos são as Cruzadas e os emigrados que fundam os EUA. Nos futuros Estados-Nação não estava previsto um lugar para os judeus. Eles eram “diferentes”. Mais e mais o deixar de largar tudo e construir um “lar nacional” animava os judeus. Todos esses movimentos nacionais tinham uma matriz comum: voltados ao passado, cada povo cada povo cuidava de inventar um passado nacional glorioso pretendendo marcar por sua existência o retorno a uma “idade de ouro”. Era natural que os primeiros sionistas na lógica dos movimentos nacionalistas da época tinham a tendência a ver num território nacional a solução do problema judeu e visualizar na sua vida num novo Estado um prolongamento da história judaica, após curta interrupção de 2000 anos. Os velhos reinos judeus criaram a primeira comunidade centrada no Primeiro Templo. Após o retorno do exílio babilônio a segunda comunidade judaica instituiu-se em torno do Segundo Templo. Era chegado o momento de criar uma Terceira Comunidade, um Estado Judeu Moderno, um verdadeiro Terceiro Templo. O pensamento político sionista torna-se inseparável de uma mística religiosa. Embora Herzl, o autor de O Estado Judeu, não fosse movido por uma inspiração messiânica, com o contato das massas judaicas da Europa Central, convence-se que essa mística era essencial ao sionismo.
Outro elemento integra o desenvolvimento do nacionalismo judaico: o ideal socialista. Para os jovens judeus dos guetos da Rússia e da Polônia os evangelhos eram Marx, Tolstói. O trabalho manual exerce uma atração mágica sobre esses jovens que assistem seus parentes envelhecerem como comerciantes ou usuários. Todas essas aspirações resumem-se numa só: partir, não ser mais uma minoria sem defesa, à mercê da primeira tropa de cossacos que encontram no judeu o “bode expiatório” da incapacidade do Czarismo em atender aos reclamos populares.
Deixar essa miserável existência que leva ao autodesprezo do corpo e do espírito. Trabalhar a terra e se libertar pelo contato místico com ela, nossa mãe. Criar uma sociedade sem senhores e escravos onde todos serão iguais. Realizar isso no “seu” país, marchar nas esteiras dos antigos heróis de seu povo, ressuscitar uma comunidade judia, viver nos espaços dos relatos bíblicos, tal era o sonho. Esse sonho maravilhoso, exultante, conduziu inúmeros jovens judeus da Europa Central à uma província turca denominada Palestina.
Esse movimento de libertação, puro e corajoso, se propunha a criar uma sociedade harmoniosa onde a única luta a ser travada era a luta contra si mesmo, no meio de tanto entusiasmo um fato perdeu-se de vista: a Palestina já era um território habitado.
O sionismo político inicia-se com a obra de T. Herzl, O Estado Judeu, que trata da “habitação dos trabalhadores”, da “aquisição de terras” dos “operários não qualificados”; tudo é previsto, inclusive as cores da nova bandeira nacional.
Em toda obra de Herzl não há uma só menção sobre a existência dos árabes palestinos. Explica-se quando Herzl sonha com o “Estado Judeu” pensando em localizá-lo em qualquer lugar, Argentina, Canadá ou Uganda. Somente quando redige o último capítulo de seu livro verifica que só a Palestina como espaço do futuro “Estado Judeu” seria capaz de mobilizar emocionalmente as massas judaicas da Europa Central. Para ele, o “Estado Judeu” na Palestina se constituiria num “ponto firme da civilização contra a barbárie, num posto avançado da Europa na Ásia”.
Segundo Chaim Weizmann – que se tornou primeiro presidente de Israel – no Congresso Sionista de 1931, admite que Herzl não ligava necessariamente o sionismo a um Estado Judeu, nem a Palestina como sede.
Weizmann nota que no 1° Congresso Sionista em 1897, quando Herzl admite a ideia da ressurreição de o povo judeu dar-se na Palestina, a fórmula “Estado Judeu” desaparece de suas declarações. O programa sionista adotado pelo Congresso preocupa-se em “assegurar uma existência legal aos judeus na Palestina”.
Era a época do apogeu do imperialismo, aureolado de glória e idealismo, quando os poemas de Kipling cantam o “fardo” do homem branco em territórios inóspitos. Cecil Rhodes era convertido em herói. Não se relacionava o ressurgimento da Ásia ou África com o surgimento dos nacionalismos europeus.
O sionismo no seu início não é somente o produto dos nacionalismos europeus, faz parte da última vaga da expansão imperialista. O sionismo apareceu cem anos depois, sem poder beneficiar-se do movimento da expansão europeia, trinta anos antes, para encontrar a resistência afro-asiática à sua presença em terra árabe.
Os sionistas, por ocasião do congresso da Basiléia de 1897, não conheciam a Palestina, onde jamais puseram os pés. Só conheciam uma realidade: a Europa com seus pogroms, discriminações e terríveis presságios de futuras tragédias. Sabiam vagamente que a Palestina possuía alguns habitantes, mas isto na época não constituía um centro de preocupações.
Herzl era um europeu, e suas ideias eram respostas a situações europeias. Os sionistas contemplavam o passado do povo judeu e não a paisagem da Palestina.
Sion e a menor colina de Jerusalém tornam-se símbolo religioso, local da palavra divina. A Estrela de David é o símbolo do novo movimento. O novo Estado escolhe a menorah, o candelabro do templo, como símbolo agregado. Nesse universo simbólico não há espaço para o período não hebraico da história Palestina, muito menos para a herança gloriosa de outras nações semíticas irmãs.
Herzl procurava o apoio das grandes potências para seus projetos, daí dirigir-se ao Sultão da Turquia:
Se Sua Majestade, o Sultão, nos desse a Palestina, poderíamos comprometer-nos a estabilizar completamente a as finanças da Turquia. Para a Europa, constituiríamos ali um bastião contra a Ásia, seríamos a sentinela avançada da civilização contra a barbárie. Manteríamos, como Estado neutro, relações constantes com toda a Europa, que deveria garantir a nossa existência. (Herzl, L’ Etat Juifs, Paris, Lipschutz, 1926, p. 95).
Eis o sionismo colocado no quadro das políticas imperialistas europeias. O texto aprovado significava no pensamento dos fundadores: visar a autonomia da Palestina judia sob a soberania do sultão com a garantia das grandes potências.
Outro traço da política de Herzl era especular com o antissemitismo e com o desejo de se desembaraçar da população judia, para promover a emigração à Palestina. Assim, em 1903, Herzl obteve do ministro czarista Plehve, organizador de pogroms, iniciando uma tradição política em que a convergência do programa sionista com o dos antissemitas, abertamente reconhecida por ele, tornava-se quase fatal. Plehve promete ao sionismo “apoio material e moral na medida em que certas de suas medidas práticas sirvam para diminuir a população judia na Rússia”, conforme relata Bernfeld (Le sionisme, étude de droite international public, Paris, Jouve, 1920, p. 399 et seq.).
Isso leva Herzl a dizer que “até hoje meu partidário mais ardente é antissemita de Petersburgo (hoje Leningrado) Ivan V. Simonyi, conforme relata A. Chouraqui” (Herzl, 1926, p. 141). Witte, ministro das Finanças do Czar, explica a Herzl que “se fosse possível afogar no Mar Negro seis ou sete milhões de judeus, ficaria perfeitamente satisfeito com isso; mas como tal não é possível, nesse caso devemos deixá-los viver”. Quando Herzl observa que espera do governo russo certos estímulos, ele responde: “Mas damos aos judeus estímulos para emigrarem, como, por exemplo, pontapés.” (Herzl, 1926, p. 301 et seq.). Herzl reconhece que “objetar-me-ão razoavelmente que faço o jogo dos antissemitas quando proclamamos que constituímos um povo, um povo único.” (Herzl, 1926, p. 259).
A realização do Estado sionista liga-se a um ato político inglês, a Declaração Balfour de 2 de novembro de 1917. Por que motivos a Inglaterra emitiu a Declaração Balfour? Para alguns antissemitas, ela o fez para compensar os pretensos esforços dos judeus norte-americanos para arrastarem os EUA para a guerra ou pelas vultuosas compras de títulos de guerra pelos judeus ingleses, ou pela teoria romântica, segundo a qual a Declaração se deu como resposta à invenção de um poderoso explosivo por Heinz Weizmann utilizado pela Inglaterra. Como é inaceitável a tese de Chaim Weizmann segundo a qual isto se deu por obra da sedução exercida pelo Grande Retorno sionista no espírito dos ingleses impregnados pela Bíblia, como ele formula em Trial and Error (London, 1950, p. 226).
Sabia Weizmann que uma potência empenhada numa guerra de alcance mundial não se moveria por razões metafísicas para conferir aos sionistas um “Lar Nacional Judeu” na Palestina, daí escrever ele (1950, p. 258) que “ao apresentar-vos a vossa resolução, confiamos o nosso destino nacional e sionista ao Foreign Office e ao Gabinete de Guerra Imperial, esperançados em que o problema seria considerado à luz dos interesses imperiais defendidos pela ‘Etente’”.
Os grandes motivos da Declaração Balfour foram outros. Foram os efeitos de propaganda esperados sobre os judeus dos Impérios Centrais e da Rússia na esperança de colher benefícios na futura liquidação do Império Otomano. Os judeus da Alemanha (onde esteve instalada a sede da Organização Sionista até 1914) e da Áustria-Hungria tinham sido conquistados para o esforço de guerra pelo fato de se tratar de combater a Rússia czarista, perseguidora dos judeus. No território russo conquistado, os alemães apresentavam-se como protetores dos judeus oprimidos, como libertadores do jugo moscovita. “Por demasiado tempo haveis sofrido o jugo de ferro moscovita”, declara na sua proclamação aos judeus da Polônia, o Alto Comando dos Exércitos Alemão e Austro-Húngaro em agosto/setembro de 1914. É irônico, depois da experiência que se seguiu – com o nazismo – ler esta violenta denúncia dos pogroms e do antissemitismo czarista. Os partidos social-democratas alemão e austro-húngaro utilizavam também o álibi da luta contra o czarismo como reacionário e antissemita para justificarem seu apoio ao governo na guerra imperialista.
Por outro lado, a Revolução Russa reforçava as tendências derrotistas na Rússia. Atribuía-se aos judeus papel importante na Revolução Russa. Era fundamental dar-lhes motivos para apoiarem a causa aliada. Não constitui mera coincidência a Declaração Balfour surgir cinco dias antes de 7 de novembro (25 de outubro no calendário juliano) em que os bolcheviques tomaram o poder. Um dos objetivos da Declaração era apoiar Kerensky. Pensava-se também na força dos judeus norte-americanos, pois os EUA juntaram-se aos Aliados, daí ser necessário obter um esforço máximo quando neles predominava a tendência ao pacifismo. Isso confirmado pela Declaração de Lloyd George à Palestine Royal Commission em 1936:
Os dirigentes sionistas fizeram-nos a promessa firme de que se os aliados se comprometessem a dar-lhes facilidades para o estabelecimento de “Um Lar Nacional” na Palestina, fariam o que estivesse ao seu alcance para mobilizar os sentimentos e o auxílio dos judeus à causa aliada através do mundo. Fizeram o melhor que podiam. (George apud Lencowski, 1962, p. 81 et seq.).
Era necessário antecipar-se aos sionistas alemães e austríacos que negociavam com os seus governos uma espécie de Declaração Balfour, conforme relata K. J. Herrmann (1965, p. 303-20).
Enquanto isso, as grandes potências manobravam junto a Hussein para uma revolta contra os turcos em troca de um grande reino árabe, no mesmo momento o acordo Sykes-Picot partilhava em 1916 na mesma região as zonas de influência entre a Inglaterra e França, esta utilizava suas relações com os libaneses para edificar a Grande Síria (incluindo a Palestina), não era mau dispor do Oriente Médio de uma população ligada à Inglaterra pelo reconhecimento e necessidade. Converter a Palestina em problema especial, atribuindo à Inglaterra uma responsabilidade particular, que era obter base sólida de reivindicação na partilha após a guerra. Weizmann (1950, p. 243) insistiu no seu pedido à Inglaterra para que ela exercesse um protetorado sobre o futuro Estado Judaico. A vitória sobre o Império Otomano na Palestina e Síria permitiu a aplicação da Declaração Balfour.
Segundo Weizmann, até 1918 a questão árabe estava em segundo plano e os sionistas a tinham negligenciado. Porém, a fase de realização do sionismo coincide com o surgimento do movimento nacionalista árabe. Ainda era possível uma aliança entre o sionismo e o movimento nacional árabe, o dirigente árabe mais importante oferecia na época aos sionistas um Estado autônomo reunido à Síria sob sua coroa; trinta anos depois o Rei Abdullah, irmão de Faiçal, fazia o mesmo. Mas a direção do movimento sionista instalada na Palestina após 1918 não o aceitou. Nenhum de seus membros tinha a mais leve noção do que era o movimento nacionalista árabe, a união contra o imperialismo lhe parecia sem importância. Faiçal mostrara-se favorável ao estabelecimento de uma comunidade judaica na Palestina sob sua coroa. No seu universo tribal, a raça se constituía em fator importante, ele considerava os judeus membros da família semítica. Numa de suas “Mensagens” ele desculpa-se por não poder comparecer a uma das assembleias da Organização Sionista por razões puramente circunstanciais, ajuntando que “tais manifestações são importantes para a compreensão entre duas nações unidas por tão antigos laços”. Em 1919 ele manifestara-se junto ao líder judeu norte-americano, Felix Frankfurter:
Sabemos que árabes e judeus são irmãos de raça. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance para aceitarmos as propostas sionistas na Conferência de Paz e acolheremos de todo coração os judeus que juntarem-se a nós. O movimento judeu não é um movimento imperialista, é um movimento nacional. Creio verdadeiramente que, para atingir seus objetivos, cada um de nós precisa do outro.
O acordo Faiçal-Weizmann previa formação de um grande Estado árabe apoiado pela Organização Sionista e o apoio árabe à formação de um Estado palestino. Isso jamais foi realizado. Faiçal colocou como condição a aceitação de suas pretensões a Síria junto à Conferência de Paz, fazia o acordo depender da outorga da independência árabe, sem o que não valia. Os franceses invadem Damasco, depõem Faiçal, reprimem o nacionalismo sírio e palestino. Mas em 1920, na Conferência de San Remo, as teses sionistas são aceitas pelas grandes potências.
A situação tem seu desfecho com o Mandato conferido à Inglaterra concedido pela Sociedade das Nações a 24 de julho de 1922, com a finalidade de criar um estado de coisas destinado ao estabelecimento de um Lar Nacional na Palestina aos judeus.
Algumas conclusões parciais se impõem. A realização de um projeto sionista iniciou-se depois, graças a um ato político obtido da Grã-Bretanha pela pressão da Organização Sionista. Com isso esperava a Inglaterra obter o apoio à sua política geral em relação aos judeus da Rússia e dos EUA, também em função de seus interesses no Oriente Médio após a decadência do Império Otomano. A Inglaterra conciliava o apoio ao projeto sionista com o apoio à dinastia hachemita. Os dirigentes sionistas ajudaram essa conciliação mantendo em hibernação a ideia de um Estado judeu, contentando-se em reivindicar direito à emigração de judeus à Palestina. Razão pela qual os palestinos árabes podem legitimamente considerar que a implantação de um elemento estrangeiro novo (o europeu) lhes foi imposto por uma nação europeia, graças à vitória militar de um grupo de nações europeias contra um outro grupo que aderira o Império Otomano.
A reivindicação da independência do Estado de Israel ante a Inglaterra tem como base a existência, em 1943, de 539 mil judeus, ou seja, 31,5% da população total quando em 1922 a proporção não atingia 11%. Essa imigração maciça só foi possível com o apoio inglês. Daí os dirigentes sionistas sob mandato inglês reclamarem o reforço do corpo de polícia britânica e se oporem a qualquer organismo representativo que diminuísse por pouco que fosse a autoridade do Alto Comissário.
Os mesmos acontecimentos que serviram de base para a instalação de um Estado judaico serviram para desembaraçar os árabes do jugo turco. Porém, em vez do Estado árabe unitário independente, eles assistiram a “balcanização” da região pelas potências ocidentais, dividida a região entre a França e a Inglaterra. Enquanto, porém, as organizações nacionalistas árabes tinham como base de suas reivindicações as massas locais, as organizações sionistas tinham contra elas a maioria do povo do país onde queriam estabelecer um Estado soberano.
A Inglaterra publicara o Livro branco em 1939, onde rechaça a ideia de um Estado judeu englobando toda a Palestina, ao mesmo tempo que limita a imigração e a venda de terras a sionistas. O nazismo tornou-se num elemento de pressão do judaísmo na Palestina, contrário ao Livro branco e às limitações à imigração. Em fins de 1943 a população judia na Palestina atingia 32%.
Isso possibilitava ao sionismo falar claro:
O fim do sionismo manteve-se inalterável desde Herzl: a transformação da Palestina numa pátria judaica, a fundação de um Estado judeu. Por motivos de tática política esse fim nem sempre foi abertamente enunciado. Mas o desenvolvimento da Palestina e do problema judaico em geral atingiram um tal grau de maturidade que se tornou falar claro. (Weizmann, 1950, p. 139).
No Livro branco a Inglaterra tornava claro que o estabelecimento de um Lar Nacional Judeu na Palestina não significava impor a nacionalidade judia a todos os habitantes da Palestina, mas desenvolver a comunidade judaica já existente com o concurso de judeus de outras partes do mundo. A Organização Sionista decidiu aceitar o Livro branco supondo que “se for aplicado, oferece-nos um quadro para construir uma maioria judaica na Palestina e para levar à eventual fundação de um Estado judeu”. (Weizmann, 1950, p. 361).
Foi com o acordo sionista sobre a interpretação da Declaração Balfour excluindo um Estado judeu que foi apresentado na Liga das Nações o projeto do texto concedendo à Inglaterra o mandato sobre a Palestina que a Liga das Nações o retificou a 24 de julho de 1922.
Com isso não concordava a facção “revisionista” dirigida por Jabotinsky, no seio da Organização Sionista; pleiteava ela uma ação militar que constituísse o Estado judeu nas duas margens do Jordão, sem levar em conta os árabes.
Bem ou mal a Inglaterra representou junto à comunidade judaica na Palestina o papel de Metrópole de uma colônia de povoamento, devido ao apoio ao crescimento da mesma, da mesma maneira como proteger a colonização britânica na América do Norte e a França, a colonização francesa.
A primeira revolta dirigiu-se contra a Inglaterra, daí a formação das unidades terroristas do Irgun e Grupo Stern, quando surge o Programa de Baltimore que pede um Estado judeu sobre toda a Palestina e um Exército judaico e a imigração ilimitada de judeus à Palestina. Isso fez passar ao segundo plano a questão árabe.
O que impressiona é ver jovens exaltados em quererem livrar “seu país” da tirania inglesa não lembrarem que os “indígenas árabes” teriam algo a dizer também. Embora grupos árabes se dirigissem ao Irgun oferecendo-se para combater contra o imperialismo inglês. Porém, nesse momento a ideia de um Estado binacional entra em desuso, ficando claro que no futuro Estado instalado na Palestina judaizada pela imigração ilimitada os árabes teriam que escolher entre a subordinação e a imigração.
Por isso, em 1946 Martin Buber censurava o sionismo oficial em procurar firmar-se mais em acordos internacionais em vez de um acordo na região com os árabes, interessados diretos. Daí precisar ele que
o programa de Baltimore (nome de um Hotel norte-americano onde se realizou a reunião da Organização Sionista) interpretado como reconhecendo o objetivo da “conquista” do país mediante manobras internacionais, não só desencadeou a cólera árabe contra o sionismo oficial, mas tornou suspeitos todos os esforços tendentes a uma compreensão entre judeus e árabes. (Buber, 1947, p. 7- 13).
Daí veio a Partilha decretada pela ONU, não aceita pelos árabes, que desencadeou a Guerra de Independência de Israel. Porém é necessário entender que para as massas árabes aceitarem as decisões da ONU significava uma capitulação sem condições perante um diktat da Europa, do mesmo tipo que a capitulação dos reis negros ou amarelos do século XIX ante os canhões ocidentais apontados para seus palácios. A Inglaterra, como potência mandatária na Palestina, impedira uma reação indígena para expulsar esses colonos, ao mesmo tempo que dava a garantia falaciosa de que se tratava da implantação pacífica de alguns grupos perseguidos e inofensivos, destinados a permanecerem minoritários. Quando o desígnio real deles se revela, o mundo euro-americano com a URSS queria impor aos árabes o fato consumado. Roosevelt e Truman não prometeram que não tomariam nenhuma decisão a respeito da Palestina sem consultar judeus e árabes, em cartas a Ibn Seud de 5 de abril de 1945 e 28 de outubro de 1946? Após a guerra a minoria árabe em Israel ficou sendo considerada quinta-coluna, daí a ampliação das medidas discriminatórias que já estava sofrendo há tempos.
Isso leva-nos a uma conclusão particular. A implantação na Palestina de uma nova população de origem europeia, se deu em consequência de um movimento ideológico europeu, o sionismo. Alcançou sua finalidade: o domínio sobre o território onde se implantavam os imigrantes, graças à Declaração Balfour com força de Direito Internacional pela vitória dos Aliados sobre o Império Otomano, graças à força da comunidade judaica na Palestina, com sua capacidade de manipular técnicas modernas, armas e organização do poder de pressão que dispunha na Europa e América. Aliem-se o sentimento de culpa europeu pelo genocídio cometido pelos nazistas, seus irmãos de cultura europeia, e seu desejo de se desculparem, sem grande mal, em detrimento dos árabes palestinos. No decurso do processo, desejos, sentimentos e aspirações árabes não foram levados em consideração. O acordo Faiçal-Weizmann nascera morto, pois o primeiro não conseguira o apoio das massas árabes para suas reivindicações. Por outro lado, a história tem sua lógica interna: querer criar um Estado judeu na Palestina árabe do século XX só conduziria a uma situação colonial, com um tipo de racismo e afrontamento militar de etnias.
Fundamentar em direitos históricos a colonização sionista é não conhecer a história. O último Estado verdadeiramente independente da Palestina desapareceu em 63 a.C. quando Pompeu se apoderou de Jerusalém.
Esse processo termina com a revolta de Bar Kochba contra o imperialismo territorial romano em 135 d.C. A população judia na Palestina diminuiu em consequência das deportações e da escravização, mas sobretudo pela emigração (já considerável muitos séculos antes da perda da independência) e pela conversão de inúmeros judeus ao paganismo, cristianismo e islamismo. É muito provável que os habitantes considerados árabes da Palestina possuíam mais “sangue” hebraico do que a maior parte dos judeus da Diáspora (Dispersão) cujo exclusivismo religioso não impedia a absorção dos convertidos de origem diversa. O proselitismo religioso foi importante na própria Europa Ocidental, durante séculos, o mesmo ocorreu em outros locais durante longos períodos. Historicamente, bastará para nos convencermos disso evocar o Estado judeu da Arábia do Sul no século XI de base árabe meridional judaizada, o Estado judeu turco dos Khazars, no sudeste da Rússia nos Séculos VIII a X, os judeus assimilados da China, os judeus negros do Cochim, os falashas da Etiópia. Admitindo-se que o grupo heterogêneo formado por todos os judeus do mundo permanecesse em contato com o judaísmo religioso, que ele fosse considerado dotado de caracteres permanentes a despeito de suas mudanças internas, caberia perguntar: como seria possível atribuir-lhes direitos sobre um território determinado? Nesse caso, poderiam os árabes reivindicar a Espanha.
O caráter colonial da implantação do sionismo na Palestina reside no fato de que o sionismo não desejava as riquezas do país, mas sim a substituição da mão de obra árabe pela judaica na Palestina. A compra de terras pela organização sionista dos latifundiários árabes levou o felah à exclusão do processo produtivo: quando mais aumenta a compra sionista de terras, mais aumenta o número de camponeses árabes sem terra. É a colonização sionista que cria reativamente o nacionalismo árabe. Os camponeses árabes diaristas, despojados de suas terras, são a base do problema palestino. Inimigo da assimilação judia, o sionismo crê que possa assimilar os árabes a seu projeto.
A criação de uma central sindical ao mesmo tempo empresarial como a Histadrut, que integra o “trabalho judeu” nas suas fileiras e exclui o árabe, é um dos fundamentos de uma formação econômico-social de apartheid. Trabalho “judeu” e produção “judia” são a base da Histadrut. Ela a responsável por 20% do produto bruto produzido.
Segundo o líder trabalhista sionista Tabenkin, o movimento operário sionista, sofrendo concorrência da mão de obra árabe, estabelece uma economia judia nova. O processo de autocriação de uma classe operária judia em Israel se dá pela expulsão da mão de obra árabe das colônias judias e a criação de uma economia sionista nova fundada sobre a colonização operária, por meio do fundo nacional e instituições associadas. Como a mão de obra judia é mais cara que a árabe, o empresário judeu é subsidiado pela Organização Sionista para aceitá-la.
Após proclamação do Estado de Israel verifica-se a espoliação metódica das terras árabes; assim publicava em 1948 uma “Proclamação de Urgência sobre as propriedades de pessoas ausentes”, elevada a lei em 1950 com o título “Lei Sobre a Propriedade de Pessoas Ausentes”. Considera-se ausente o camponês árabe em Israel que abandona seu antigo domicílio antes de 1º de agosto de 1948 ou que se instalou por qualquer razão naquelas áreas da Palestina controladas por forças opostas ao Estado de Israel entre 29 de novembro de 1947 e a abolição do “Estado de Emergência” instituído pelo governo em 19 de abril de 1948.
Muitos dos árabes “ausentes” se deveu ao temor do campesinato árabe à repetição do massacre da aldeia de Deir Yassin, onde a Irgun, exército terrorista de Begin, massacrou mais de duzentos camponeses com mulheres e crianças. A lei permite ao governo declarar “zonas fechadas” por razões de “segurança” em qualquer área. Para se entrar ou sair tem que se ter uma justificação escrita passada pelo comandante militar. Muitas das zonas de aldeia foram declaradas “zonas interditas” depois de seus habitantes serem expulsos. Com isso, comodamente suas terras foram confiscadas. Com as “Leis de Emergência” em vigor, o Ministro da Defesa recebia poderes para declarar “zona de segurança” qualquer região de Israel, dela expulsando todos os habitantes, dez dias depois a essa Declaração. Foi assim que foram expulsos à força os habitantes árabes camponeses de duas aldeias da Galileia, Ikret e Kfar Baram. Apelaram ao Supremo Tribunal, e antes que ele se pronunciasse, o Exército dinamitou as casas dos aldeões. Em 1953 foi promulgada A Lei Sobre a Propriedade Fundiária”; seis meses depois, com base na lei, foram confiscadas terras de 250 aldeias árabes. Para fixar a indenização expropriatória fixou-se o preço do dunam (dez dunams valem 1 hectare), em vigor em janeiro de 1950, valendo cinco vezes menos que em 1953, quando a lei entrou em vigor. Em 1958 promulgou-se a “Lei de Prescrição”, uma emenda de leis otomanas que fixava em dez anos o período segundo o qual poderia o camponês trabalhara a terra registrá-la em seu nome. A “Lei de Prescrição” estende para vinte anos o prazo, tornando impossível muitas vezes que o camponês registrasse a terra em seu nome, permitindo ao Estado de Israel por as mãos sobre uma superfície de terras árabes, que atingem muitos milhões de “dunams”. Surgiu a Lei de Ordenação Fundiária (desapropriação por interesse público) em 1943; com ela o governo apropriou-se de grande parte das terras árabes em volta de Nazaré, construindo uma cidade judaica.
Igual expropriação se deu na região onde se construiu a cidade judaica de Carmelo. Isso contraria a resolução das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947 que estipula: “Não se poderá a qualquer expropriação de terra de um árabe, no Estado Judaico, salvo em casos de interesse público. Em todos os casos de expropriação, o Supremo Tribunal fixará o montante da indenização que terá que ser paga integralmente antes de se proceder à expropriação”. Os bens religiosos (Wakfs) islâmicos foram expropriados pelo Estado, que retirou da comunidade islâmica o usufruto dos mesmos, apoderando-se de sua administração, apossando-se de seus rendimentos. Os bens islâmicos produzem grandes lucros, porém a comunidade muçulmana em nada se beneficia, daí a estagnação de suas atividades religiosas e culturais.
No campo, a implantação do kibutz, a exploração coletiva da terra por quem nela trabalha, se dá em terras de “refugiados” árabes onde se dá a exploração da mão de obra árabe, especialmente nas terras confiscadas. Nas mãos do capital bancário que o absorve, o kibutz se torna uma exploração coletivista da mão de obra assalariada árabe das aldeias próximas. Quando instalado na fronteira, integra-se ao Exército de Israel para vigiar a volta de “infiltrados”; são os “árabes expropriados, transformados em ‘refugiados’ e mortos como ‘infiltrados’”.
A estrutura coletivista do kibutz insere-se na mecânica da economia capitalista de Israel, eles são integrados no mercado capitalista e dele dependem. Ocupam mais de 70% da terra cultivada, seus componentes na sua maioria são mestres, contramestres e administradores. Se se suprimir a mão de obra assalariada árabe, eles desapareceriam na sua maioria. Na Galileia, foram instalados 20 kibutzim em terras expropriadas de camponeses árabes. Entre 1948 e 1953, foram instalados 370 novos kibutzim, em Nazaré foram expropriados 120 hectares de terras em 1956 para fundar kibutzim.
As “zonas ocupadas” pelo Estado de Israel têm como finalidade suprir a burguesia israelense de mão de obra a preço vil, explorando um trabalhador sem defesa sindical. Em suma, economia “autárquica” judaica fechada ao “árabe” palestino, expropriação do mesmo e sua transformação em “refugiado”, discriminação racial, criando um cidadão de segunda classe; o Estado sionista procura realizar-se pelo expansionismo a pretexto de “defesa”. Os massacres de Sabra e Chatila mostram até que ponto o racismo pode levar ao extermínio, aliás os judeus sentiram-no em sua pele na Segunda Guerra Mundial. Seria o caso de não transformar os palestinos nos “judeus do século XX”.
Trecho autobiográfico do “Memorial” do Prof. Mauricio Tragtenberg, apresentado à Faculdade de Educação da Unicamp em 1990 como parte do concurso para professor titular na disciplina Teoria das Organizações. Publicado inicialmente na Revista Pró-Posições, nº 4, março de 1991, Campinas-SP, pp. 79-87 (FE/Unicamp) e como homenagem póstuma na Revista Educação & Sociedade, 65, dezembro de 1998, Campinas-SP, p.7-20; e na Revista Espaço Acadêmico, nº 30, novembro de 2003.
Minha biografia começa no interior do Estado do Rio Grande do Sul, onde meus avós aportaram na qualidade de camponeses pequenos proprietários, fugindo dosprogroms, cultivando como unidade familiar uma agricultura de subsistência onde o excedente era vendido no mercado, em Erebango, que depois tornou-se Erexim e, finalmente, Getúlio Vargas.
A emigração de meus avós ao Brasil se deu através de um projeto de colonização judaica no Rio Grande do Sul, que tinha o financiamento da Cia. Judaica de Colonização, fundada pelo barão Hirsch, no início do século.
A colonização judaica no Rio Grande do Sul partia de Erebango, espraiara-se para Philipson e Quatro Irmão, regiões localizadas no Alto Uruguai, próximos a Marcelino Ramos, cidade fronteiriça com o Estado de Santa Catarina.
Lembro-me do quadro rural de Erebango, onde meus avós assentaram nos campos, cobertos de neve durante o inverno, do cultivo da terra e da extração da madeira, de sol a sol. Pela manhã era acordado pelo meu avô, com a pergunta: o Messias já chegou?
Ele era um camponês profundamente religioso, tolstoiano, que esperava diariamente a chegada do Messias, como é comum em camponeses, pequenos proprietários em processo de proletarização. Essas camadas adotam o quilialismo utópico, como demonstrava Weber nos seus estudos sobre a religiosidade camponesa.
O meio rural de Erebango não estava afastado das grandes idéias e movimentos sociais que abalaram o mundo no início do século, culminando com a Revolução Russa.
Já em 1908, centena de camponeses russos vindos da Ucrânia desembarcaram no Paraná. Vinte famílias de camponeses venderam o que tinham na Rússia, embarcando, com escala em Londres, para Santos, São Paulo, daí num cargueiro dirigiram-se para Porto Alegre, levados à Erexim, hoje Getúlio Vargas, onde tomaram conta de dois lotes de terras de 25 hectares. Chegaram transportados em caminhões do exército e despejados nas matas de Erebango, Erexim (Getúlio Vargas).
Encontraram bosques cortados por alguns rios e planícies sem vegetação. Com a gleba, cada família recebeu 500 mil réis em vales, foices, enxada e mais um machado e serra para cada duas famílias. Começara uma experiência fundada no apoio mútuo e na solidariedade, fundados na experiência da revolução maknovista na Ucrânia, destruída pelo bolchevismo, em 1918.
O mais hábeis cumpriam inúmeros papéis, na agricultura, no ensino, na assistência aos doentes e no sepultamento dos mortos. Cultivava-se a terra, plantava-se e colhia-se distribuindo a cada família os gêneros, conforme o seu tamanho, se maior ou menor. As famílias cooperavam nos trabalhos de desmatamento, construção de barracões, abertura de valos e caminhos.
Os anos transcorridos entre 1913 e 1914 foram de muita fome e alguns se lembravam com saudades da Ucrânia. Após a deposição do czar, os bolcheviques tomaram o poder e exterminaram com as colônias anarquistas, em 1920. Muitos deles fugiram para a Argentina e enviavam a Erebango exemplares do jornal libertário Golos Truda, editado pela Federação de Trabalhadores Russos, com sede em Buenos Aires.
Os camponeses de Erebando, ajudados pela imprensa libertária, aprimoraram o senso coletivo de vida e trabalho aprendendo uns com os outros. Todos eram alunos e professores, e aprendiam ao mesmo tempo os segredos do cultivo da terra. À luz de vela, à noite, aprendiam e ensinavam português, espanhol, russo e esperanto, lia-se em Erebango muitos autores anarquistas russos, como Kropotkine, Bakunin, especialmente Tolstói, com seu anarquismo religioso anticlerical, que era o autor preferido.
Já em 1918, apareceu a União dos Trabalhadores Russos do Brasil sediada em Erexim, integrada por 40 camponeses e militantes, onde aparecia com destaque o camponês Serguei Ilitchenco; surge a União dos Trabalhadores Russos, com sede em Porto Alegre, presidida por Nikita Jacobchenco; a União dos Trabalhadores Russos de Guarani, Campinas, Santo Angêlo, dirigida por João e Gregório Taratchenco, e a União dos Trabalhadores Rurais de Porto Lucen, dirigida por Demétrio Cirotenco. Este último, durante mais de vinte anos, serviu de pólo de ligação entre os trabalhadores rurais de Erexim e Erebango, através da União dos Trabalhadores. Havia também o ucraniano Ossef Stefanovich, com uma barba à Kropotkine, que atuava como conferencista, professor, teatrólogo, jornalista e escritor.
Lia-se os clássicos da literatura russa, como Tolstói, Pushkin e Tchekov. Paralelamente, as colônias conseguiram a auto-suficiência em alimentos, elevaram o aprimoramento educacional e auto-aplicação dos princípios anarquistas no quotidiano de suas vidas.
Foi nessa época em Erebango, depois Erexim, que os camponeses jovens pensaram em criar a Juventude dos Trabalhadores Rurais Libertários, ao mesmo tempo em que recebiam dos emigrados russos dos EUA o diário Americankie Izvestia e a revista Volna. Em 1925, recebiam em Paris a revista Dielo Trouda, que após 1930, seria impressa em Chicago. De Detroit vinha a partir de 1927, a revista Probuzhdenie, que em 1940 se associaria à Dielo Trouda, formando uma só revista sob o título Dielo-Trouda-Probuzhdenie, em circulação até 1963. Recebiam de São Paulo os jornais A Plebe, A Voz do Trabalhador, Ação Direta, O Libertário, a que se juntaram periódicos em castelhano como Voluntad, Tierra y Libertad e La Protesta.*
Compunham a biblioteca dos colonos obras de Bakunin, Kropotkine, Malatesta, historiadores do anarquismo como James Guillaume, Rudolf Rocker, além de obras de Emma Goldman, Nestor Makno, recebidos do Canadá e Argentina. Segundo meus pais, toda essa problemática era discutida pelos meus avós, com a audiência respeitosa destes.
Porém, voltando à minha trajetória pessoal, conheci as primeiras letras em Erebango, depois Erexim, numa escola pública que funcionava num galpão. Entre arreios, cheiro de alfafa e um quadro negro, tive meu primeiro contato com o ler; escrever e contar.
A região havia sido assolada pela Revolução Federalista do Rio Grande do Sul, as tropas de chimangos e maragatos, indistintamente, destruíam plantações, matavam a criação e expropriavam os camponeses, reduzindo as comunidades camponesas a zero, no sentido econômico. No plano cultural, nem falar, o cinema havia chegado através do dono do único hotel da colônia, assistido por uma platéia embasbacada, que nada entendia do enredo dos filmes. Minha avó, que havia ido ao “cinema”, perguntava para o meu avô o que havia visto através da “máquina”; respondia: “Vi diabos, diabos, diabos…”
Começava a desintegração da família como unidade produtiva. Uma tia minha dirigiu-se a Porto Alegre, a “grande capital”, e lá se casara com um serralheiro judeu, oriundo da Letônia. Logo depois, meu tio e minha mãe rumavam na mesma direção, instalando-se no Bonfim, o “gueto” judeu em Porto Alegre, tão bem retratado nas obras do escritor Moacyr Scliar.
Lá, freqüentara o Grupo Escolar Luciana de Abreu, ainda hoje no bairro Azenha. Estávamos em pleno Estado Novo, com fotos de Getúlio em todos os bares da cidade, com símbolo presidencial e cara de menino de primeira comunhão.
Lembro-me que houve um dia “sem aulas”. Isso se deveu à visita que Plínio Salgado fez a Porto Alegre. Na frente do grupo escolar havia um posto de distribuição de publicações de Plínio Salgado e sobre o integralismo. A condição de “judeu”, numa sociedade nacional mais ampla, leva você a uma “politização precoce”.
Isso porque a visita de Plínio Salgado era sentida no bairro judeu como a visita de um anti-semita que preparara futuros progroms, iguais aos vividos na Rússia, daí o temor e os comentários terem-se espalhados pelo bairro.
Assisti na avenida Oswaldo Aranha, a principal da cidade, ao desfile dos integralistas, uniformizados com camisa verde e ostentando um porte marcial. É o período em que o integralismo apoiara o Estado Novo, pensando receber em troca um ministério para Plínio Salgado. Isso não se deu e Getúlio, dias depois, colocaria a Ação Integralista na ilegalidade.
Logo depois, a família mudava para São Paulo, num vagão de segunda classe da então Viação Férrea do Rio Grande do Sul, após duas noites e três dias de viagem, aportávamos na Estação Sorocabana de São Paulo.
Fomos habitar à rua Tocantins, no bairro do Bom Retiro. Eu freqüentava o “Thalmud Torá”, uma escola judaica ortodoxa. De manhã estudava as matérias comuns do ciclo primário e à tarde o índice hebraico e comentários do Velho Testamento.
Tínhamos como vizinhos uma família judia de origem húngara, que se tornara nossa amiga. Ela sobrealugava um quarto a um cidadão que vivia de pijama e fumava cigarros Fulgor. Novamente o clima autoritário do Estado Novo fazia-se presente: o cidadão desaparecera, corria o boato que era “comunista”, delito gravíssimo sob o Estado Novo.
Comecei a trabalhar muito cedo para ajudar um fraco orçamento doméstico, meu pai falecera e minha mãe costurava. Iniciei minhas “universidades”, freqüentando um bar na rua Ribeiro de Lima, que tinha duas características: comida barata e mesa sem toalhas. Lá acorriam trabalhadores de origem letã, lituana, russa, polonesa, muitos haviam, inclusive participado da Revolução Russa, haviam topado pessoalmente com Lênin, Trotsky, Zinoviev ou Bukharin. Não eram “temas” de academia e sim expressões de relações sociais e políticas vividas.
Logo depois eu mudara para o bairro do Brás. Morei na rua Santa Clara, rua Cachoeira e rua Catumbi, no Belenzinho. Nessa época, caíra a ditadura de Vargas, e eu tinha como vizinho uma sede do Partido de Representação Popular. Apesar de ter origem judaica e imagem de “esquerdista”, os integralistas me tratavam com respeito, pois eu já lera, na época, toda a obra política de Plínio Salgado, Gustavo Barros e Miguel Reale e, de lambugem, nazistas nacionais como A. Tenório de Albuquerque e Tasso da Silveira.
Era um período de grande efervescência política: falava-se de Constituinte, isso em 1945, redemocratização e transição, muito parecido com o que se fala ainda hoje. (…)