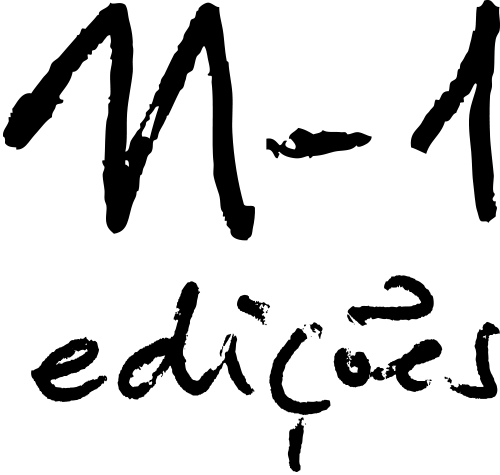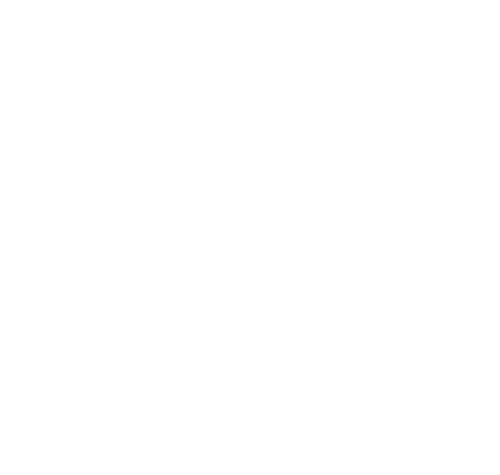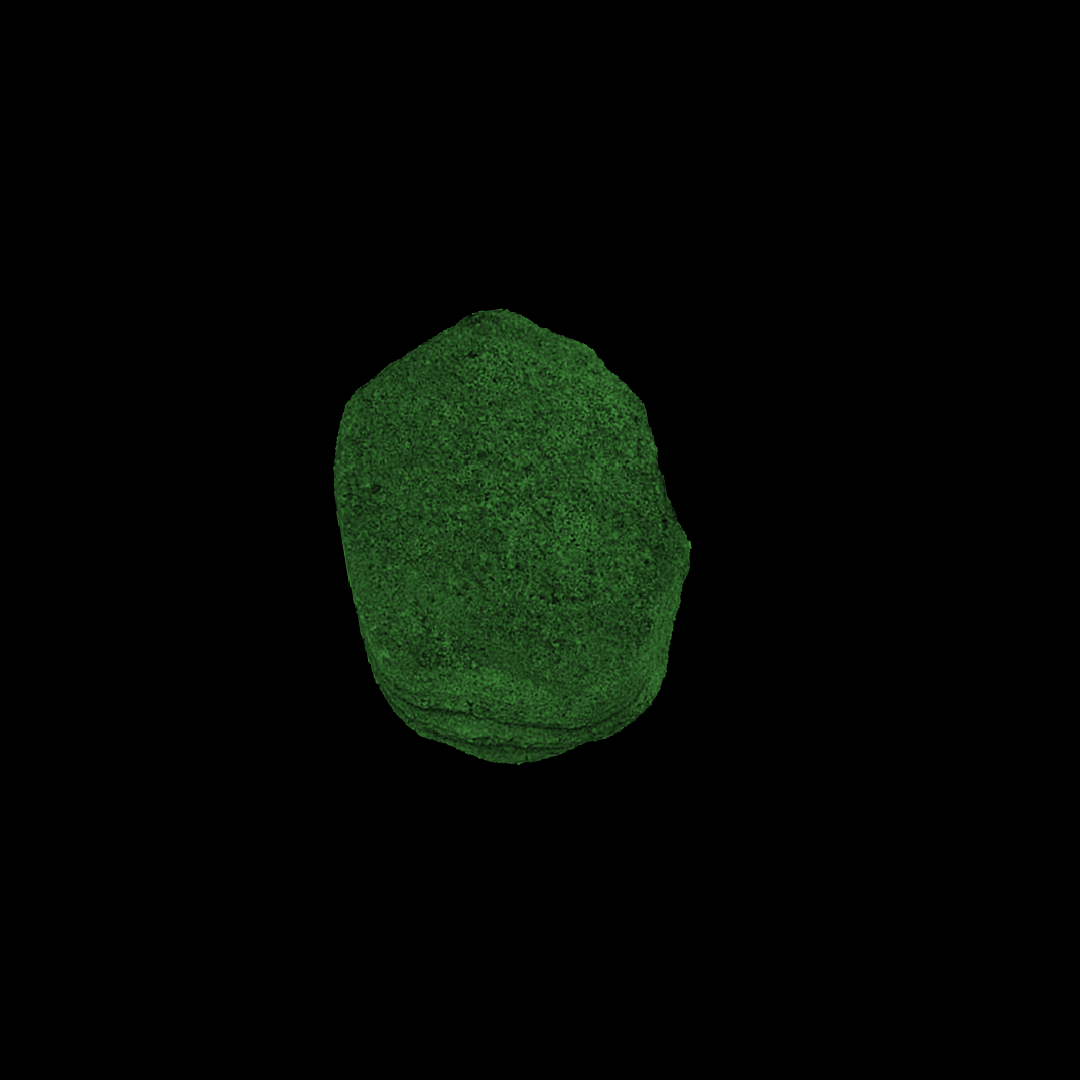
“Não é uma guerra” (Rashid Khalidi)

Mapas mostram evolução da anexação de territórios da Palestina histórica por parte de Israel ao longo de mais de cem anos. Fonte: Al Jazeera
Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto será lançado.
No dia 7 de setembro de 2025, a guerra em Gaza entrou em seu 24º mês. É difícil resumir o horror que temos testemunhado diariamente desde então. Na peça Hecuba, da dramaturga irlandesa Marina Carr, a rainha diz em meio ao saque de Tróia: “Isto não é guerra — na guerra há regras, leis, códigos. Isto é um genocídio. Eles estão nos eliminando”. A guerra de Gaza ainda não atingiu o período de 10 anos da Guerra de Tróia que, pelo menos no início, foi uma guerra entre combatentes armados igualmente equilibrados. O que está acontecendo em Gaza não é uma guerra, é um ato de extermínio. É um genocídio que já dura quase dois anos sem intervenção dos supostos guardiões da ordem internacional. Em vez disso, esses guardiões têm sido cúmplices desses crimes.
As lágrimas de crocodilo derramadas em Washington, Londres, Paris e Berlim sobre as baixas civis e os lamentos em relação a uma suposta crise humanitária é pura hipocrisia. Ações poderiam facilmente ter sido tomadas para impedir esse massacre antes que dezenas de milhares fossem mortos e mutilados e 2 milhões de pessoas fossem repetidamente deslocadas e submetidas à fome severa. Isso não aconteceu apenas porque os EUA e seus aliados europeus são cúmplices: vão além, são participantes, ao aprovarem a guerra de Israel, armarem e apoiarem integralmente sua execução e se recusarem a interrompê-la.
A líder do partido Conservador britânico, Kemi Badenoch, revelou tudo ao dizer: “Israel está travando uma guerra por procuração em nome do Reino Unido”. Assim como Hécuba descreveu corretamente a carnificina após a queda de Tróia, Badenoch chamou isso pelo que realmente é: uma guerra por procuração, na qual Israel é um instrumento para os objetivos de outros. É desnecessário dizer que Israel também tem seus próprios objetivos sinistros de limpeza étnica dos palestinos. É evidente o que os EUA buscavam por meio de sua procuração: esmagar os aliados de seu rival, o Irã, especificamente o Hezbollah e o Hamas, e desejavam a queda do regime de Assad, enfraquecendo significativamente o Irã. Alcançaram amplamente seus objetivos.
Os EUA e seus aliados não têm reservas quanto aos métodos utilizados para atingir esses objetivos comuns, métodos que envolvem atacar a população civil indiscriminadamente. Essa abordagem clássica de contrainsurgência, aperfeiçoada por potências coloniais em todo o mundo, foi ensinada por oficiais britânicos na década de 1930 a muitos que se tornaram oficiais militares israelenses de alta patente, como Moshe Dayan e Yigal Allon, e molda as doutrinas do exército israelense até hoje. A principal fonte para essa abordagem é um livro de 1896, intitulado Pequenas Guerras, do Major-General Sir Charles Callwell. Esse livro foi um manual nas academias militares britânicas por décadas, ainda está em circulação e em uso na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército dos EUA em Fort Leavenworth. Callwell escreve: “na supressão de uma rebelião, os súditos refratários de um poder dominante devem ser todos castigados e subjugados”. Observe a palavra “todos”. Ele acrescenta que “em uma guerra contra uma nação incivilizada (…) as operações às vezes se limitam a causar estragos que as leis da guerra regular não sancionam”, afirmando que o que ele chama de “efeito moral” é supremamente importante e que “raças incivilizadas atribuem clemência à timidez (…) selvagens e fanáticos (…) devem ser completamente responsabilizados e intimidados, ou se levantarão novamente”. A hierarquia racial aqui é clara: “o inimigo deve ser levado a sentir uma inferioridade moral em todos os aspectos. As raças inferiores são impressionáveis. São grandemente influenciadas por uma postura resoluta e um curso de ação determinado”. Esse é o modelo para o que a Grã-Bretanha e os EUA fizeram no passado em suas guerras imperiais e para o que Israel faz em Gaza hoje.
É um erro categórico resumir que existam diferenças quanto ao que são, de fato, os objetivos e métodos compartilhados entre israelenses e estadunidenses. Os EUA não apenas armam e protegem diplomaticamente Israel. Eles compartilham os objetivos de Israel e aprovam seus métodos. Repito: os EUA toleraram o massacre de dezenas de milhares de civis para forçar mudanças que incluem a eliminação do Hamas do mapa político palestino, a redução da influência do Hezbollah no Líbano e a queda do regime de Assad, enfraquecendo assim o Irã. Esses objetivos compartilhados estão sendo implementados em estreita coordenação com Israel.
Tudo isso está em sintonia com as políticas estadunidenses anteriores. Os registros documentais publicados mostram que a guerra de junho de 1967 foi um esforço conjunto: Washington foi consultado sobre o plano israelense de atacar três Estados árabes e deu sua aprovação. O mesmo se aplica à guerra de Israel contra o Líbano e a OLP em 1982: Ariel Sharon foi a Washington e se encontrou com Alexander Haig, que deu sinal verde a Sharon, dizendo a Haig, na prática: “vamos fazer isso com a OLP — vamos fazer isso com a Síria — e vamos fazer isso com o Líbano”.
Os objetivos compartilhados pelas duas potências ainda não foram totalmente alcançados em Gaza ou na região, por isso, os EUA, que são parte nesta guerra, ainda não detiveram Israel. Quando, e se, os EUA decidirem que esses objetivos foram alcançados, a guerra terminará. Até o momento, houve total apoio dos EUA à absoluta dedicação das atuais e anteriores lideranças israelenses ao uso da força como o principal, senão o único, meio de resolver questões com os palestinos, no Líbano e na Síria. Os Estados Unidos não apenas aprovaram essa abordagem: até o momento, forneceram mais de 19 bilhões de dólares em armas, e há muito mais a caminho. Há um longo artigo nos Anais do Instituto Naval dos EUA sobre as cerca de 80 bombas estadunidenses de uma tonelada que foram usadas na operação que matou Sayyid Hassan Nasrallah em Beirute. Essas armas não poderiam ter sido usadas sem a aprovação dos EUA e sem a cobertura da alegação transparente e patentemente falsa de que todas as ações de Israel nesta guerra são tomadas em legítima defesa. Como essas operações NÃO foram defensivas e envolveram graves violações de direitos humanos (e prováveis crimes de guerra), seu uso foi, sem dúvida, uma violação da Lei de Controle de Exportação de Armas de 1976, que determina que armas dos EUA só podem ser usadas em legítima defesa, e da Lei Leahy de 1997, que proíbe os EUA de exportar armas onde houver tais violações de direitos humanos.
Ao seguir essa política, Biden, Trump e as elites que eles representam enfrentam a oposição da maioria do público estadunidense, de acordo com todas as pesquisas do ano passado e além. Mas essas elites fazem exatamente o que querem, independentemente do que a opinião pública diga — elas não se importam. Elas a desprezam totalmente, bem como o direito internacional humanitário e a posição dos EUA perante o resto do mundo. Isso ocorre porque, apesar da mudança em curso na opinião pública dos EUA, as opiniões daqueles que controlam os políticos — a classe doadora, as pessoas sem cujas fortunas eles seriam incapazes de permanecer no cargo — não mudaram suas posições. Essas elites controlam as grandes corporações, a mídia, as fundações e as universidades. Elas dizem aos políticos, aos executivos da mídia e aos reitores covardes das universidades o que é aceitável e o que não é. Em muitas universidades “Quisling”¹ hoje, estamos expostos ao poder nu e cru e à crueldade dessas elites.
Os horrores infligidos a Gaza constituem uma ameaça mortal a toda a ordem jurídica internacional, tal como ela é. Se os EUA e seus aliados continuarem apoiando o ataque intencional a civis, a destruição de hospitais, estações de tratamento de água e esgoto, e a fome em massa proposital, ações explicitamente concebidas para matar e deslocar pessoas em grande escala, as barreiras jurídicas internacionais criadas desde a Segunda Guerra Mundial contra tais atrocidades — a Convenção sobre o Genocídio e grande parte do Direito Internacional Humanitário — serão destruídos. Se for possível destruir centenas dos chamados “escudos humanos”, transformando prédios residenciais inteiros em vastas crateras fumegantes com bombas estadunidenses de uma tonelada, supostamente para matar um único indivíduo, então todo o Direito Internacional Humanitário e as leis da guerra baseadas na proporcionalidade e na discriminação vão por água abaixo. Por meio de sua representação israelense, os EUA e seus aliados estão atacando com uma marreta a ordem internacional baseada em regras, o Direito Internacional Humanitário e as regras da guerra.
Esse é o modelo que cada Estado poderá agora usar para travar uma guerra contra seus inimigos, e esse provavelmente será um dos efeitos duradouros desta guerra. Estamos voltando ao período anterior à Segunda Guerra Mundial, quando atrocidades foram perpetradas — o bombardeio de Londres, Dresden, Hamburgo, Hiroshima, Nagasaki e, especialmente, o assassinato em massa de judeus europeus — que levaram à criação da Convenção sobre o Genocídio e a aspectos-chave do Direito Internacional. Tudo isso está sendo agora demolido em Gaza por meio da punição coletiva de uma população inteira, crimes de guerra que envolvem o deslocamento da maior parte da população de Gaza, se possível para fora da Palestina, o massacre de tantos quanto necessários para incitar à transferência, enquanto matam de cinquenta a cem pessoas por dia e condenam à fome todos os que permanecerem.
Esses horrores são perpetrados para provocar uma mudança de regime na Palestina, no Líbano e na Síria. Gostaria de lembrar que as tentativas de mudança de regime no Oriente Médio têm uma história. A guerra de 1982 foi planejada pelos EUA e Israel, entre outras coisas, para estabelecer um regime amigável no Líbano. Em vez disso, produziu mais instabilidade e o Hezbollah. O ex-primeiro-ministro israelense Ehud Barak declarou anos depois da ocupação do Líbano por Israel: “Foi a nossa presença lá que criou o Hezbollah”. A guerra de 1982 também produziu ataques aos fuzileiros navais e à embaixada dos EUA, porque muitos libaneses sabiam que os EUA haviam apoiado totalmente o massacre de 19 mil palestinos e libaneses por Israel durante aquela guerra. Eles entendiam que os EUA haviam prometido solenemente proteger os civis que foram deixados para trás quando a OLP saiu de Beirute em agosto de 1982, mas centenas dessas pessoas foram massacradas por representantes israelenses em Sabra e Chatila.
A carnificina em massa pelos poderosos gera inevitavelmente a brutalidade dos fracos. Essa é a única maneira de interpretar o que aconteceu no Líbano após 1982, o que aconteceu em 7 de outubro nas colônias israelenses ao longo das fronteiras de Gaza e o que provavelmente acontecerá na região e em outros lugares no futuro.
O que Haig e Sharon tentaram fazer no Líbano em 1982 não deu certo. As tentativas posteriores dos EUA de implementar mudanças de regime no Afeganistão e no Iraque também não deram certo, seja para as populações submetidas a massacres indiscriminados, seja para os objetivos daqueles que tentam implementar essas mudanças. Questiono como isso pode continuar indefinidamente no futuro — como Israel e os EUA podem esperar continuar dominando os povos da maneira que estão tentando fazer sem que a resistência em todo o Oriente Médio e globalmente se torne avassaladora. Eles estão semeando o vento, e o furacão virá mais cedo ou mais tarde.
Há um pequeno, mas crescente número de Cassandras em Israel que dizem: “Isso é suicídio, isso é loucura — não há estratégia — como se espera que isso vá acabar?”. Os líderes israelenses não têm respostas, exceto que, se a força é insuficiente, deve-se usar mais força. É assim que veem a política, mas isso não é política — é como se Clausewitz nunca tivesse existido. Essa política de força pura e simples, que pode ter funcionado na era da expansão colonial europeia, do século XVI ao início do século XX, não pode funcionar no século XXI.
Não pode funcionar em lugar nenhum a longo prazo, mas não pode funcionar neste caso em particular porque Israel, como um projeto colonial de povoamento, é hoje, e sempre foi, inteiramente dependente de apoio externo. Nunca foi um empreendimento totalmente independente e autossustentável. Caso contrário, os líderes sionistas não teriam ido à Grã-Bretanha em 1917 de modo a obter a Declaração de Balfour, ou às Nações Unidas em 1947 para conseguir a resolução da partilha. O chefe do Mossad não teria ido buscar a aprovação de Lyndon Johnson em 1967, e Sharon não teria obtido a aprovação de Haig em 1982.
O Ocidente é a metrópole deste projeto colonial de povoamento. O sionismo, claro, também representa um projeto nacional — tem muitos outros aspectos —, mas é completamente dependente de sua metrópole no Ocidente: os EUA, as principais potências europeias e as colônias de povoamento de maioria branca da Grã-Bretanha. No entanto, desde o início da guerra em Gaza, e mesmo antes disso, Israel vem sistematicamente se indispondo junto à opinião pública em sua metrópole ocidental, destruindo a base de apoio da qual depende totalmente. De acordo com uma pesquisa da YouGov divulgada em junho de 2025, “o apoio e a simpatia do público por Israel na Europa Ocidental atingiram o nível mais baixo já registrado (…) com menos de um quinto dos entrevistados em seis países tendo uma opinião favorável do país”. Os países pesquisados foram Reino Unido, França, Espanha, Itália, Holanda e Dinamarca. Uma pesquisa da Pew em abril de 2025 mostrou que a maioria dos estadunidenses vê Israel de forma desfavorável, pela primeira vez. Israel ainda tem as elites, os governos e o complexo militar-industrial dos EUA e da Europa ao seu lado. Mas perdeu o tipo de apoio público incondicional que o projeto sionista e Israel tiveram no mundo ocidental desde a época de Balfour até o início do século XXI.
Essa tendência poderia ser interrompida ou mesmo revertida, mas isso exigiria que Israel mudasse sua política baseada na força, mais força e nada além de força. Exigiria a interrupção de seu massacre em massa, da punição coletiva e da limpeza étnica. Exigiria que Israel reconhecesse que os palestinos são um povo com direitos inalienáveis em seu próprio país. Em última análise, exigiria a descolonização. Se tudo isso não acontecer, o futuro será bastante sombrio para os palestinos, libaneses e sírios, mas não será muito melhor para Israel. Na verdade, em alguns aspectos, pode até ser pior a longo prazo para seu futuro, como está configurado atualmente.
Concluirei com referência ao meu projeto atual, sobre as extraordinárias ligações entre os métodos brutais utilizados pela Grã-Bretanha na Irlanda e na Palestina, métodos que a Grã-Bretanha, por sua vez, transmitiu ao núcleo das forças armadas israelenses. Isso constitui apenas parte da pesada responsabilidade da Grã-Bretanha pelo que aconteceu na Palestina desde 1917, uma responsabilidade enraizada no fato de que existem semelhanças importantes entre a Irlanda e a Palestina como colônias povoamento. Há também diferenças entre elas: o que ocorreu na Irlanda, como na maioria dos projetos de colonização por povoamento, foi uma extensão ultramarina da soberania e da população da metrópole. A coroa exportou seus súditos para a Irlanda como uma extensão da soberania da Inglaterra, a fim de dominar o país que estava sendo colonizado. Esse é o paradigma clássico do colonialismo de povoamento na América do Norte, Austrália, Argélia, África do Sul, Quênia e outros países.
O sionismo tinha características distintas. Começou como um projeto nacional antes de se tornar cliente do imperialismo britânico. O sionismo também se via como a solução para a questão judaica, um refúgio para judeus perseguidos, e estava enraizado na conexão histórica entre o judaísmo e a Palestina. Mas sua metodologia e seu comportamento eram os de um projeto colonial de povoamento, com uma conexão essencial com os patronos em sua metrópole ocidental, sem a qual não poderia, e não pode, sobreviver. Os primeiros sionistas se viam sob essa luz: como colonos europeus, operando como outros colonos europeus em terras bárbaras e não europeias, cujos habitantes deveriam ser desconsiderados. Theodore Herzl descreveu o Estado judeu que defendia como “uma muralha da Europa contra a Ásia, um posto avançado da civilização em oposição à barbárie”. A consistência do sentimento e da retórica, de Herzl a Netanyahu, é notável.
Quanto à conexão entre a Grã-Bretanha, a Irlanda e a Palestina, os tomadores de decisão na tentativa fracassada de esmagar os irlandeses durante a Guerra da Independência — Lloyd George, Winston Churchill e Lord Balfour — foram as figuras-chave no gabinete que adotou a Declaração de Balfour, produzindo um Mandato para a Palestina que estabeleceu um regime favorável ao projeto sionista. A Grã-Bretanha fez isso principalmente por razões friamente estratégicas relacionadas ao interesse imperial: a defesa do Egito e do Canal de Suez, e o controle do terminal ocidental da rota terrestre mais curta entre o Mediterrâneo e o Golfo. Para proteger esses interesses estratégicos vitais, como disse um oficial, a Inglaterra criou na Palestina “um pequeno Ulster² judeu leal em um mar de árabes hostis”.
Havia outras conexões entre a Irlanda e a Palestina em relação aos funcionários. O coronel Charles Tegart foi convocado da Índia para a Irlanda para torturar pessoas no Castelo de Dublin durante a Guerra da Independência da Irlanda. Mais tarde, durante uma grande revolta palestina na década de 1930, foi enviado para estabelecer uma série de centros de tortura. Da mesma forma, quando a Grã-Bretanha foi forçada a deixar a maior parte da Irlanda em 1921, o comandante da extinta Royal Irish Constabulary, o tenente-general Hugh Tudor, bem como os notórios Black and Tans e outros veteranos do RIC que haviam cometido atrocidades sob seu comando na Irlanda foram enviados à Palestina para formar a gendarmaria palestina. No início de sua carreira, o marechal de campo Lord Bernard Montgomery comandou tropas na Irlanda em 1920–21 e na Palestina em 1937–39, em ambos os lugares onde cometeram atrocidades semelhantes.
Assim, a expertise desenvolvida na colônia de povoamento da Irlanda, a primeira da Grã-Bretanha, foi legada àqueles que implementaram sua política na Palestina, a última da Grã-Bretanha, e depois aos futuros líderes do exército israelense. Tudor, Tegart e Montgomery fizeram parte disso, mas, à medida que os britânicos reprimiam a revolta palestina da década de 1930, outros se juntaram a eles. Entre os quais se destaca um oficial de inteligência, o Capitão Orde Wingate, que recrutou homens que mais tarde se tornariam oficiais superiores do exército israelense para forças de ataque conjuntas com as tropas britânicas, transmitindo-lhes a expertise britânica em contrainsurgência. Eles aprenderam com Wingate e seus camaradas como realizar ataques noturnos aterrorizantes, torturar e atirar em prisioneiros, aterrorizar civis e destruir casas e outras infraestruturas de forma desenfreada. Esses métodos e essa visão de mundo — a maneira de ver a população indígena resumida no livro de Callwell — foram transmitidos aos homens que moldaram o exército israelense, e Wingate é universalmente descrito hoje como o pai da doutrina militar israelense.
Portanto, o horror que assistimos em Gaza hoje não começou em 7 de outubro de 2023. Remonta a muito antes disso, na história palestina, na história do Oriente Médio e na história colonial. Os eventos dos últimos 23 meses são o produto das sementes malignas — algumas delas muito antigas, algumas britânicas, algumas estadunidenses, algumas israelenses — que brotaram plenamente nos escombros fumegantes de Gaza.
Os oponentes desta guerra genocida são agora uma grande maioria em praticamente todos os países ocidentais envolvidos em sua condução. É inconcebível que os líderes ocidentais insistam em continuar a combatê-la, por meio de seus representantes israelenses, cujo objetivo é exterminar o povo de Gaza, seja pela fome e massacres aéreos e terrestres, seja por meio de sua expulsão da Palestina. Devemos fazer todo o possível para que esses líderes a impeçam, o que podem fazer com toda a convicção. Levou mais de uma década para que a oposição em massa interrompesse a Guerra do Vietnã. Não devemos, não podemos, permitir que esta guerra continue por tanto tempo, ou tanto quanto a trágica guerra que levou à destruição total de Tróia e ao massacre e expulsão de seus habitantes.
¹[N.T.] A palavra “quisling” é utilizada em diversos idiomas como sinônimo de “traição” ou “colaboração”. A origem faz referência a Vidkun Quisling, oficial norueguês que chefiou a Noruega após sua ocupação pelos nazistas.
²[N.T.] Ulster é uma das quatro províncias históricas ou tradicionais da Irlanda, dividida em nove condados, dos quais — atualmente — seis localizam-se na Irlanda do Norte e três na República da Irlanda.
Rashid Khalidi nasceu em 1948, em Nova York, é professor emérito da Universidade Columbia (NY), onde ocupa a cadeira Edward Said em estudos árabes. É autor de inúmeros ensaios e livros sobre história e política do Oriente Médio. Foi editor do Journal of Palestine Studies de 2002 a 2020. Sua família, uma das mais tradicionais de Jerusalém, possui a maior biblioteca particular de livros sobre a Palestina. No Brasil, sua obra Palestina: um século de guerra e resistência (1917–2017) foi publicada pela editora Todavia (2020). Agradecemos a Khalidi por nos enviar seu texto e autorizar sua tradução e publicação.
Este texto é uma versão ligeiramente revisada de uma palestra proferida na The New School em junho de 2025.
Tradução e revisão: coletivo desorientalismos