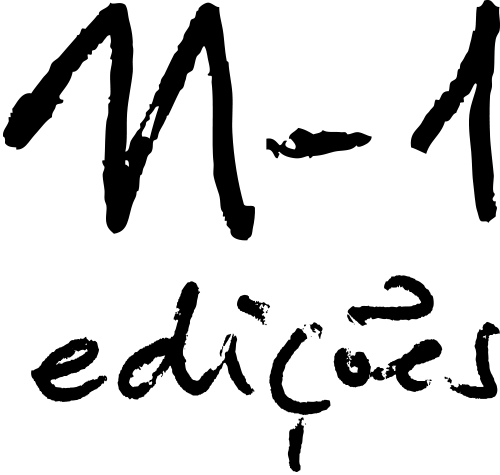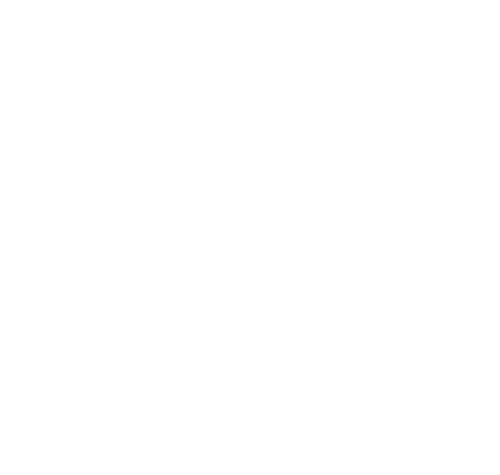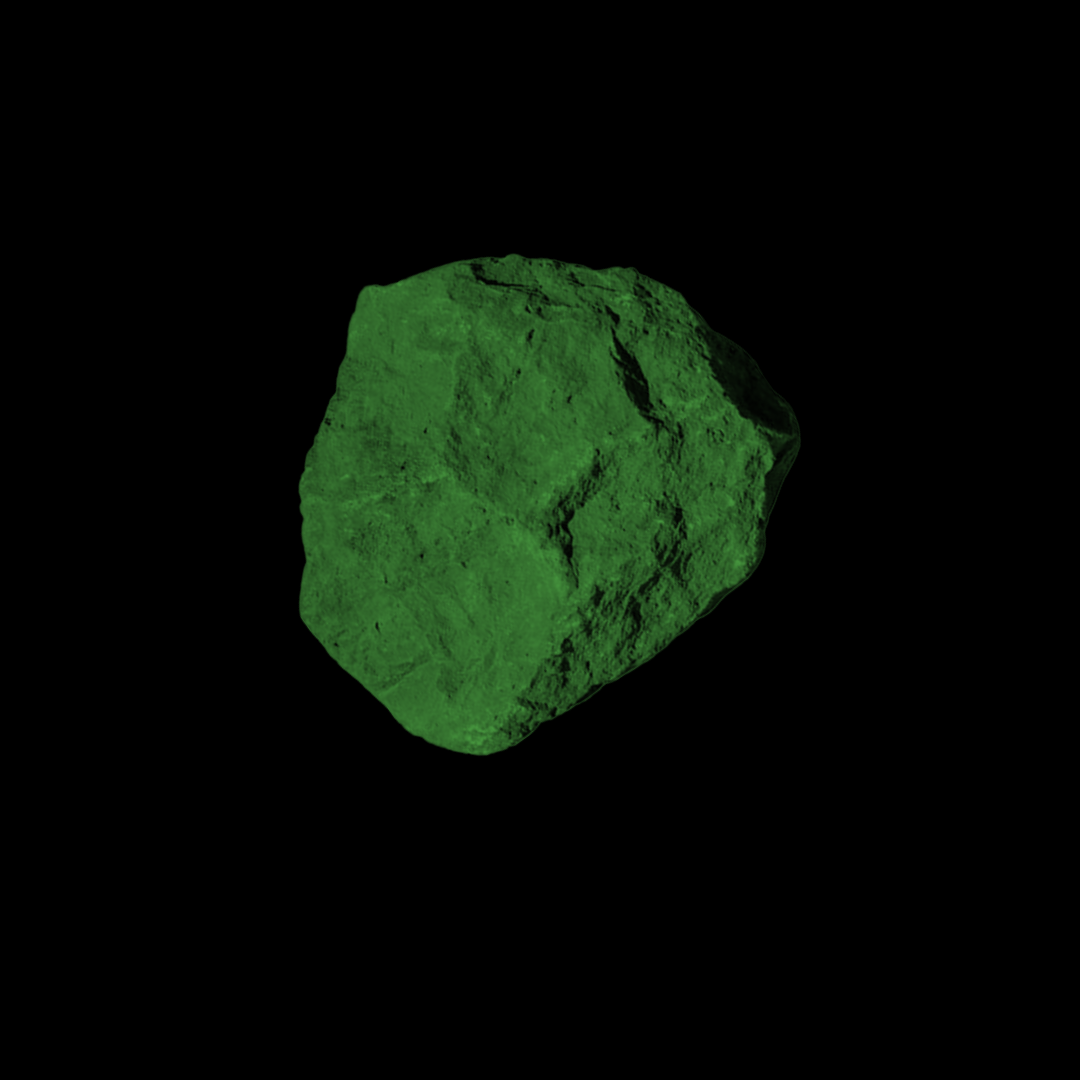
Ashlaa’ e o genocídio em Gaza: produzir vida vivível¹ contra a carne fragmentada (Nadera Shaloub-Kevorkian)

Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto será lançado.
Este ensaio inicia um debate com respostas de Ghassan Abu-Sittah e Sarah Ihmoud (reproduzidas mais adiante), todos parte do dossiê Antropologia em tempos de genocídio: Nakba e Retorno, publicado pela Sociedade de Antropologia Cultural, uma seção da Associação Antropológica Americana.
“Nós extraímos mártires, muitos dos quais estão decompostos e em ashlaa’, completamente não identificáveis... Encontramos cadáveres de mulheres, crianças e indivíduos sem cabeça, bem como partes de corpos dilaceradas”.
– Trabalhador da Defesa Civil palestino, Rami Dababesh, 5 jun. 2024.
“Ouvi cães e gatos comendo a ashlaa’ de meus familiares na rua… Eu estava correndo atrás dos gatos para coletar a ashlaa’, para enterrá-los… e dar dignidade à minha família”
– Dra. Haneen El Dayya. 13 fev. 2024.
“Peço que não nos comam quando morrermos… Por favor… se vocês ficarem vivos depois que morrermos… não nos comam, nossa carne espalhada”.
– Lena, uma garota de Gaza falando com seu gato, 19 fev. 2024.
***
As vozes de Haneen, Rami e Lena refletem e rejeitam as realidades genocidas da morte em Gaza. Elas falam contra a brutalização dos mortos espalhados. A palavra árabe ashlaa’ se refere a partes do corpo espalhadas, fala de carne e ossos desmembrados. Ashlaa’ diz respeito a todos em Gaza agora, e também nos oferece um conceito vital para captar a situação, pois falar sobre ashlaa’ é uma recusa à passividade em uma situação horrível. Rami descreve as partes do corpo explodidas, estilhaçadas, decompostas e não identificadas que recolheu, expondo a brutalidade desumana do ataque. Haneen, assombrada por ossos quebrados e carne ensanguentada, sente a necessidade de resgatar a ashlaa’ de seus entes queridos para que não seja comida por cães e gatos, recolhendo a ashlaa’ de familiares para enterrá-los. Lena, a garotinha, segura seu gato no colo, implorando para que ele não a coma caso sua família seja bombardeada e transformada em ashlaa’. Ao falar com seu gato, Lena — uma criança — cria um espaço de respeito pela vida e pela dignidade durante um genocídio em andamento, no qual o Estado colonial e a comunidade global estão falhando em proteger até mesmo corpos desmembrados.
Em 5 de junho, o The New Arab publicou um infográfico com uma galeria de fotos, mostrando como as pessoas identificaram os restos mortais de seus entes queridos. As fotos revelaram como uma jovem identificou a ashlaa’ de sua mãe pelo anel no dedo; a ashlaa’ de uma criança foi identificada pelo seu pijama; a ashlaa’ de um irmão foi identificado pelas chaves do carro em sua mão; e a ashlaa’ de um tio foi identificado pelo tubo de diálise renal ainda em seu braço. É a partir dessas imagens gráficas dos restos mortais desmembrados e dos momentos etnográficos compartilhados em vídeo por indivíduos como Haneen, Rami e Lena que começamos uma jornada quase impossível de tentar abraçar os restos mortais feridos — ashlaa’ como um ato de reunificação epistêmica.
Colocar a ashlaa’ no centro desestabiliza a percepção totalizante da aniquilação ao insistir em enterros para os mortos. Ela dá sentido aos atos amorosos de coletar e proteger os mortos espalhados; de relembrar os desmembrados. Como podemos entender a Palestina? Temos que começar com seu povo, mesmo como ashlaa’.
Bisan, uma jornalista de Gaza, observou enquanto caminhava entre as ashlaa’ em uma vala comum no complexo médico Naser:
“…procurando órgãos, cabeças ou pele… [silêncio]… você anda um pouco… e vê cadáveres esperando que alguém os reconheça [silêncio]…”
As palavras e silêncios de Bisan encenam a ashlaa’ como um chamado por reconhecimento. Um chamado para que sejam coletados e abraçados. Seus olhos leem os órgãos espalhados como uma busca pela reunificação com a família, um reenraizamento contra o desenraizamento violento. Seus silêncios em meio aos mortos espalhados expõem a inscrição do terror de Estado sobre a carne espalhada, uma política cujo objetivo é expulsar os já mortos da humanidade. Sua câmera e palavras funcionam como um contramapeamento, insistindo em relações corporificadas em meio ao terror de Estado colonial israelense em Gaza.
Ashlaa’ como analisador
Ashlaa’ vive nas partes colonizadas, dispersas, queimadas e retalhadas do corpo/carne. Eles parecem não ter lugar, “tecidos de milhares de detalhes, anedotas, histórias” (Fanon, 1961, p. 111). Eles parecem estar fora da identidade e da ordem internacional (Agathangelou, 2015). No entanto, ashlaa’ como um conceito ressoa com o termo geocorporografias, cunhado por Joseph Pugliese (2007, p. 1), na medida em que “traz para o foco o violento enredamento da carne e do sangue do corpo dentro da geopolítica da raça, da guerra e do império”.
Focar na insistência de Gaza em falar sobre ashlaa’ nos ajuda a apreender como o desmembramento violento de corpos testemunha a vida e o amor sob a colonização, pois testemunham o terror do Estado. Ao colocar o foco na ashlaa’, reconheço o chamado das vozes de Haneen e Lena e ouço atentamente as palavras que as pessoas usam. Coletei imagens e narrações de mídia social (Instagram, X/Twitter, Facebook), em um momento de genocídio, como uma forma de etnografia digital que me ajuda a entender como as pessoas dão sentido a cenas de desmembramento brutal e morte em suas vidas cotidianas em meio a um genocídio.
Pensando com Bisan, Lena, Haneen e Rami sobre partes de corpos espalhadas, vemos que a ashlaa’ desafia o colonialismo de assentamento ao refletir sua violência racializada e as estruturas e relações ossificadas que o acompanham e o fomentam. A evidência de partes de corpos e carne ferida no genocídio em andamento em Gaza força a pergunta: “Qual é a função política do corpo morto do colonizado?”
Explorar os significados políticos da ashlaa’, mutilada e despojada de marcadores de identidade e continuidade, revela os pilares da violência colonial genocida que buscam cortar os laços entre os vivos e os mortos. Bisan descreve a ashlaa’ como clamando para ser ouvida, para receber um lar em meio a tal domicídio, para dar evidências do terror. A ashlaa’, como os portadores de uma política violenta e do terror de Estado, evidencia o uso do corpo palestino despedaçado na manutenção de uma governamentalidade sionista de corpo e terra. A ashlaa’ vai além do desmantelamento dos domínios biopolíticos e necropolíticos de suas geocorporografias, exigindo que leiamos as inscrições de carne/corpo/lar/terra desmembrados, feridos e moribundos. A ashlaa’ funciona como um significante que revela o desejo contínuo de Israel de demonstrar poder por meio de um punhado de carne e sangue, e por tentativas de impedir tanto os palestinos como a Palestina sejam inteiros.
Testemunhos de Gaza colocam o foco em ashlaa’ usando sua própria língua e sintaxe árabe, produzindo sua própria morfologia. Seu uso da ashlaa’ encena a arquitetura do corpo retalhado como uma fonte de poder contra a violência do racismo antipalestino e da supremacia sionista. O colonizador percebe a existência e a humanidade dos palestinos como uma impossibilidade, precisando reduzi-los a um estado de não-respiração. O sangue do colonizado é a matéria-prima necessária para a fabricação de uma ordem social genocida. Ashlaa’ literalmente se torna o solo para a vida do colonizador.
Vozes palestinas apontam para o trabalho político e psicológico da ashlaa’. Palestinos em Gaza reconhecem as formas de inscrição material que marcam o corpo desmembrado de palestinos como indigno do luto da vida. Juntar-se aos moradores de Gaza na coleta da ashlaa’ de seus entes queridos, pensando nos significados que a ashlaa’ possui, representa uma esperança de criar possibilidades de vida, apesar da impossibilidade genocida da vida em Gaza. A preocupação existencial em torno da totalidade e coletividade de partes dispersas do corpo — dos próprios mortos — é fundamental para afirmar o ser ontológico e a reunificação epistêmica em um tempo de genocídio e na terra da Palestina.
Revivendo o despedaçado
Em 17 de outubro de 2023, fui confrontada com uma gravação audiovisual de um pai chorando segurando duas sacolas plásticas gritando para uma multidão em Gaza, “Ei, pessoal… ei, pessoal [ya naas]… meus filhos morreram [wlaadi maatu]… meus filhos morreram… aqui estão eles, todos eles.” Em 7 de julho de 2024, assisti a um repórter entrevistando um pai chorando em pé, chorando entre os escombros, enquanto ele explicava que estava procurando a ashlaa’ de seus quatro filhos. E também ouvi depoimentos de mães que amamentavam e que correram para hospitais para amamentar crianças de Gaza quando os corpos de suas próprias mães foram transformados em ashlaa’, porque precisavam do calor de uma mãe amorosa para segurá-las e alimentá-las.
Quando pais e mães de Gaza procuraram os corpos e pedaços de corpos espalhados de seus entes queridos sob os escombros, ou carregaram sacos plásticos cheios de ashlaa’ para insistir que esses ossos e carnes mortas eram seus filhos, as famílias encontraram novas maneiras de criar condições para uma vida vivível, calor e amor. Entre essa ashlaa’ ferida e uma maternidade comunitária dispersa, li a remontagem parental da capacidade de sobrevivência em meio ao deslocamento genocida.
Vivendo em meio ao genocídio em Gaza, os palestinos afirmam sua humanidade remontando partes sociais e físicas do corpo despedaçadas, conectando-as aos entes queridos e à terra. Como uma mãe protestou enquanto coletava a ashlaa’ de sua filha após o ataque ao campo de Nuseirat em junho de 2024, sua filha agora era fatafeet [pedaços cortados]. No entanto, ela reivindicou sua filha para a humanidade, e contra sua impermanência como palestina e seu exílio ontológico como fatafeet. É por meio desses atos de coleta de ashlaa’, mesmo quando em pequenos pedaços irreconhecíveis, que o leite materno, o calor parental e a coletividade comunitária insistiram no amor, na inteireza e na produção de uma vida vivível.
Essa coleta, acolhimento e alimentação são feitos mesmo quando famílias inteiras são mortas. Os habitantes de Gaza estão recusando o desmembramento físico e social; e, outra direção, escolhem o caminho da reunificação real e epistêmica por meio da coleta e unificação da ashlaa’ (não apenas de partes do corpo, mas também de entidades socialmente desmembradas); exigindo rememoração e, portanto, criar as condições de uma vida vivível.
Enquanto os palestinos em Gaza estão em uma cova aberta e coletiva, sufocados pelo fedor de corpos decepados, eles coletam, cobrem, honram e sacralizam a ashlaa’ para revitalizar o todo. Mesmo quando uma mãe de Gaza amamenta crianças que não são suas para interromper a maquinaria colonial que corta a vida em pedaços de carne/ossos mortos, tais ações dão origem a possibilidades ontológicas: uma política de vida de Gaza. As palavras e ações de Gaza revelam que eles veem uma inter-relação entre o corpo psíquico, corpóreo, territorial e social-nacional da ashlaa’.
Quando confrontados com atrocidades incompreensíveis contra seus entes queridos, eles nos ensinam como a criatividade pode produzir totalidade em meio e a partir da ashlaa’. É nesse espaço de morte, de sepulturas coletivas ou hospitais lotados de cadáveres não reconhecidos, que ocorre a transformação do banho de sangue seco. É contra a produção de cadáveres deslocados e retalhados que parentes, filhos, filhas, pais, mães recriam relacionamentos e inovam a vida. Eles viram o colonialismo necrófilo de colonos de cabeça para baixo quando amamentam em um genocídio; falam de, coletam, seguram, reúnem e abraçam ashlaa’.
Contra a necrofilia colonial
Usar a fragmentada e sangrenta ashlaa’ para pensar sobre a transformação global é crucial neste momento de genocídio. A ashlaa’ conecta o passado e o presente, os vivos e os mortos, os corpos despedaçados e ainda intactos da colônia. Invocar a ashlaa’ é romper a dialética colonial da história. A ashlaa’ representa a luta pela sobrevivência psicoafetiva e agência em meio às agonias do ataque implacável. Colocar o foco na ashlaa’ em uma análise da violência genocida contra os palestinos em Gaza não é apenas recusar o não-ser ontológico e a privação de totalidade sofrida pelos colonizados, mas nomear e reivindicar a ashlaa’ para problematizar o investimento racial, geopolítico e estético do Estado israelense na violência.
A ashlaa’ é um conceito que vem das palavras dos palestinos em Gaza, e pode ser lido tanto como um sinal de extrema violência e terror, quanto como uma recusa de tal desumanização genocida. Falar de ashlaa’ é um ato libertador de reunificação [lamm shamil, lammlamehl] mobilizado pelos palestinos em Gaza, como Lena, Rami, Haneen e Bisan que insistentemente remontam a ashlaa’ como Palestina. Eles propõem uma criação de vida libertadora e revolucionária, um esforço político para reconstruir novos espaços de amor em uma luta por uma vida digna e humana.
Referências
AGATHANGELOU, Anna M. 2016. “Fanon on Decolonization and Revolution: Bodies and Dialectics.” Globalizations 13, n. 1, p. 110–128.
FANON, Franz. 1961. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.
PUGLIESE, Joseph. 2007. “Geocorpographies of Torture.” ACRAWSA e-Journal 3, n. 1, p. 1–18.
Agradecemos a Nadeera Shaloub-Kevorkian pela autorização da publicação deste ensaio, publicado originalmente em 31 de outubro de 2024 em: https://culanth.org/fieldsights/ashlaa-and-the-genocide-in-gaza
Nadera Shaloub-Kevorkian é palestina de Jerusalém. É atualmente professora visitante do Departamento de Antropologia da Universidade de Princeton. Integra a Cátedra Global em Direito da Queen Mary University, em Londres. É professora extraordinária da Universidade da África do Sul e professora emérita da Universidade Hebraica, em Jerusalém. Autora de vários livros, entre eles Militarization and Violence Against Women in Conflict Zones in the Middle East: The Palestinian Case Study (Cambridge University Press, 2010); Security Theology, Surveillance and the Politics of Fear (Cambridge University Press, 2015); Incarcerated Childhood and the Politics of Unchilding (Cambridge University Press, 2019); Engaged Students in Conflict Zones, Community-engaged Courses in Israel as a Vehicle for Change (Palgrave Macmillan Press 2019); The Cunning of Gender Violence (Duke University Press 2023).
O caráter da violência do colonialismo de assentamento (Ghassan Abu-Sittah)
Este ensaio é uma resposta a “Ashlaa’ e o Genocídio em Gaza: produzir uma vida vivível contra a carne fragmentada”, de Nadera Shalhoub-Kevorkian, e é parte do dossiê Antropologia em tempos de genocídio: Nakba e Retorno, publicado pela Sociedade de Antropologia Cultural, uma seção da Associação Antropológica Americana.
O caráter da violência colonial é, por natureza, performativo, espetacular e, portanto, patentemente não utilitário. A violência colonial deve ser exercida não de forma a conferir ao perpetrador quaisquer vantagens militares ou de segurança. Sua brutalidade deve ser vista apenas em sua finalidade e não em seus próprios meios de destruição.
Na atual guerra em Gaza, uma expressão de sua violência não adulterada tem sido o uso de munições de fragmentação que causam amputações de forma desproporcional, e o uso de bombas cujo poder destrutivo excede em muito o necessário para o alvo pretendido. Como um médico cirurgião que serviu aos moradores de Gaza, e como alguém que viu e testemunhou em primeira mão a produção de ashlaa’, experimentei visceralmente seu poder performativo.
Para muitos palestinos que tentam chorar e enterrar seus entes queridos mortos, um corpo completo, se houver algum, é um luxo que muitos não têm. Equipes médicas nas salas de cirurgia da Faixa de Gaza pegavam um membro amputado e o colocavam em uma caixa de papelão no final da cirurgia. A caixa de papelão era então fechada com fita adesiva e o nome do paciente era escrito na caixa. O caixão-membro seria então dado à família para enterrar, com o máximo de dignidade que pudessem administrar. Em uma noite no hospital al-Ahli, enchemos seis desses caixões-membro.
Após um ataque de míssil, os sobreviventes tentaram coletar a ashlaa’ de seus entes queridos para que, pelo menos na morte, permaneçam inalterados e inteiros; que permaneçam eles mesmos. Os menos afortunados têm que esperar dias, semanas, senão meses para retornar aos escombros de sua casa ou às rasas valas comuns quando as forças terrestres israelenses se retiram da área para que possam procurar e juntar os restos mortais decompostos e recuperados de seus filhos/as, irmãos/ãs, pais ou parentes. Por mais horrível que isso seja, eles têm mais sorte do que aqueles que não conseguiram acessar ou encontrar os corpos enterrados sob toneladas de escombros; ou que tenham sido atingidos por uma bomba de duas mil libras, casos em que simplesmente não há mais nada do corpo humano para encontrar.
Das 21 mil crianças em Gaza que a ONG Save the Children diz estarem desaparecidas atualmente, a maioria pertence a essas duas categorias: estão enterradas sob os escombros ou foram pulverizadas. Mas mesmo aquelas que foram enterradas inteiras não estão seguras e podem não escapar de serem transformadas em ashlaa’ após a morte. As escavadeiras e tanques do exército israelense araram intencionalmente cemitérios durante suas muitas e repetidas incursões, desenterrando corpos em seu rastro e transformando corpos enterrados inteiros em ashlaa’. Para Israel, a morte não é o ponto final da violência. Israel persegue suas vítimas além da morte para feri-las novamente e mais uma vez após a morte.
A teorização de Nadera Shaloub-Kevorkian explora o significado dessas características de desmembramento, ou mais precisamente, de produzir ashlaa’, para vítimas e sobreviventes que tentam resistir ao desmembramento cada vez maior de seus entes queridos; bem como para o resto de nós que tenta dar sentido aos níveis insondáveis de violência racializada pelo perpetrador e à indiferença racializada do mundo ocidental.
O significado de ashlaa’ em árabe é mais do que restos fragmentados, no entanto. Ele abrange um entendimento implícito de que a soma dos ashlaa’ ou partes do corpo não tornará uma pessoa falecida inteira novamente, e, portanto, há certa inutilidade em sua coleta.
Depois de meus 43 dias trabalhando como cirurgião nesta guerra genocida em Gaza e vinte anos como cirurgião de guerra, cheguei à seguinte conclusão: a diferença entre uma guerra e um genocídio é que a primeira destrói o presente para alterar o futuro, enquanto um genocídio destrói o passado e o presente para impedir que o futuro aconteça. Visitar os túmulos de entes queridos é uma maneira de encontrar o passado que permite que as pessoas avancem de um presente doloroso para um futuro mais esperançoso. O desmembramento do corpo palestino morto por Israel em ashlaa’ insepultáveis é parte da prevenção de tal futuro.
Agradecemos a Ghassan Abu-Sittah por autorizar a publicação deste texto, originalmente publicado em 31 de outubro de 2024 em: https://culanth.org/fieldsights/the-character-of-settler-colonial-violence
Ghassan Abu-Sittah é médico cirurgião plástico britânico-palestino. Estudou Medicina na Universidade de Glasgow (Reino Unido), e fez residência em Londres. Em 2011, foi recrutado pelo American University of Beirut Medical Center, onde se tornou Chefe da Divisão de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva. Em 2015, foi cofundador e se tornou diretor do Programa de Medicina de Conflito no Global Health Institute da American University of Beirut. É professor de diversas universidades em Londres e é chefe clínico da Operational Trauma Initiative no EMRO Office da Organização Mundial da Saúde e atua no conselho de diretores da INARA, uma instituição de caridade dedicada a fornecer cirurgia reconstrutiva para crianças feridas de guerra no Oriente Médio, e no conselho de curadores da Medical Aid for Palestinians, sediada no Reino Unido. Publicou extensivamente sobre as consequências para a saúde de conflitos prolongados e sobre ferimentos de guerra, incluindo um livro-texto médico, “Reconstructing the War Injured Patient” e “Treating the War Injured Child”. Trabalhou como cirurgião de guerra no Iêmen, Iraque, Síria, Sul do Líbano e durante as quatro guerras na Faixa de Gaza. Em 9 de outubro de 2023, ele entrou na Faixa de Gaza e trabalhou no Hospital Shifa e depois no Hospital al-Ahli-Baptist por 43 dias durante o atual genocídio. As evidências que ele forneceu foram parte da submissão sul-africana ao Tribunal Internacional de Justiça. Atualmente, é professor de Medicina de Conflito no Centro Médico da Universidade Americana de Beirute, no Líbano.
(Re)lembrando – (Re)member – os mortos no fim do mundo: ashlaa’ como metodologia feminista crítica (Sarah Ihmoud)
Este ensaio é uma resposta a “Ashlaa’ e o Genocídio em Gaza: produzir uma vida vivível contra a carne fragmentada”, de Nadera Shalhoub-Kevorkian, e é parte do dossiê Antropologia em tempos de genocídio: Nakba e Retorno, publicado pela Sociedade de Antropologia Cultural, uma seção da Associação Antropológica Americana.
A morte é uma bênção, e os vivos morrem mil mortes por dia. Em Gaza, isso se tornou um dito comum. Aqueles que escapam do “luxo da morte” ficam para reunir seus restos, para viver com seus vestígios. Como Mariam Mohammed Al Khateeb, uma sobrevivente do genocídio em andamento escreveu recentemente:
Ninguém morre completo. Após um ataque de míssil, todos fazem buscas nos escombros para reunir seus entes queridos. Mães procuram as cabeças de seus filhos para uni-las a seus corpos. Ser uma boa mãe no resto do mundo é alimentar seus filhos com boa comida e mantê-los aquecidos, mas ser uma boa mãe em Gaza é enterrar seus filhos inteiros.
Entre aqueles que continuam a sobreviver à Nakba em andamento, as palavras de Mariam nos convidam a considerar como explicar a impossibilidade de abraçar a vida palestina em meio à percepção totalizante da morte. Reunir as partes desmembradas do corpo palestino morto pode ser entendido como um ato radical de amor e cuidado, de criação de vida e de maternagem no fim do mundo?
Nadera Shalhoub-Kevorkian teoriza essa impossibilidade por meio do conceito de ashlaa’. Em sua tradução direta, ashlaa’ é um termo árabe que se refere a partes de corpos espalhadas, a carne e os ossos desmembrados deixados no rastro de ataques aéreos e massacres sionistas. No entanto, explorando isso ainda mais, ela considera ashlaa’ como um analisador de recolhimento dos mortos que cresce organicamente da práxis dos palestinos em Gaza que coletam e (re)memoram² os restos mortais de seus entes queridos.
De acordo com Shalhoub-Kevorkian, “a preocupação existencial em torno da totalidade e coletividade das partes dispersas do corpo — e dos próprios mortos — é a chave para afirmar o ser ontológico e a reunificação epistêmica em um tempo de genocídio e na terra da Palestina”. O colonialismo sionista na Palestina está investido em romper nossos corpos, tanto individuais quanto comunitários; o corpo palestino hipervisível, despedaçado em fragmentos, exerce o poder do colonizador sobre nossos corpos e/tal como em nossas terras. Portanto, nesse ato vital de reunir as partes dispersas do corpo morto palestino, aqueles que sobrevivem à Nakba afirmam uma reivindicação de produção de vida, totalidade e pertencimento, mesmo diante do terror sem fim.
Eu leio a teorização de ashlaa’ de Shalhoub-Kevorkian não apenas como um analisador urgentemente necessário dos estudos palestinos, mas como um analisador feminista que pensa com a força da criação de vida indígena em meio ao grão colonial da morte. É também, eu afirmo, uma metodologia feminista crítica urgentemente necessária para ouvir e narrar a história palestina neste momento. Pois rememorar não é apenas juntar os corpos e a carne de nossos amados desmembrados, reivindicar o valor de suas vidas no esforço de enterrá-los inteiros; é também uma reivindicação por lembrá-los e reintegrá-los [(re)member].
O que os mortos querem que lembremos [(re)member], e como podemos ouvir com amor e cuidado, seus chamados do além-túmulo? O que a palavra escrita pode fazer para conter a dor de uma mãe rasgando a areia em busca do corpo morto de seu filho, ou para confortar a criança que perdeu toda a sua família? A caneta do etnógrafo pode ser colocada em prática ao lado da criança que coleta ashlaa’ — pedaços de nossa carne e ossos mortos e desmembrados — de baixo dos escombros?
A linguagem para descrever o horror corporificado deste momento muitas vezes parece inadequada ou sufocantemente impossível. Não é nada menos que um convite devastador para pensar com a força da vida em meio a tanta morte, em parte porque fazer isso nos convida a sentir a perda intransponível e a lamentar. Como podemos lamentar o que ainda não acabou? “Há muitas coisas que eu gostaria de poder sentir e dizer sobre a Palestina”, escreve Tara Al Alami, “mas primeiro levará várias vidas para lamentar o que foi feito à nossa terra e ao nosso povo”.
Este mundo deve acabar, e aqueles que sobreviverem devem ajudar a levar a história adiante. Contra a impossibilidade da linguagem de narrar o horror contínuo sentido visceralmente em cada vídeo visto de um corpo jovem queimado ou despedaçado, da carne de um bebê sem cabeça erguida para as câmeras gravarem, de uma mãe beijando os pés de seus filhos mortos, ashlaa’ como metodologia feminista crítica centra o imperativo de testemunhar e reunir os pedaços de nossa história palestina contínua como parte da tarefa de nossa sobrevivência.
Manter o movimento ontológico de ashlaa’ como (re)lembrar [(re)member], o corpo palestino nos convida a reunir os pedaços fragmentados da história palestina neste momento, a seguir o exemplo das mães, crianças e cuidadores nas linhas de frente do genocídio que nos lembram que é somente por meio de nossa comunhão — permitindo a continuidade e a intergeracionalidade de nossas vidas familiares e comunitárias — que continuaremos a afirmar a vida palestina e nossa sobrevivência como um povo. Nosso investimento na tarefa urgente de sermos os guardiões coletivos de nossa totalidade é fundamental para honrar nossos mártires, ouvindo junto com eles para imaginar e ajudar a inaugurar no mundo um futuro livre.
Agradecemos a Sarah Ihmoud por autorizar a publicação deste texto, originalmente publicado em 31 de outubro de 2024 em: https://culanth.org/fieldsights/remembering-the-dead-at-the-end-of-the-world
Sarah Ihmoud é uma antropóloga chicana-palestina que trabalha com as experiências vividas, histórias e contribuições políticas das mulheres palestinas e do feminismo palestino, tanto na Palestina quanto na diáspora. É membro fundadora do Palestinian Feminist Collective, um coletivo intergeracional de feministas árabes e palestinas com sede em Turtle Island que se propõe a alcançar a libertação social e política palestina confrontando a violência sistêmica de gênero, sexual e colonial, a opressão e a desapropriação. Ela é professora assistente de antropologia no College of the Holy Cross.
¹ [N.T.] No original, em inglês, a autora usa a palavra “livability”, que pode ser traduzida como habitabilidade. Por considerar que o termo não dá conta da ideia apontada no texto, a da capacidade de produzir uma vida vivível, ou ainda, criar as condições para que a vida possa florescer em um determinado tempo e espaço, optamos por traduzir o termo por variações de “produzir uma vida vivível”.
² [N.T.] No original em inglês, a autora usa a palavra (re)member que confere um duplo sentido (lembrar e remembrar, este último um neologismo) que se perde na tradução. Assinalamos no texto, entre colchetes, outras passagens onde a palavra é utilizada.
Todos os textos foram traduzidos e revisados pelo coletivo desorientalismos