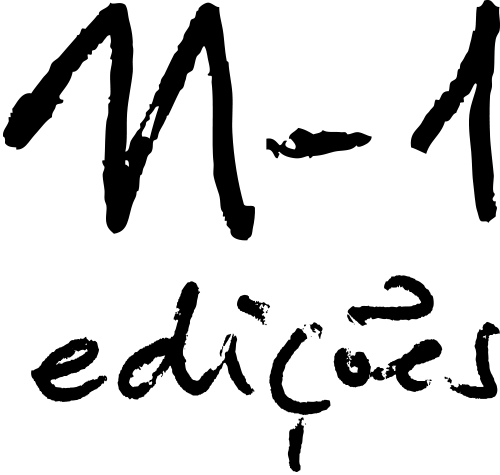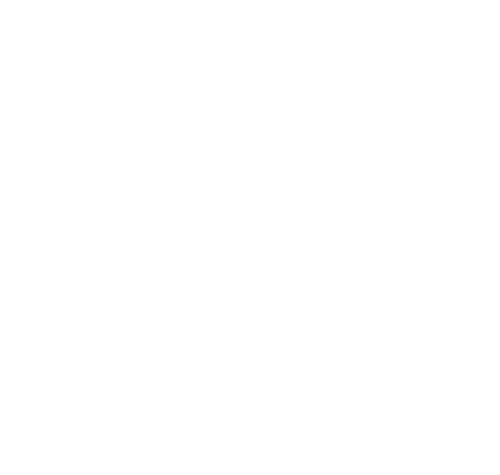Auschwitz, Estado de Israel, Wall Street. Quem é o judeu pós-judeu? (Ernani Chaves)
Talvez não seja exagerado dizer que o ataque do Hamas a Israel na noite de 7 de outubro passado é comparável ao das Torres Gêmeas – não só pelo que há de inesperado e ousado, uma vez que colocou em xeque um sistema de segurança que parecia inexpugnável –, mas também por sua violência, sua crueldade, seu alcance mortífero ao atingir preferencialmente civis. De um lado, pessoas que participavam de uma rave, de outro, funcionários em seu local de trabalho. As consequências se fizeram sentir imediatamente. Em ambos os casos, estabeleceu-se um “estado de exceção” a fim de combater os adversários. Nesse ponto, o ataque do Hamas ganha sua singularidade: atinge o vizinho indesejável e, mais do que isso, um inimigo declarado, dando continuidade ao conflito que já dura mais de um século – desde que o retorno ao “país natal” se tornou para os judeus europeus uma espécie de solução para o problema do antissemitismo. A resposta de Israel foi imediata, e, desde então, a Faixa de Gaza vem sendo incessantemente atacada, bombardeada, com milhares de mortos, sem poupar ninguém. Mais uma vez, desde a imigração de judeus a partir do final do século xix, as feridas abertas pela ocupação da Palestina – que aumentaram consideravelmente quando a região passou a ser um Mandato Britânico no fim da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, na fuga da perseguição nazista nos anos 1930 – mostravam que sua cicatrização está muito distante.
As reações no plano internacional foram igualmente imediatas, e se dividiram, mostrando as dissensões que atravessam a nossa época nos planos político e econômico. Grandes “potências” como os EUA e a Alemanha mantiveram apoio a Israel, enquanto Rússia e China não deixaram de se solidarizar com os palestinos. Os motivos dessas respectivas adesões são vários, a maioria conhecida por nós. Mesmo reconhecendo o direito à defesa por parte de Israel, a Comunidade Europeia recomendava a estrita obediência às regras do Direito Internacional, que foram inteiramente ignoradas pelo Estado israelense. A palavra-chave da crítica a Israel se chamava e se chama “sionismo”! Atualmente, no Brasil, ser pró-Israel ou pró-Palestina significa, em suma, ser de “direita” ou de “esquerda”. Essa avaliação não ocorre por acaso, já que na configuração política brasileira houve uma estreita aliança entre o governo Bolsonaro e o Estado de Israel (de acordos econômicos e militares até a presença de membros da comunidade judaica em postos elevados no governo).
E, nesse contexto, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia foi escrito. Seus autores, Bentzi Laor, israelense, e Peter Pál Pelbart, brasileiro de origem húngara, apresentam mais que um esforço extraordinário para tratar de uma questão no calor da hora, oferecendo uma rara reflexão a leitores da língua portuguesa acerca das origens, das diversas motivações e dos desdobramentos da questão Israel-Palestina. O próprio título do livro, com seu enunciado enigmático – O judeu pós-judeu – já nos indica, entretanto, que não se trata de uma defesa do Estado de Israel diante dos ataques diários à comunidade judaica e à acusação de que todos são “sionistas” pelo fato de seus autores serem judeus e um deles também israelense. Em geral, por desconhecimento da própria história do movimento sionista, confunde-se a sua configuração atual com os propósitos que animaram sua criação no final do século xix. A “guerra de narrativas”, como se diz hoje em dia, é alimentada por generalizações. Qualquer espécie de relativização – não sobre a condenação do extermínio da população civil de Gaza, evidentemente – é suspeita de um condenável apoio à “causa sionista”.
Poucos lembram, e a maioria não conhece, que devemos ao diretor israelense Amos Gitaï (nascido em Haifa e vivendo entre Paris e Israel) um dos retratos mais impressionantes da ascensão da extrema direita em Israel, na sua obra-prima que no Brasil recebeu o título de O último dia de Yitzhak Rabin, de 2015. Numa mistura de documentário e encenação, temos diante de nós um quadro que nos apresenta, sem complacência, a capitulação de Israel ao nacionalismo desenfreado e ao dogmatismo religioso. As expectativas criadas pelas posições do então primeiro-ministro Yitzhak Rabin em seu segundo mandato (de 1992 até a sua morte em 1995) em busca de um acordo de paz duradouro na região – e que lhe valeram o Prêmio Nobel da Paz em 1995 juntamente com Shimon Peres e Yasser Arafat – se frustaram completamente. Sua disposição em cumprir os famosos Acordos de Oslo – pelos quais Israel reconhecia a OLP, a Organização da Palestina Livre, e cuja imagem emblemática foi a do aperto de mãos entre ele e Arafat – tornou-se incompatível com o ideário dos militantes radicais de direita, alimentados, é óbvio, por seus líderes. Entre eles, o atual primeiro-ministro de Israel, cujos discursos inflamados são registrados no filme. Um desses militantes fez o “trabalho sujo” desejado e assassinou Rabin. É impressionante o quanto um filme pode ser muito mais elucidativo das questões fundamentais que mergulharam Israel no pântano da intolerância do que grande parte da literatura especializada.
Em entrevista à revista Veja, publicada em 2 de novembro de 2023, em resposta à pergunta sobre em que Netanyahu se equivoca, Gitaï responde:
Seu governo criou atritos e divisões na sociedade israelense e o Hamas está de forma cínica tentando tirar vantagem disso. É uma administração que governa a partir do confronto, que constantemente manipula judeus contra árabes, religiosos contra secularistas, serfadistas (judeus de origem portuguesa e espanhola) contra asquenazes (judeus originários do Leste europeu). Tudo pelo simples propósito de manter o sr. Netanyahu no poder. É um governo que luta contra o próprio país e o enfraquece.
Eu associo O judeu pós-judeu a essa postura de Gitaï. Antes de tudo, o livro é enciclopédico no seu esforço de elucidação do problema ao recorrer a diversos campos do conhecimento, da filosofia à história, das ciências sociais às grandes questões econômicas e políticas que provocaram tensões e rachaduras no mundo que é nosso contemporâneo. A obra recorre a diversas tradições do judaísmo, nos lembra da posição dos intelectuais judeus num cenário europeu marcado pelo antissemitismo e se utiliza de diferentes tradições filosóficas dentro e fora do judaísmo – de Marx a Judith Butler, de Walter Benjamin a Michel Foucault, de Hannah Arendt a Jurgen Habermas e mesmo a Nietzsche, acrescidos de Deleuze e Guattari, Freud e Maurice Blanchot. Os autores não se recusam a marcar posições e a definir, com a maior clareza possível, as contribuições e os limites dos que estão implicados nesse debate. Eles nos lembram, mais uma vez, a postura iconoclasta dos pensadores judeus ligados ao que se chama de “messianismo”, para mostrar que suas posições surgem sempre de um contraponto à autoridade rabínica oficial e instituída, privilegiando as correntes místicas, que desafiavam as interpretações estabelecidas da Torá e que, por isso, foram consideradas posições heréticas por sua oposição à Lei. Nesse aspecto, Walter Benjamin é o exemplo par excellence. Do mesmo modo, é sempre bom lembrar que a questão do “judaísmo” no pensamento e na experiência desses pensadores já era atravessada pela questão do sionismo, e que os mais representativos dentre eles ou escolheram emigrar para a Palestina, como Martin Buber e Gershom Scholem ou eram como Arnold Zweig e aqueles para quem a criação do Estado de Israel não significava a solução do problema. Aqui, a figura freudiana do “judeu sem Deus” pode ser um bom exemplo dessa última posição, lembrando que Max Eitingon, o presidente da Policlínica Psicanalítica de Berlim de 1920 a 1933, foi um dos psicanalistas que emigrou, tendo falecido em Jerusalém. A recusa de Deus, nesse caso, significa igualmente recusar um Estado judeu. Essa recusa não significava, porém, eliminar toda a relação com o judaísmo; ao contrário, tratava-se de ressignificá-la. Talvez possamos reconhecer aí um dos impulsos da ideia de um “judeu pós-judeu”.
Entretanto, é possível encontrar na pequena história da “identidade judaica” que o livro expõe a justificava maior para outra figura do judeu: O que está antes do “pós”? Qual seria a identidade do judeu em nosso momento atual? A resposta está nesse aglutinado composto pela memória do Holocausto, pela criação do Estado de Israel e pela posição dos judeus – americanos, em especial, nos corredores de Wall Street. A memória do Holocausto e sua utilização (sua perversão, melhor dizendo) passa a justificar todos os atos de violência por parte do governo israelense, de modo que toda crítica a seus atos passa a ser desqualificada como antissemitismo. A criação do Estado de Israel, por sua vez, sustentada em última instância pela experiência do Holocausto, justifica a sua defesa a qualquer custo, e, portanto, a invasão das terras a sua volta, como é o caso da Cisjordânia. Por fim, os autores lembram que, desde os primeiros assentamentos na Palestina, o apoio financeiro dos judeus americanos, por exemplo, tornou a posse de terras um projeto também marcado pela especulação, justificada pela importância do retorno à Tzion, a “Terra prometida”. Segundo os autores, uma identidade traduzida por “extremos”: pelo sofrimento extremo, pelo nacionalismo extremo e pelo anseio extremo pelo sucesso financeiro.
O “judeu pós-judeu”, portanto, não é apenas aquele que denuncia a constituição histórica dessa identidade, afastando-se decidida e criticamente dela – a seção sobre a passagem da ocupação da Cisjordânia de um “problema” para uma “tragédia” é exemplar, nesse caso –, mas que propõe também uma retomada das “esperanças não realizadas do passado” (a frase é de Walter Benjamin) num contexto que não está muito distante daquele que culminou na criação do Estado de Israel e na sequência de conflitos e guerras após essa criação – uma vez que o mundo, o nosso mundo aqui e agora, volta a ser assombrado por renovadas formas de fascismo. Nessa perspectiva, contra uma identidade fechada em si mesma, que recusa a “alteridade” e que, assim, coloca em risco a própria ideia de democracia, o “judeu pós-judeu” reivindica, nas circunstâncias atuais, o retorno do judeu diaspórico, desse “errante” cujo “lar”, cujas “raízes” estão assentadas muito mais na imagem do permanente exílio do que na construção de um território dividido e atravessado por muros altos e um sistema de vigilância que deveria protegê-lo de todo e qualquer ataque. Para os autores, o cosmopolitismo e o anticonformismo que caracterizaram toda uma geração de pensadores, pensadoras e intelectuais de origem judaica (cuja contribuição nos âmbitos da filosofia, da ciência, da literatura e das artes são tão fundamentais a ponto de se tornarem autênticos patrimônios de nossa cultura) foram substituídos pela acomodação às exigências do sucesso e do êxito próprios da cultura neoliberal, poderíamos acrescentar. Uma identidade judaica marcada de maneira tão positiva – mesmo sob o peso do antissemitismo – como outsider deveria, no limite, ser eliminada e se tornar uma figura do passado, sem despertar qualquer nostalgia. O “judeu pós-judeu” é, enfim, mais do que apenas o ponto de vista reconhecido pelos autores como ponto de partida do livro, ou seja, como sua perspectiva, mas um ponto de vida.
Se comecei lembrando o filme de Amos Gitaï, concluo retomando a referência dos autores aos acontecimentos que sucederam a premiação do filme No Other Land, da seção “Panorama” no mais recente Festival de Cinema de Berlim, em fevereiro.¹ O filme conta a situação trágica nos territórios ocupados por meio da amizade entre Yuval e Adra. As cenas iniciais mostram a destruição do vilarejo onde Adra nasceu e seu encontro com Yuval. Por ocasião da premiação, Yuval aproveitou a oportunidade e denunciou o apartheid que o separa de seu parceiro, pois, mesmo sendo vizinhos, ele pôde viajar e se manifestar, enquanto Adra estava submetido à lei marcial. No seu discurso, disponível no YouTube, Adra relembrou o que acontecia em Gaza e pediu o fim da guerra. Alemães e israelenses imediatamente acusaram Yuval de antissemitismo, e ele e a família passam a receber ameaças de morte. Aos alemães ele não deixou de dizer: “Não me responsabilizem por vossa culpa!”. A resposta da mídia israelense foi imediata, por meio da celebração da morte heroica de soldados por amor a Israel, por amor à pátria. Como concluem os autores com amarga ironia: “A guerra como demonstração suprema do amor”.
O judeu pós-judeu foi escrito enquanto Peter Pál Pelbart, um dos autores, estava em Berlim. Nenhum lugar parece ser mais significativo para estabelecer essa linha com seu parceiro Bentzi Laor. De um lado, a capital do iii Reich, que deveria ser eterno, no qual, às margens do Wannsee, num palacete luxuoso em meio a uma paisagem esplendorosa, foi decidida a “Solução Final” em 1942. Do outro, um Estado criado justamente com a finalidade de impedir que isso voltasse a acontecer. Infelizmente, a memória do sofrimento parece não ter sido suficiente para impedir a continuidade da guerra, da destruição, do genocídio.
¹ Documentário produzido por um coletivo israelense-palestino e dirigido pelos israelenses Yuval Abraham e Rachel Szor e pelos palestinos Basel Adra e Hamdan Ballai.
Ernani Chaves é doutor em Filosofia (USP), professor titular da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal do Pará, autor de Michel Foucault e a verdade cínica e tradutor de Freud para as Obras Incompletas da Editora Autêntica.