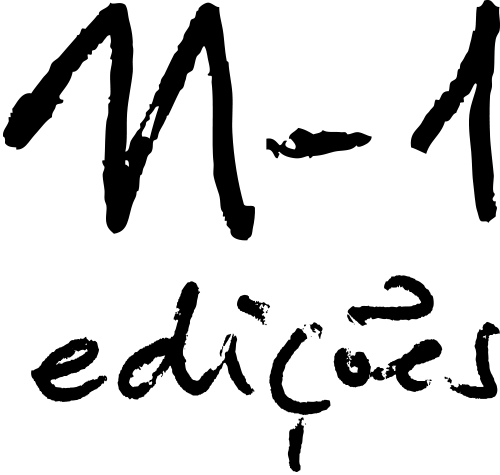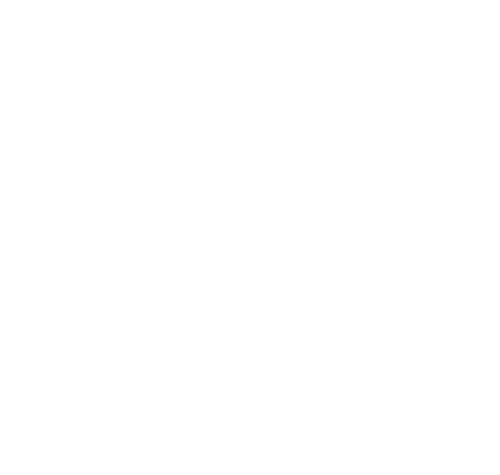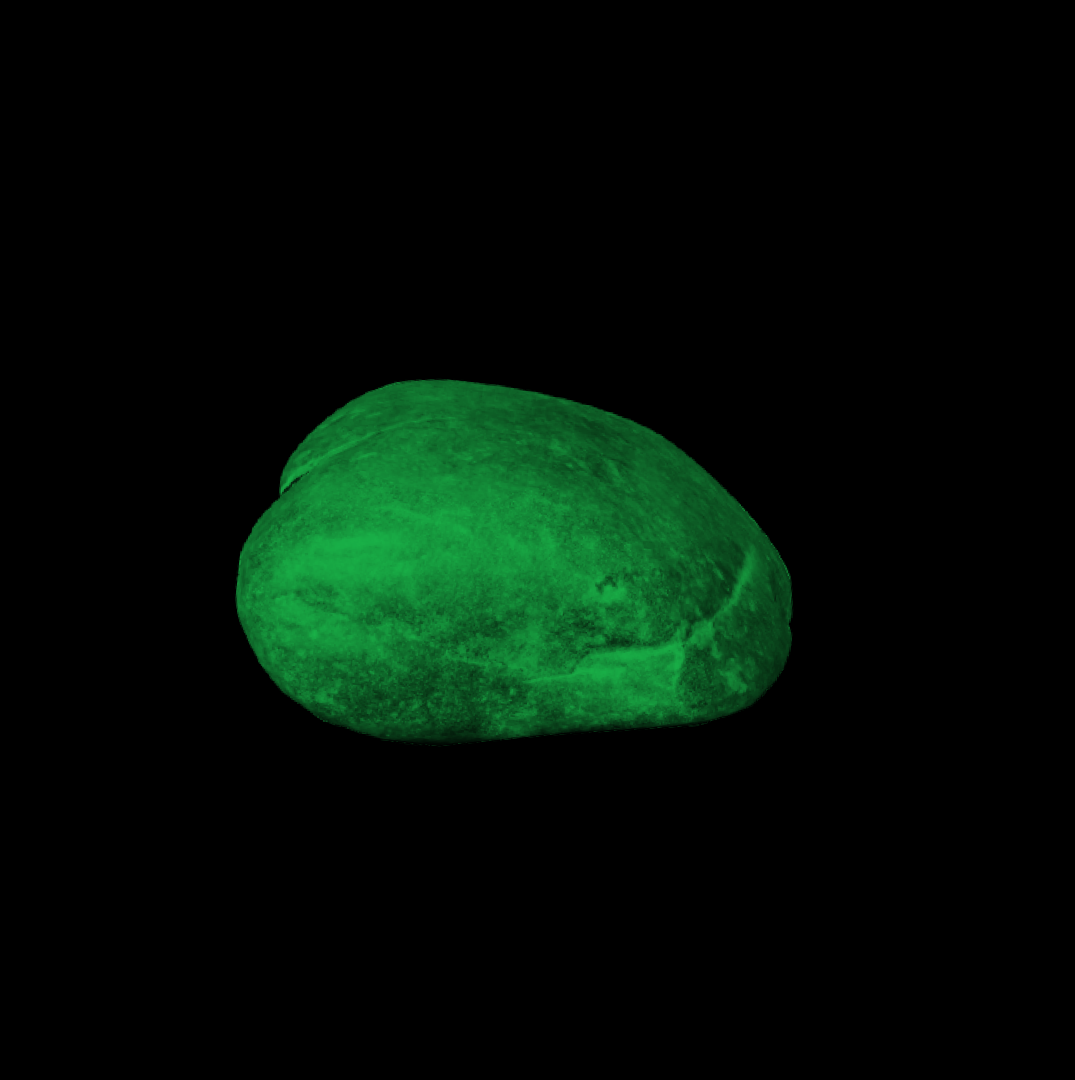
Homo Zion: como o “pinkwashing” apaga a história colonial (Hussein Omar)
 O soldado israelense, Yoav Atzmoni, postou em suas redes sociais uma foto sua com bandeira do arco-íris com a inscrição “Em nome do amor”
O soldado israelense, Yoav Atzmoni, postou em suas redes sociais uma foto sua com bandeira do arco-íris com a inscrição “Em nome do amor”
Crédito: Reprodução
Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto é lançado.
O extermínio do povo palestino, acelerado mais uma vez após 7 de outubro de 2023, produziu algumas das imagens mais assustadoras do século XXI. Em meio a esse constrangimento fotográfico de obscenidades, no entanto, uma foto se destaca: um soldado israelense, Yoav Atzmoni, segura uma bandeira do arco-íris com a inscrição “Em nome do amor” em inglês, árabe e hebraico, em meio aos destroços de casas bombardeadas. A imagem tinha a legenda:
A primeira bandeira do orgulho foi hasteada em Gaza. Yoav Atzmoni, que é membro da comunidade LGBTQ+, queria enviar uma mensagem de esperança ao povo de Gaza que vive sob a brutalidade do Hamas. Sua intenção era hastear a primeira bandeira do orgulho em Gaza como um chamado pela paz e liberdade.
Atzmoni confirmou mais tarde que teve a inspiração para rabiscar a letra de uma de suas músicas favoritas do U2 na bandeira, que seu parceiro o havia dado para levar ao campo de batalha, quando se viu cercado pelo muçulmano bismillah (“Em nome de Deus, o misericordioso, o compassivo”) em Gaza¹. A palavra árabe Alá soou para Atzmoni (um falante de árabe) como o hebraico Ahav. Ele substituiu aquele nome particularmente proibitivo que os muçulmanos dão a seu Deus por um significante supostamente universal (e ironicamente, paulino²): amor. Atzmoni alegou que sua mensagem era de paz e esperança para as pessoas que ele e seus companheiros combatentes alegavam estar libertando do governo maligno e teocrático do Hamas.
Nas centenas e milhares de comentários que se seguiram à imagem publicada por @Israel, uma conta oficial de mídia social do Estado, os críticos ridicularizaram a foto como o mais recente exemplo de pinkwashing — o nome dado à cínica campanha de Relações Públicas adotada pelo Estado israelense desde 2005 para representar o país como um paraíso queer. Inicialmente lançada para promover a Parada do Orgulho de Tel Aviv, o pinkwashing — que custou ao Estado 90 milhões de dólares em publicidade somente em 2010 — se tornou um braço central da Hasbara³ israelense. Muitos dos críticos da foto corretamente apontaram que o casamento gay não é permitido em Israel. Outros lembraram como Avi Maoz — representante do Knesset do partido de extrema-direita Noam, bem como vice-ministro encarregado da “Identidade Judaica” — tentou repetidamente proibir a Parada do Orgulho de Jerusalém e impor regulamentações legais que reafirmariam o status da família conjugal e heteronormativa. Alguns apontaram que o Ministro das Finanças Bezalel Smotrich (que se autoidentifica, ainda que sarcasticamente, como um “fascista homofóbico”) promoveu o apedrejamento de pessoas gays, trans e de gêneros dissidentes. Além disso, alguns lembraram como Itamar Ben-Gvir, o Ministro da Segurança Nacional, costumava organizar “paradas das feras” anti-Orgulho. Eles alegam que os líderes israelenses são profundamente homofóbicos em casa, mesmo que finjam ser homofílicos no exterior. Para os sionistas liberais, a foto de Atzmoni era uma prova da tolerância inerente da sociedade israelense, que havia sido ameaçada pelo governo de direita, populista e fanático de Netanyahu.
E ainda assim, embora seja indubitavelmente verdade que a foto parece hipócrita, dadas as visões da liderança política israelense, entender a função da imagem exige que avancemos além dessas acusações descritivamente precisas, embora politicamente ineficazes. A hipocrisia pode nos ajudar a entender como a foto foi feita para atrair gays brancos metropolitanos em lugares como Nova York e Berlim, mas não aborda quem mais ela pretendia convencer: uma elite política fundamentalista israelense e judaica que se tornou uma responsabilidade cada vez mais embaraçosa para aqueles que investiram, tanto figurativa quanto literalmente, em “pinkwashing Israel”. A insistência de Atzmoni em aparecer como um homem gay em combate fala de fissuras na sociedade israelense que remontam à sua fundação. Como Daniel Boyarin argumentou convincentemente, o sionismo foi um projeto colonialista que não pretendia elevar as populações árabes que ele viria a governar e deslocar, mas sim elevar os supostamente atrasados “judeus orientais” [Ostjuden]. A esse respeito, o “sionismo herzliano”, do qual Atzmoni era uma personificação, tinha uma “missão civilizadora, primeira e principalmente dirigida por judeus a outros judeus”. Os únicos nativos a quem Herzl imaginava dirigir sua missão civilizadora eram aqueles “Hottentot Ostjuden, que (…) eram lidos por ele como constituindo outra raça”. Como tal, podemos entender o “pinkwashing” como um projeto que busca elevar os homofóbicos judeus atrasados ao nível de suas elites cosmopolitas “ocidentalizadas”, que sustentam seus vínculos materiais e afetivos com os núcleos metropolitanos dos Estados Unidos. A triunfante sessão de fotos de Atzmoni também sinaliza aos fundamentalistas atrasados no governo que ele se imaginava elevando o Estado a um padrão universal e progressista para si e seus aliados seculares.
De fato, independentemente da real intenção de Atzmoni — seja ingênua ou desonesta — em relação às pessoas que ele estava ostensivamente libertando, vale a pena acreditar em sua palavra, principalmente porque a foto comunica acontecimentos que são historicamente novos e, portanto, significativos. As acusações de hipocrisia parecem ignorar outra coisa importante: a foto inoportuna reflete, e de fato inscreve, um senso recém-emergente da missão histórica mundial de Israel. Essa missão não era mais sobre a salvação de uma tribo ou conjunto de tribos em particular, os judeus, mas sobre salvar o projeto universal da civilização em si. Como o presidente de Israel Isaac Herzog reiterou algumas semanas depois, “esta guerra (…) tem a intenção, realmente, verdadeiramente, de salvar a civilização ocidental, de salvar os valores da civilização ocidental”. Mas como os “direitos gays” se tornaram o avatar de tal universalidade? Como a liberdade sexual apareceu como a força animadora e o objeto desejado do nascimento violento do universal? Salvar mulheres marrons de homens marrons há muito tempo anima tais desventuras imperiais, mas quando o homossexual marrom se tornou central para tal projeto? Se, como Uday Mehta argumentou há muito tempo, a universalidade definia e estava no cerne de toda missão liberal imperial, desde a colonização britânica de Bengala no início do século XIX até a Guerra ao Terror no início do século XXI, a fixação nos “direitos gays” como a força animadora por trás de tal projeto era em si algo relativamente novo⁴.
Atzmoni sugere — ao substituir o termo particularista Alá por um amor universal — que os palestinos, e especialmente os muçulmanos palestinos, abrigam o mesmo ódio por homossexuais que ele vê em sua própria sociedade, em um exemplo muito previsível de fantasia projetiva. Ele imagina o deplorável e indesejável “atraso” homofóbico da sociedade religiosa israelense também habitando os inimigos percebidos dessa sociedade, os palestinos. Em um truque que tanto reconhece como espelha os fundamentos étnico-religiosos do Estado judeu, o “atraso” palestino é deslocado para o “islã” e os “muçulmanos”. E, no entanto, as leis antissodomia na Palestina não se originaram no islamismo ou nos esforços de legisladores muçulmanos; na verdade, foram impostas por pudicas autoridades coloniais britânicas que importaram ideias antissodomia vitorianas por atacado do Raj na Índia. Ironicamente, essas autoridades britânicas imaginaram estar anulando uma “instituição nacional” e trazendo a Palestina à força para trás, para os limites de uma civilização universalmente liberal. Assim, ao atrelar a homofobia ao islamismo, Atzmoni, como muitos outros pinkwashers, obscurece as origens britânicas das regulamentações antissodomia, talvez até mesmo sem saber. Em vez disso, imaginam as leis homofóbicas como produtos por atacado do caráter religioso dos muçulmanos, contra os quais os israelenses cada vez mais se definem — embora essas mesmas leis tenham sido revogadas na maioria da Palestina em 1951, mais de trinta e cinco anos antes de serem revogadas em Israel em 1988.
*
Como então a sodomia deixou de ser o símbolo do atraso há quase cem anos para se tornar um símbolo de progresso? Como a sodomia foi reinscrita como um símbolo de liberdade quando originalmente era tida como um símbolo de repressão? Como podemos dar sentido a essa inversão de papéis — de cruzados imperialistas contra a sodomia para cruzados genocidas a favor dela?
Há cerca de um século, oficiais imperiais britânicos, instalados para governar o recém-estabelecido mandato da Liga das Nações da Palestina, buscaram não libertar os sodomitas nativos, mas sim acabar com suas práticas retrógradas. Eles debateram a necessidade de impor tais medidas desde o início do mandato, mesmo que tenha levado uma década e meia para que leis antissodomia fossem impostas em 1936, em grande parte importadas do Código Penal Indiano de 1861. Em um memorando detalhado escrito em maio de 1925, Sir Gerald Leslie Makins Clauson, um funcionário público do Colonial Office e um filólogo turco, expressou preocupações sobre a alteração do Código Penal Otomano em relação a questões de (má) conduta sexual. Ele escreveu:
Cabe mais ao Alto Comissário do que a nós dizer se a sodomia é uma instituição nacional cuja continuidade deve ser permitida, mas pessoalmente eu deveria ter pensado que o caminho adequado era torná-la ilegal e gradualmente desmamar a população para práticas menos artificiais. Se essa medida for considerada muito drástica, então claramente o que por falta de uma palavra melhor pode ser descrito como “bordéis masculinos” devem estar sujeitos às mesmas penalidades que a variedade comum, ou os donos de bordéis descontentes entrarão em uma linha de negócios ainda mais desagradável.
Aliás, a bestialidade nem sequer é tocada, embora em certas classes da sociedade muçulmana (particularmente as tribos nômades) seja quase uma instituição nacional tanto quanto a sodomia. Pode ter sido deixada de fora, porque seria praticamente impossível suprimi-la. Provavelmente é esse o caso.
Na Palestina do Mandato Britânico, era a sodomia (e não sua supressão) que era vista como prerrogativa nacional dos palestinos. Em contraste, os oficiais imperiais que buscavam eliminá-la viam sua missão como sendo movida pelo desejo de reformar os costumes sexuais muçulmanos em direção ao que eles chamavam de “cópula comum”. Trazer a Palestina para o escopo da civilização mundial exigiria a transcendência de práticas particulares dos locais e a adoção da “cópula comum”, universalmente aceitável.
Mas tais reformas foram provisórias. Levou uma década e meia para impor tal legislação, refletindo a extrema cautela com que as autoridades britânicas abordaram a adulteração de instituições percebidas como sancionadas por lei ou costume religioso. Convicções sobre a intransigência religiosa de súditos muçulmanos se desenvolveram ao longo de várias décadas de ocupação no Egito, onde Lord Cromer havia pensado que a longevidade do governo britânico poderia ser garantida, desde que a ocupação não interferisse na legislação, autoridade e instituições religiosas locais. Esperava-se que evitar tal interferência permitiria que as autoridades imperiais acabassem com qualquer resistência ao seu governo, pois acreditavam que os nativos estavam principalmente preocupados com religião, não com política.
E, no entanto, ironicamente, foi contra os movimentos da inquietação palestina em 1936, que no verão se transformaria em uma revolta de massa completa, que as leis antissodomia foram instituídas após uma década e meia de hesitação. O fato de que seriam necessárias as novas formas de sociabilidade instituídas por uma revolução anticolonial em fermentação para trazer tais regulamentações evidencia a percepção contraintuitiva de Foucault: “o que mais incomoda aqueles que não são gays sobre a homossexualidade é o estilo de vida gay, não os atos sexuais em si (…) É a perspectiva de que os gays criarão tipos de relacionamentos ainda não previstos que muitas pessoas não podem tolerar”. Em meio à ameaça de uma revolução anticolonial, as autoridades britânicas não podiam tolerar a sodomia — um avatar de um mundo de sociabilidade que era tão estranho quanto repugnante e, portanto, proibido.
A revolta árabe de 1936 levaria à elaboração, testagem e implementação de algumas das medidas mais violentas até então usadas em territórios coloniais. Escudos humanos, punição coletiva e o uso de campos de concentração foram importados como técnicas de contrainsurgência de outras partes do Império Britânico e aperfeiçoados durante os três anos da revolta árabe. Esse período definiu o modelo para a resistência palestina nas décadas seguintes uma combinação de boicote e luta armada. Essas técnicas de contrainsurgência seriam herdadas pelo Estado sionista que substituiria o Mandato Britânico, e tanto o uso de escudos humanos quanto a punição coletiva seriam liberalmente implantados em momentos de mobilização de massa palestina. Embora os tribunais militares israelenses decidissem contra o uso de tais medidas, elas passaram a ser amplamente utilizadas durante a Segunda Intifada. Em contraste, nem a Human Rights Watch, nem a Anistia Internacional encontraram evidências para apoiar a alegação frequentemente repetida de que os palestinos em Gaza ou em outros lugares recorreram a tais métodos. Assim como a homofobia imaginada como nativa do inimigo palestino, o uso de “escudos humanos” é considerado uma evidência do pouco valor que os bárbaros insurgentes atribuiriam às suas “mulheres e crianças”. Como sustenta a sabedoria freudiana vernácula dos ativistas atuais, toda acusação é uma confissão⁵.
Em 1936, assim como em 2024, o desejo de remodelar as práticas e propensões sexuais dos palestinos parece amarrado a momentos de violência espetacular — sem precedentes em seus próprios contextos. Ficamos impressionados com a abundância de fantasias e práticas masoquistas e, em alguns casos, necrofílicas relacionadas aos genitais e à genitalidade: da prática comprovada de extrair esperma do tecido testicular de militantes sionistas mortos em combate para ser armazenado criogenicamente em hospitais, à demanda feita pelo Ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, de que os prepúcios dos combatentes do Hamas fossem removidos (apesar do fato de que todos os muçulmanos adultos são circuncidados) como vingança — assim como Davi teria feito com os filisteus.
Parece que, longe de ser uma força animadora, a reforma das propensões sexuais dos nativos — seja por meio de regulamentações antissodomia ou forçando-os a hastear bandeiras do arco-íris sobre suas casas demolidas — é, na verdade, apenas um objeto enganoso. Não põe a violência em movimento, mas age como uma fantasia para a possibilidade de sua satisfação. Como a violência genocida provocada pelo 7 de outubro deixa claro, essa violência imperialista — mesmo aquela que se propõe a reformar as práticas sexuais dos nativos — não pode ser entendida apenas pelos modelos racionais usuais de estratégia ou mesmo pela economia política. Ela tem um ímpeto libidinal que é inextinguível e insaciável. Nunca pode ser satisfeita. Como a miragem, uma metáfora amada pelas muitas gerações de colonizadores da Palestina, ela desaparece de vista quanto mais nos aproximamos dela.
*
Apesar do fato de que tais histórias desmentem uma narrativa muito diferente daquela que Israel e seus apoiadores gostam de contar, essa correção da enorme identificação queer com Israel parece mudar muito pouco. Para entender por que disso, é preciso voltar à era da crise da epidemia de AIDS, quando um modelo especial de securitização foi desenvolvido por burgueses, cis, metropolitanos brancos nos Estados Unidos pelo menos duas décadas antes da adoção do pinkwashing como política oficial de Estado por Israel. Nas décadas da crise da AIDS, tanto uma relação de propriedade da história da libertação gay foi estabelecida pelos Estados Unidos, quanto um modelo de autoproteção militarizada contra as classes baixas. Isso ocorreu apesar do fato bastante claro de que foi a violência do Estado, não a “agressão aos gays”, a principal culpada pela destruição de vidas queer.
O estabelecimento de uma narrativa canônica sobre a história da libertação gay naquele país — com uma fetichização concomitante de “paraísos gays” como Nova York pós-Stonewall e São Francisco — cimentou no imaginário global uma associação essencial entre a política libertadora gay e a história dos EUA como excepcional. Com o tempo, os “direitos gays” seriam vistos como uma conquista civilizacional exclusivamente estadunidense — reiterada pelo fato de que o Orgulho é celebrado em junho para comemorar os motins de Stonewall, por exemplo — e, na década de 2000, adotada na política imperial estadunidense. Uma história particular da libertação gay estadunidense (branca e burguesa) seria exportada como um parâmetro universal pelo qual todas as outras histórias, e particularmente as histórias do Terceiro Mundo, seriam comparadas e, em sua maioria, consideradas deficientes e, portanto, julgadas “atrasadas”. A mulher muçulmana não seria mais o único sujeito que valeria a pena salvar; agora, também, o homossexual muçulmano emergiria como um novo sujeito imaginário sobre o qual fantasias imperiais de transformação seriam inscritas.
Isso explica por que os Estados Unidos instrumentalizariam sua história particular de libertação gay e a defendê-la como uma medida contra a qual o resto do mundo deveria ser comparado. No entanto, não explica por que Israel também cairia dentro dessa conquista civilizacional global. Para entender como a reivindicação do status único de Israel encontraria plausibilidade no imaginário metropolitano dos EUA e da Europa Ocidental, é preciso recorrer aos escritos de um dos infames membros fundadores do ACT-UP, Larry Kramer, que insistiu que o sionismo poderia, e deveria, ser um modelo para a libertação queer. Para Kramer, assim como para muitos que seguem seu rastro intelectual — incluindo transfóbicos, para quem o sionismo representa um bastião contra a fluidez e a ambiguidade — Israel era um modelo de segurança permanente. Representava uma fantasia de que fronteiras, reais e metafóricas, poderiam ser protegidas e que um povo à beira da aniquilação — fossem judeus fugindo do antissemitismo europeu ou pessoas com AIDS combatidas pelo Estado nos EUA — deveria e poderia não só pegar em armas, mas criar Estados para si.
A fantasia de Israel como um refúgio homossexual se baseou no engajamento intelectual queer anterior com o sionismo que remonta ao auge da crise da AIDS, quando muitos argumentaram que a negligência do Estado com homens gays diagnosticados com HIV se assemelhava ao Holocausto nazista. Mais pungentemente, os ativistas do ACT-UP escolheram como símbolo o triângulo rosa (embora invertido) para lembrar o distintivo que os homens gays eram forçados a usar nos campos de concentração nazistas. Para Larry Kramer — o ativista, romancista e dramaturgo justificadamente furioso — a decisão do Estado de deixar homens gays morrerem em uma escala sem precedentes lembrava e era melhor capturada pela metáfora da Shoah. Ambos, ele argumentaria, derivavam de ódios profundamente sentidos e mais ou menos equivalentes: antissemitismo e homofobia. Este último, no entanto, era um ódio de um tipo incomum e era caracterizado por uma “singularidade horrível” — o ódio dos pais por seus filhos homossexuais. “Os judeus podem”, ele escreve, “imaginar serem odiados por seus pais por sua judeidade?”. Em seu livro de 1989, Reports from the Holocaust, Kramer usou os termos “genocídio” e “câmaras de gás” para descrever o esforço concentrado do Estado estadunidense “para nos eliminar e destruir completamente”.
Da perspectiva de Kramer, o antissemitismo não era apenas uma metáfora para a homofobia, mas, de fato, havia inadvertidamente produzido a última. Ele argumentou que foram as vítimas do antissemitismo que formalmente instituíram a homofobia nos Estados Unidos. Psicanalistas judeus-europeus (a quem ele chamou de “filhos de Freud”), fugindo de suas terras natais a partir de 1930, foram responsáveis por perverter a doutrina de Freud na América ao desenvolver uma homofobia medicalizada, institucionalizada e cientificista. Esses refugiados precisavam de “bodes expiatórios próprios” e, como resultado de suas “inseguranças, forjaram uma grande necessidade de provar ao Novo Mundo que se encaixariam completamente”. Eles o fizeram articulando e, subsequentemente, instituindo a noção de “homossexualidade como doença”. “Quão verdadeiramente perverso”, Kramer escreve sobre aquela geração de psicanalistas, que “os perseguidos se transformaram em perseguidores”. Embora a lógica da crítica de Kramer — de perseguidos se transformando em perseguidores — pareça pressagiar muitas críticas atuais ao sionismo, como a desenvolvida por Daniel Boyarin, ela levou Kramer, em vez disso, a defender o projeto etnonacionalista judaico.
Para Kramer, o sionismo não era um fracasso a ser rejeitado, mas sim algo que os ativistas queer deveriam imitar. A defesa de Kramer de um sionismo gay surgiu de três observações: primeiro, a adoção de vestimentas e comportamentos “machos” não conseguiu resignar os homens gays em relação a seus críticos homofóbicos e heterossexuais. Segundo, homens gays deveriam ser culpados por seu próprio sofrimento porque falharam em se organizar politicamente, assim como Hannah Arendt havia culpado, em sua leitura, os judeus por sua quietude política ao longo de dois mil anos de perseguição. Por fim, porque a “Israel dos Gays”, que é como ele se referia a São Francisco, não era mais um lugar onde os homens homossexuais tinham qualquer poder político, tendo-o tido por uma breve janela na década de 1970⁶; assim, Kramer concluía que nada menos que “um exército terrorista da AIDS, como o Irgun foi para Israel” salvaria os gays estadunidenses dos desígnios de destruí-los. A solução para um Holocausto gay só poderia ser um sionismo gay.
Como argumenta Christina Hanhardt, as fantasias de Kramer de criar uma Sião gay foram de fato realizadas em solo estadunidense quando o público gay de classe média alta na década de 1980 começou a identificar o “ataque aos gays” como a principal fonte de seu sofrimento. O “ataque aos gays” substituiria a violência policial, a pobreza, o encarceramento e a falta de moradia como um objeto de ativismo, pois queers proprietários, brancos e cisgêneros começaram a exigir proteção estatal e a direcionar a violência estatal contra aqueles que não tinham os mesmos privilégios. Como argumenta Patrick Dedauw, maneiras particulares de “enquadrar a vulnerabilidade e a proteção de pessoas queer e trans têm uma profunda simetria com a ideologia sionista”. E não é coincidência que as duas organizações às quais as pessoas queer recorreram para aprovar a legislação sobre crimes de ódio foram a Liga Antidifamação e o Projeto Antiviolência da Força-Tarefa Nacional Gay e Lésbica. A primeira em particular, como Emmaia Gelman argumentou, é uma organização de defesa sionista que se disfarça como uma organização que protege os judeus do antissemitismo. Bem no momento em que estava sendo mobilizada para reificar o “ataque gay” como o principal perigo para os estadunidenses queer, a ADL fez esforços para reprimir a oposição à primeira Guerra do Golfo em campi universitários, sustentando que a última equivalia ao antissemitismo. Essas acusações foram direcionadas principalmente a estudantes pretos e pardos — ao “politicamente correto”, “estudos étnicos” e “diversidade” — o que estava totalmente alinhado com a história anterior da ADL: ela havia organizado uma campanha contra a alegação da National Education Association de que a KKK não era uma aberração fruto do problema de racismo estrutural da América, mas uma manifestação dele. Ao firmar um pacto faustiano com a ADL para institucionalizar o “ataque aos gays” como um crime de ódio, os estadunidenses queer também codificaram uma visão particular (racista) do excepcionalismo dos EUA que seria mobilizada na promoção de seus interesses imperiais.
Os gays e lésbicas burgueses estadunidenses se imaginavam como uma população minoritária cuja única esperança de se manterem a salvo da violência externa era ser encontrada em territórios supostamente soberanos em terras limpas de seus habitantes originais — agora consideradas uma ameaça perigosa — por força militarizada apoiada pelo Estado. Mas a noção de um “espaço seguro” nacional, de segurança permanente, então como agora, é uma ilusão, e é ainda mais quando se baseia na destruição e na desapropriação de outros — ocupação e colonização no caso de Israel, gentrificação e a criação de “gayborhoods” em capitais metropolitanas. Espaços, para pessoas queer ou qualquer outra pessoa, nunca podem ser seguros sem justiça, nem é possível realizar seu sonho de “segurança” sem restituição.
Como tal, os esforços para refutar as alegações do sionismo sobre si mesmo como um refúgio queer têm sido apenas marginalmente bem-sucedidos. Ao considerar o pinkwashing como um cínico golpe de relações-públicas, esses esforços ignoram persistentemente a identificação psíquica que os queers dentro e fora de Israel sentem com seu modelo de securitização. Para ser claro, tais falhas em anular as alegações do pinkwashing persistem independentemente de eles assumirem a tarefa proctológica de contestar as “verdades” históricas básicas das atitudes israelenses em relação à homossexualidade ou se eles se envolvem em disputas lógicas. Este último modo, tipicamente articulado no subjuntivo, sustenta que mesmo que os palestinos não tenham os mesmos direitos gays que nós, ainda assim não devemos endossar seu genocídio. Essa abordagem é especialmente preocupante. Ela mantém a Palestina envolta em mistério, parecendo esconder algum segredo do qual os anti sionistas têm vergonha: que é de fato um lugar brutal, mas não devemos bombardeá-lo mesmo assim.
Sem levar a sério o fato de que pessoas queer burguesas, brancas, cis metropolitanas encontram em Israel um modelo convincente para suas próprias fantasias de segurança, não estamos em posição de entender por que pessoas queer foram rápidas em abraçar a propaganda israelense, apesar da abundância de evidências e da insistência repetida de ativistas antissionistas de que a propaganda é apenas isso. Ao mesmo tempo, devemos chegar a um acordo sobre como esse processo de identificação tornou possível a formulação da liberdade queer em um programa de direitos (legalmente articulado, codificado e protegido) como um arquétipo ao qual todas as sociedades “civilizadas” devem se conformar e o parâmetro contra o qual suas realizações civilizacionais devem ser medidas.
*
É precisamente essa fantasia que Atzmoni perpetuou com seu palimpsesto fotográfico dos sonhos não realizados do sionismo, inscrito sobre os escombros de vidas, lares, escolas e hospitais palestinos destruídos. Este documento de barbárie, disfarçado de civilização, nos lembra que a violência que o ato aparentemente inocente de Atzmoni pareceu autorizar não pode ser entendida usando modelos convencionais de estratégia ou economia política da ciência política. A violência cometida “em nome do amor” — quer alegue buscar a destruição do Hamas ou a reforma genuína das propensões sexuais dos nativos — é animada por um desejo impossível de destruir algo que não pode ser destruído. De que outra forma podemos explicar, crucialmente sem explicar, essa violência aparentemente quixotesca que parece exceder o interesse ou a utilidade?
Talvez a sexualidade seja de fato central para seu funcionamento, mas não da maneira que Atzmoni ou aqueles que o aplaudiram pudessem entender. Se, como Paulo Freire famosamente declarou, “os oprimidos encontram nos opressores seu modelo de masculinidade”, então o padrão particular de violência sionista pode encontrar legibilidade na Alemanha nazista. Da mesma forma que o espectro da derrota alemã na Primeira Guerra Mundial rondou a Segunda, também a Nakba decreta uma reivindicação do quase extermínio das populações judaicas da Europa. As vítimas de cada uma buscaram superar um momento anterior de derrota, identificando-se com seus vencedores.
À medida que as incursões sionistas em Gaza se intensificaram a partir de 9 de outubro de 2023, não consegui parar de pensar no trabalho de Klaus Theweleit, o sociólogo e crítico cultural alemão com afinidades ideológicas com a “Nova Esquerda Alemã” pós-1968. Em suas magistrais Fantasias Masculinas, Theweleit buscou entender a violência proto-nazista e nazista por meio de um enorme corpus vernáculo de sonhos, diários e outras formas fragmentárias de escrita da geração Freikorps, a partir da qual o projeto nazista cresceu. Insatisfeito com histórias que tratavam o nazismo como um fenômeno puramente ideológico — com foco em onde as ideias vinham, mas não necessariamente em como elas se tornavam plausíveis e por que se tornavam críveis para um grande número de “alemães comuns” — Theweleit buscou escavar as profundas formações psíquicas que levavam as pessoas (principalmente homens) a mirar em outros que suspeitavam ou acreditavam ser “menos que homens”: mulheres, homossexuais, judeus e comunistas predominantemente.
Com base no trabalho da pediatra e psicanalista austríaca Margaret Mahler, Theweleit concluiu que a geração Freikorps era composta por pessoas patologicamente subdesenvolvidas, com corpos desordenados e sem fronteiras, que falharam, na infância, em desenvolver as defesas eróticas necessárias para manter os perigos externos afastados. O resultado desse desenvolvimento, ou a falta dele, é um tipo de fantasia ou alucinação projetiva, na qual a própria percepção do próprio corpo como uma massa e bagunça indiferenciada é projetada em estranhos que podem, por qualquer motivo, efetuar sua dissolução final. Para esses seres perturbados (a quem Theweleit chama de “desvivificados” e “indiferenciados”), a violência é promulgada preventivamente sobre aqueles percebidos como ameaças. Essa violência parece libertadora para os perpetradores, que expulsam seu próprio medo de dissolução fazendo com que isso aconteça em outros — presumivelmente afirmando assim uma medida de controle.
Mas por que algumas pessoas desenvolvem tais patologias em primeiro lugar? E por que essa patologia veio a afetar uma geração inteira de homens alemães? Theweleit argumenta que esses sujeitos defeituosos se tornam assim como resultado de punição severa na infância. O processo de treinamento para usar o banheiro, em particular, obriga a criança a renunciar ao prazer em sua própria periferia. O treinamento para usar o banheiro os força a recriminar o que se relaciona com líquidos e instiga sentimentos de culpa quando não conseguem seguir o que foi ensinado. Dessa forma, esses meninos “ainda não nasceram completamente”. Eles nunca entram em certos estágios de relações objetais ou do complexo de Édipo. Eles falham em desenvolver um Eu corporal, nem desenvolvem um senso de limites. Eles só são capazes de ganhar um senso de si mesmos — autônomos, limitados e inteiros — matando preventivamente o inimigo que ameaça dissolvê-los. Seus inimigos são frequentemente associados a líquidos — lama, água, sêmen, urina, cuspe, sangue, suor. Sua própria percepção de vazamento ameaça dissolver os limites dos homens ainda não nascidos, que começam a ver paralelos entre seus corpos sem fronteiras e a própria nação sem fronteiras; o controle desta última serve como uma fantasia para despatologizar a primeira. O fascismo, conclui Theweleit, não é melhor compreendido como uma ideologia, mas sim como os atos coletivos de violência por meio dos quais os ainda-não-homens tentam estancar seus corpos que vazam.
Percorrendo o trabalho de Theweleit há uma tensão não resolvida: por um lado, sua crença de que seus temas não eram essencialmente excepcionais (ou “psicóticos”, como ele chama) e, por outro, o impulso oposto de rejeitar quaisquer alegações universalizantes sobre a natureza agressiva dos homens sobre os quais ele escreveu. Ele foi cauteloso ao argumentar que reduzir as origens da violência nazista a alguma agressividade universal era meramente um exercício exculpatório que buscava normalizar e tornar sua violência não excepcional. Para esse fim, ele observou como Hermann Göring havia procurado fazer exatamente isso quando, de sua cela de prisão em Nuremberg em 1946, disse ao psicólogo americano GM Gilbert que “há uma maldição sobre a humanidade. Ela é dominada pela fome de poder e pelo prazer da agressão”.
Theweleit resolveu seus impulsos políticos conflitantes — entre querer tornar as agressões dos Freikorps excepcionais e querer torná-las universais — ao localizar as patologias da cultura genocida alemã nas formas problemáticas e preocupantes de criação de filhos que ele descreveu. Apesar das precauções que ele tomou para enfatizar que seus temas não eram, de fato, psicóticos, Male Fantasies, em última análise, se inclina a excepcionalizar o meio cultural alemão do qual o livro, assim como seus temas, emergiram.
Embora esse argumento possa ter parecido convincente na década de 1970, especialmente entre os filhos supostamente arrependidos de nazistas quando o livro apareceu pela primeira vez, depois de 7 de outubro, é significativamente menos convincente. O impulso excepcionalizante ao qual Theweleit cede agora parece não apenas impreciso, mas perigoso. O Estado alemão emprega sua suposta expertise, com relação à sua promulgação do genocídio paradigmático, para proibir aqueles que buscam impedir outro. Nesse sentido, a magnum opus de Theweleit agora aparece como mais um dos muitos textos que tornam o Holocausto excepcional, retratando-o como o pior de todos os crimes possíveis. Como Dirk Moses argumentou com veemência, essa perspectiva garante que o Holocausto ofusque instâncias anteriores e subsequentes de violência genocida. Ao focar nas características mais particulares do Holocausto, foi estabelecido um parâmetro que torna cada vez mais difícil não apenas identificar, mas levar a sério padrões repetitivos de violência exterminatória. E, no entanto, tanto a resposta ao dia 7 de outubro quanto a história mais longa dos séculos XX e XXI, tanto antes quanto depois do Holocausto, revelam que os projetos genocidas estão longe de ser excepcionais, mas sim uma parte constitutiva do sistema de Estados-nação na modernidade.
Leo Bersani se esforçou para enfatizar que a imbricação entre sexualidade e violência está no cerne da constituição de cada sujeito, independentemente de onde foram criados ou como. É simplesmente uma característica da alienação que qualquer indivíduo experimenta ao entrar na cultura ou na sociedade. Para Bersani, a violência é constitucional, normativa e “normal” para todos os humanos. O impulso à violência imperial não é uma aberração, mas sim uma característica endêmica e usual da socialização. É inerente a todos os sujeitos. Se, para Theweleit, a violência permite que os homens se sintam “inteiros”, para Bersani, a atração pela violência é determinada precisamente pela potencialidade oposta — permite que os homens experimentem a destruição egoica que todos eles (inconscientemente) desejam. Para Theweleit, a violência permitiu que os homens ganhassem preventivamente o controle sobre as fronteiras de si que sentiam estar sob constante ameaça de dissolução, enquanto para Bersani promulgar a violência era o principal meio pelo qual os homens podiam experimentar um alívio devastador do estrangulamento que o Eu mantinha sobre a psique. Para Theweleit, o sadismo da violência fascista é excitante precisamente porque permite que os agentes dela experimentem a ilusão de serem soberanos, enquanto para Bersani o desejo sádico de destruir os outros é atraente precisamente porque promete destronar a soberania do Eu. Se, para Theweleit, a violência é a ferramenta por meio da qual os patologicamente “ainda-não-totalmente-nascidos” experimentam uma sensação de se sentirem inteiros pela primeira vez, para Bersani, a violência é uma ferramenta de libertação das ilusões de totalidade que nos restringem.
Bersani sustentou, portanto, que os impulsos em direção à violência genocida não devem ser localizados em uma geração específica de homens alemães, mas, em vez disso, podem ser ativados em qualquer sujeito humano. Por meio de uma crítica implícita de pensadores como Theweleit, Bersani argumenta que a descoberta freudiana da pulsão de morte transforma nossa compreensão da violência humana de exclusivamente direcionada à destruição dos outros, para uma que é, em vez disso, direcionada principalmente à destruição de nós mesmos. O sadismo é, portanto, sempre masoquismo — e é na destruição de si que o sujeito experimenta alguma forma de libertação. Talvez eu seja atraído pela versão universalista de Bersani porque ela parece oferecer uma sensação de consolo: o sionismo se destruirá precisamente nos momentos em que parecer mais poderoso.
Mesmo que o sionismo possa conter dentro de si o cerne de um desejo inconsciente por seu próprio desmantelamento, cabe às pessoas queer que sonham com a libertação da Palestina escavar não apenas suas próprias histórias e as escolhas que fizeram, mas que agora esqueceram, e, assim, criticar seus próprios investimentos psíquicos nesse projeto. Devemos redirecionar nossos esforços de tentar combater o pinkwashing no nível de apresentar fatos alternativos e, em vez disso, perguntar: quais são as perguntas para as quais o “pinkwashing” parece fornecer uma resposta? Também cabe a nós lembrarmos dos muitos que se opuseram ao pacto que fizemos em troca de proteção militarizada do Estado.
Embora tenham sido abafados pela voz frequentemente alta e autoritária de Larry Kramer, muitas pessoas queer de seu tempo não se identificavam com as formas musculosas de poder, machismo e soberania que pareciam sustentar a violência sionista. Em vez disso, foram inspirados por aqueles que o sionismo rejeitou, deixou de fora e tornou dispensáveis — os e as palestinas, as “vítimas das vítimas”, nas palavras memoráveis de Said. Julius Eastman, o compositor, pianista e artista performático negro, também sugeriu a necessidade da luta armada como um caminho para a libertação gay, mas se inspirou em forças decididamente antissionistas. Em sua famosa “Guerrilha Gay”, ele declamou: “Não sinto que as guerrilhas gays possam realmente se igualar às guerrilhas ‘afegãs’ ou às guerrilhas ‘OLP’, mas esperemos que no futuro possam”. Jean Genet, que passou boa parte das décadas de 1970 e 1980 advogando em nome dos Panteras Negras e dos fedayin [combatentes da liberdade] palestinos em campos de refugiados jordanianos, era igualmente perspicaz sobre as afinidades que via entre os heroicamente queer e os heroicamente despossuídos palestinos. Para Genet, o transsexual era heroico, pois eles estão “prontos para enfrentar o escândalo e vê-lo até a morte”. Se eles não morrem, no entanto, esses transsexuais heroicos carregam “uma vela acesa em sua cabeça pelo resto de sua vida, noite e dia (…) Muitos fedayin são heróis”. Um ano depois de ser diagnosticado com AIDS em 1987, o artista visual cubano Félix González-Torres insistiu em traçar paralelos entre Pessoas com AIDS (PWAs, na sigla em inglês) e o povo palestino, cuja bandeira foi proibida em Israel após a guerra de 1967. Respondendo à proibição de 1980 de obras de arte que usassem as cores da bandeira palestina em Israel, o que levou à prisão de vários artistas palestinos, González-Torres criou uma obra de arte composta por quatro paineis monocromáticos — verde, vermelho, preto e branco — para enfatizar as afinidades entre as PWAs (a quem a obra foi dedicada) que “são discriminadas por serem HIV positivas” e aquelas cuja bandeira foi proibida “pelo exército israelense nos Territórios Palestinos Ocupados”.
Dessa forma, quando a liderança sionista zomba dos palestinos como “animais humanos” e zomba das pessoas queer por meio da encenação de “desfiles de bestas”, eles nos lembram de uma época, não muito distante, em que também éramos considerados dispensáveis pelos próprios Estados que agora imaginamos nos oferecer proteção. Isso é algo que Eastman, Genet e Gonzáles-Torres entenderam, mesmo que tenham “perdido” esse debate no final. Essas metáforas de bestialidade devem nos lembrar dos compromissos políticos muito frágeis que fizemos quando redirecionamos nosso animus para longe do Estado e para nossa própria espécie, de quem agora nos imaginávamos como necessitados de proteção. Mesmo que a identificação entre sionismo e queerness permaneça fortemente cimentada no imaginário popular, o movimento global anti guerra, que se acelerou com uma velocidade tão surpreendente desde 7 de outubro, buscou resgatar a parafernália da libertação queer (do Silêncio=Morte do ACT-UP ao seu triângulo rosa agora imaginado como a melancia palestina até a ocupação da Grand Central Station em Nova York) para os propósitos da libertação palestina. Eles são um lembrete de que as afinidades entre Palestina e queerness não são coincidências ou contingentes, mas significam algo bastante profundo. Como disse o proeminente poeta palestino Mahmoud Darwish: “Minha liberdade é ser o que eles não querem que eu seja”, capturando eloquentemente o poderoso potencial de subversão que a Palestina e a queerness possuem — basta que deixemos esse potencial acontecer.
¹A música talvez fosse ainda mais apropriada do que Atzmon ou seu público-alvo poderiam imaginar, já que o U2 é famoso por defender uma política anticolonial na Irlanda.
²[N.T.] Paulino aqui se refere a São Paulo.
³[N.T.] Hasbara, em hebraico, significa “explicar”. Trata-se das estratégias de comunicação do Estado de Israel para influenciar e manipular a opinião pública internacional, transmitindo uma imagem positiva do país.
⁴Embora gênero, sexualidade e a regulamentação de ambos tenham desempenhado um papel fundamental na história do imperialismo, eles eram tipicamente direcionados às mulheres nativas. Como Gayatri Spivak gracejou, toda a história do imperialismo britânico na Índia pode ser resumida utilmente como a história de “homens brancos resgatando mulheres marrons de homens marrons”. Ao contrário das mulheres que seriam salvas em tempos passados, o desejo declarado de Atzmoni de resgatar os gays de Gaza veio com uma vantagem adicional: eles não têm capacidades reprodutivas e, portanto, não ameaçavam o projeto de engenharia demográfica sobre o qual “Israel” (e de fato qualquer projeto imperial) é baseado. No entanto, entender o objetivo declarado de Atzmoni meramente como uma variação de um tema antigo deixa para trás algo importante.
⁵Como o manifesto Queers in Palestine afirma claramente: “Ativistas feministas e queer internacionais, solidários à Palestina, estão enfrentando ataques e assédios por sionistas sob a premissa de que aqueles que apoiam a Palestina serão “estuprados” e “decapitados” pelos palestinos por serem meramente mulheres e queers. No entanto, na maioria das vezes, estupro e morte são o que os sionistas desejam para queers e mulheres que se solidarizam com a Palestina. Fantasias sionistas de corpos brutalizados não nos surpreendem, pois vivenciamos a realidade de sua manifestação em nossa pele e espírito.”
⁶Kramer chegou a defender a criação de um Estado separatista gay. Por um tempo, São Francisco “foi a Israel dos gays”, ele argumentou. Homens homossexuais alcançaram “grande poder na estrutura política daquela cidade” e nenhuma figura política ali poderia “considerar não consultar líderes gays”. Antes da devastação da AIDS, “o poder gay era suficiente para manter a maioria da oposição heterossexual local sob controle”. Mas tragicamente esse não era mais o caso.
Texto originalmente publicado na Revista Parapraxis, em: https://www.parapraxismagazine.com/articles/homo-zion
Tradução e revisão: coletivo desorientalismos
Hussein Omar é egípcio, radicado em Nova York. Escreve sobre pensamento anticolonial, sexualidade e cemitérios.