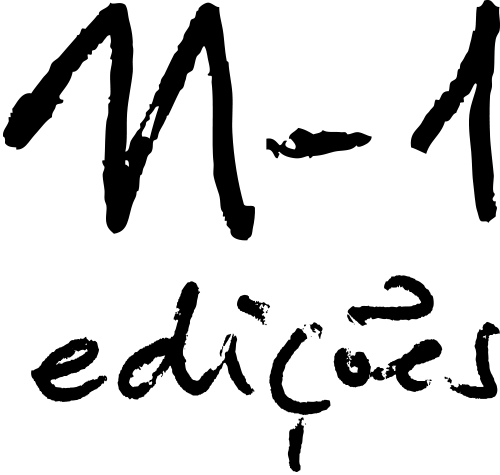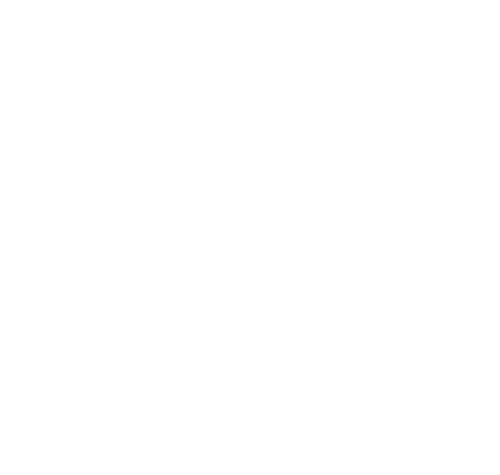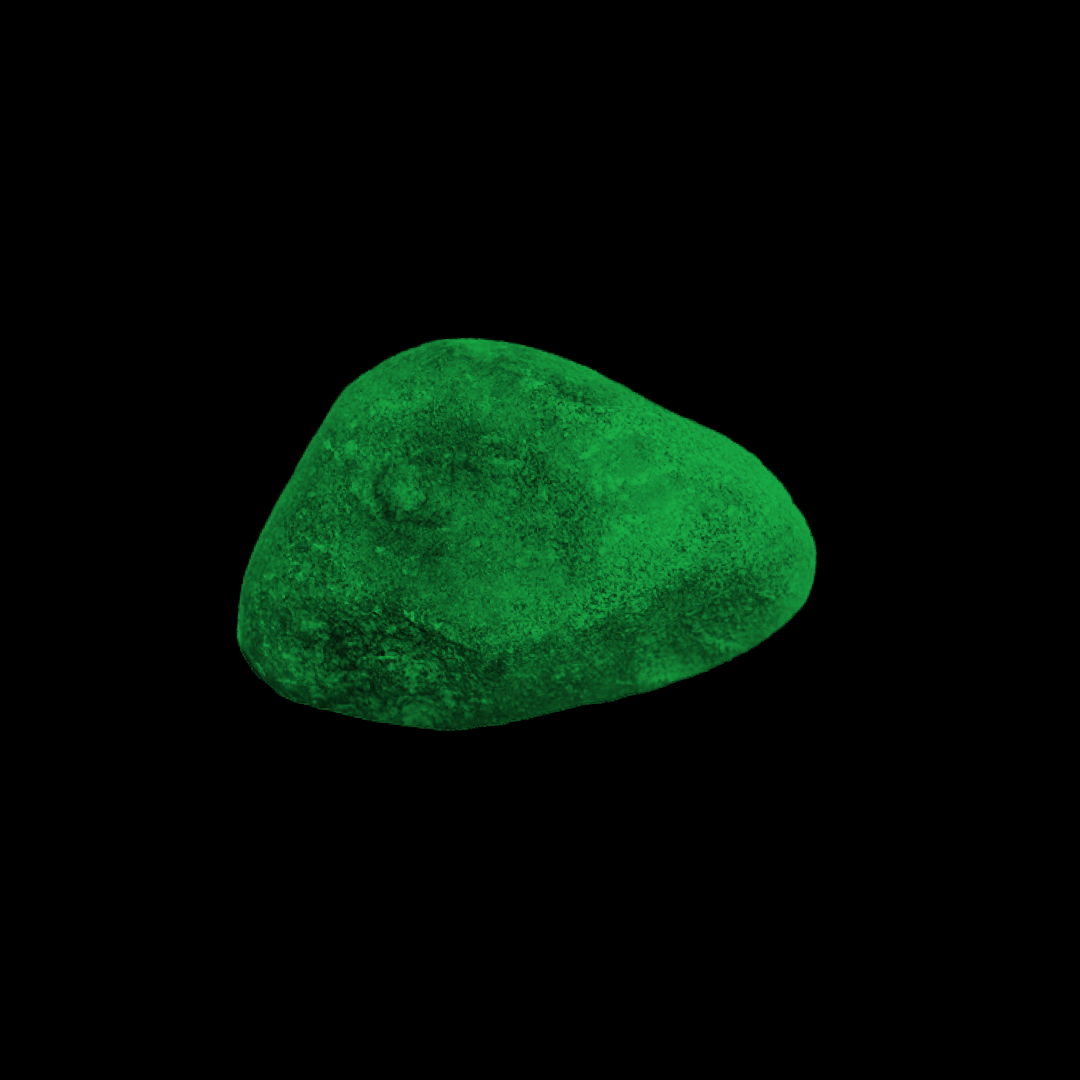
Perseguição terminável e interminável: o circuito de violência retributiva do sionismo (David Markus)

Believe In The Stone And Survive [Acredita na pedra e sobreviva], 2010. Crédito: Raised Fist Collective.
Este texto é parte de um projeto editorial construído em uma parceria entre o coletivo desorientalismos, a n-1 edições e o Núcleo Psicanálise e Laço Social no Contemporâneo (Psilacs) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Uma seleção de textos que aborda a Questão Palestina em um diálogo com a Psicanálise e outras áreas do conhecimento, como a História, Filosofia, Sociologia e Saúde Mental. A cada quinze dias, um novo texto será lançado.
O cenário é a Amsterdã do pós-guerra, um campo vazio nos arredores de Rivierenbuurt, o bairro outrora majoritariamente judeu onde Anne Frank e sua família viveram antes de se esconderem. Lá, meu pai, Yehudi, e seu melhor amigo, Kees, ambos crianças judias sobreviventes da ocupação nazista, costumavam jogar futebol com meninos não judeus. Em um momento ou outro, surgia um desentendimento sobre o jogo: “Foi gol!” “Não foi gol!” “Foi!”. Inevitavelmente, um membro do time adversário lançava as palavras ofensivas: “judeu sujo”. Em resposta, Kees, que “não era tão alto, mas… tinha mãos grandes”, confrontava o garoto. No relato de meu pai, é sempre “o garoto mais alto, o maior, com mais músculos, mais ombros e a maior cabeça” que Kees escolhe. Olhando para cima, desafiador, e gaguejando, Kees insiste que o insulto seja repetido. “Judeu sujo”, responde o garoto maior. “Estou o-o-ouvindo direito?”, Kees pergunta, fechando uma das mãos em um punho. “Judeu sujo”; o comentário vem novamente, ao que o amigo do meu pai dá um soco no nariz do garoto, provocando um jorro de sangue. Ele pega a bola de futebol e a coloca debaixo do braço, triunfante, “como um Macabeu, como um herói”, assim conta meu pai. “Venha, Yehudi”, diz Kees, “estamos indo para casa”.
Quando meu pai morreu, no verão de 2022, eu me vi assistindo novamente ao seu testemunho em vídeo para a Shoah Foundation, o projeto de história audiovisual fundado por Steven Spielberg na década de 1990. Ao longo de quatro horas e meia, meu pai conta suas experiências quando criança durante a ocupação nazista na Holanda. Ele descreve o fato de ter sido separado de seus pais durante a guerra e ter se escondido nas terras agrícolas do norte da região de Frísia, longe das ruas de sua infância. Não menos importante para minha própria compreensão de seu passado, ele reflete sobre seus anos pós-guerra em Amsterdã, um período em que o antissemitismo ainda era virulento no continente e muitos judeus sobreviventes sentiam uma profunda vergonha de sua identidade.
Como a maioria dos testemunhos de sobrevivência, a história de meu pai é penosa. Mas também é mais feliz do que a maioria. Durante a guerra, entre os 4 e os 7 anos de idade, ele passou por mais de uma dúzia de casas, geralmente transportado na garupa de uma bicicleta, sob a cobertura da noite. Ele sofreu abuso físico por parte de alguns que o esconderam e escapou por pouco da descoberta e da morte quase certa mais de uma vez. Meu avô morreu escondido, trabalhando para a resistência holandesa, e a maioria dos parentes de ambos os lados da família foi exterminada nos campos de extermínio de Auschwitz e Sobibor. No entanto, minha avó sobreviveu, passando a viver como gentia no leste da Holanda, e meu pai passou os últimos meses da ocupação nazista sob cuidados de fazendeiros católicos. Mãe e filho conseguiram se reunir e estabelecer uma vida após a catástrofe.
Há momentos no testemunho de meu pai que me afetam profundamente, como quando ele reflete sobre o medo e a vergonha que o acometeram quando foi forçado a tomar banho nu com outras crianças da fazenda em que estava escondido, consciente, mesmo quando menino, de que o fato de ser circuncidado o colocava em um risco terrível. Ou quando ele fala sobre ter sido interrogado por um soldado da SS cujo rosto rosnante o assombraria por anos, tornando-se, em sua adolescência, o tema de um desenho que ainda guardo. No entanto, se há um episódio que me marcou mais do que qualquer outro, foi a história do heroísmo de Kees no campo de futebol após a guerra. Isso talvez se deva ao fato de que essa é uma das poucas histórias da juventude de meu pai que ouvi ele contar várias vezes pessoalmente. Há também um relato escrito que ele publicou em uma antologia há algumas décadas. É particularmente esclarecedor, no entanto, vê-lo contar a história em vídeo e poder analisar as sutilezas de sua fala, juntamente com os movimentos e as emoções que dão textura à sua narrativa.
Sou atraído, em primeiro lugar, por seus gestos com as mãos, que conheço tão bem e às vezes me pego imitando inconscientemente. Há a maneira surpreendentemente animada, quase cômica, com que ele representa as trocas de palavras entre seu amigo Kees e o garoto mais forte no campo de futebol. E há também os olhos marejados de lágrimas e o alívio avassalador que o invade no momento em que ele descreve seu amigo vencendo o inimigo mútuo. No entanto, talvez com a mesma obsessão com a qual meu pai contou sua história, eu me fixei na onda de satisfação que vejo nele ao relatar o que é inevitável e desconcertantemente uma história de retribuição da violência. Voltarei a esse emaranhado de reivindicação e gratidão, a esse rosnado que Nadia Bou Ali chamaria de “prazer feio”. Porque há uma segunda parte da história que meu pai conta em seu testemunho.
“E então, por assim dizer, para retribuir, mas não deliberadamente”, diz meu pai sobre seu corajoso amigo, “eu o levei ao… Habonim”, o grupo de jovens sionistas trabalhistas que acabara de abrir uma filial em Amsterdã. Nas reuniões semanais, “bem longe (…) na periferia da cidade”, longe de lares muitas vezes desfeitos, meu pai e uma geração de crianças sobreviventes da Shoah aprendiam “uma visão diferente da história judaica” em relação à “visão nazista” que, meu pai confessa, ele havia “internalizado de uma forma ou de outra”. Há uma sombra que cai sobre seu rosto quando ele faz essa última observação que me arrepia; ela desaparece em um instante quando retoma o fio de sua narrativa. Embora muitos líderes Habonim estivessem imersos no pensamento de esquerda, o que meu pai e seus amigos ganharam acima de tudo com suas experiências foi um sentimento de orgulho da identidade judaica. Os judeus, ao longo da história, eram bons, corajosos, contestadores — eles se defendiam, nem sempre eram as vítimas. De um dia para o outro, as crianças sobreviventes da Shoah foram transformadas, espiritual e politicamente. Eles se tornaram sionistas fervorosos. “E nenhuma palavra foi mencionada”, conclui a história, “nem sobre a guerra, nem sobre estar escondido, nada sobre nossa história. Mas cantávamos músicas sobre como iríamos para Israel, como começaríamos uma nova vida e como deixaríamos os velhos hábitos para trás”.
Colocando esses dois episódios da juventude de meu pai lado a lado, fico impressionado com a maneira como o primeiro episódio, a experiência com Kees no campo de futebol, parece filtrado pelo segundo, a inculcação do sionismo no tecido de sua subjetividade em desenvolvimento. Para começar, Kees, como meu pai o descreve, incorpora não apenas o ideal masculino do “judaísmo muscular” ou Muskeljudentum promovido pelos sionistas do século XIX, como Max Nordau, mas, o que é mais convincente, o próprio processo pelo qual o judeu da diáspora, estereotipado e nebuloso, é negado e substituído por uma imagem de um heroísmo robusto. Philip Hollander escreve sobre a noção sionista pré-estatal predominante de que “para que o Novo Homem Judeu (ha-yehudi he-hadash) surja na Palestina (…) os elementos da masculinidade judaica diaspórica, especialmente aqueles evocados pelo termo iídiche schlemiel, uma pessoa desajeitada, desastrada, um desastrado (…) precisavam ser erradicados”. Foi somente a partir dessa negação que “o Novo Homem Judeu, robusto e enraizado na terra como o cacto sabra” pôde surgir. Na história do meu pai, durante um breve incidente no playground ou, como ele insinua, ao longo de uma série de incidentes combinados em uma única narrativa, Kees é transformado de um diminuto gago na própria imagem da masculinidade “robusta”.
É digno de nota o fato de uma identidade supostamente “nova” judaica ressuscitar mitos antigos de heroísmo judaico. Não sei até que ponto meu pai refletiu conscientemente — em vez de apenas ter internalizado — sobre os discursos em torno da masculinidade sionista. Mas, como estudioso literário, e também como judeu praticante, ele deve ter percebido até que ponto sua história ressoa com a tradição bíblica. Quando ele descreve seu amigo verticalmente desfavorecido usando suas “mãos grandes” para destruir o garoto alto, musculoso, de ombros largos e cabeça grande que se erguia acima dele, como ele poderia não ter tido em algum lugar de seu pensamento a imagem de “l’il David… small, but oh my” (como na música de Gershwin), e famosamente retratada por Michelangelo com mãos enormes?
A história de Davi e Golias é, evidentemente, a história fundadora dos oprimidos da chamada cultura judaico-cristã. No Antigo Testamento, Golias é um guerreiro do exército dos filisteus que ocupa a área a sudeste do Reino de Israel, incluindo a atual Gaza. A coragem e o equilíbrio de Davi na batalha garantem o futuro e o bem-estar do povo judeu, da mesma forma que a superioridade militar do Estado israelense é reivindicada pelos sionistas hoje em dia para garantir a segurança do povo judeu diante de um mundo hostil empenhado em sua destruição. Para meu pai, que na época estava mergulhado em imagens da bravura judaica, a bola de futebol debaixo do braço de seu amigo enquanto os dois meninos marchavam triunfantes pelo campo improvisado poderia muito bem ter sido a cabeça decepada de Golias. O que ele de fato diz, que Kees coloca a bola debaixo do braço “como um Macabeu”, é revelador por si só. Os macabeus eram guerreiros judeus que não apenas retomaram a Judeia no século I a.C., depois de ela ter caído sob o domínio helênico, mas também expandiram o reino por meio de conquistas.
Quando eu era adolescente e jovem adulto, meu pai me incentivou várias vezes a fazer a viagem do “direito de nascença” (Birthright) para Israel. Sei que ele gostaria que eu tivesse tido contato, em meus anos de formação, com algumas das mesmas perspectivas nas quais ele esteve imerso quando era um jovem sionista. Tendo crescido no Canadá e nos Estados Unidos durante a década de 1990, em meio ao que o historiador Quinn Slobodian descreveu recentemente como a “onda de memória do Holocausto” que coincidiu com o lançamento do filme A Lista de Schindler, de Spielberg, e com um pai profundamente ligado a Israel e que dedicou a segunda metade de sua vida a documentar a Shoah, participar da Birthright era um ritual comum, quase esperado. Mas, por motivos que só se tornaram totalmente aparentes para mim mais tarde na vida, nunca me senti atraído pela ideia.
Os amigos que acabaram participando das viagens do Birthright geralmente voltaram transformados. Eles falavam sobre como o Yad Vashem, o centro de memória do Holocausto em Jerusalém, os havia ajudado a perceber o verdadeiro significado da frase “nunca mais”. Ou como uma viagem às Colinas de Golã (terra síria ocupada de forma permanente por Israel desde pelo menos 1973) os ajudou a entender a importância geoestratégica do território e, portanto, o absurdo de pedir um retorno às fronteiras de 1967. Quase sem falta, eles falavam de Massada, o planalto outrora fortificado com vista para o Mar Morto, onde um grupo de rebeldes judeus resistiu por meses a um cerco romano, supostamente optando pelo suicídio em massa como alternativa à captura.
Sou grato pelo fato de que, quando visitei esses lugares, por volta dos meus vinte anos, já havia adotado uma perspectiva crítica sobre a história e as consequências contemporâneas do sionismo. Olhando para trás, fica claro para mim que o meu ceticismo foi preparado, em primeiro lugar, por uma tendência ao internacionalismo de esquerda da família do meu padrasto — judeus que chegaram ao Canadá na virada do século XIX — e, em segundo lugar, pela experiência de conscientização política após o 11 de setembro, quando a maioria do público estadunidense revelou sua alarmante suscetibilidade a narrativas racistas de choque de civilizações, juntamente com um apetite doentio por uma destruição militar cegamente vingativa e lamentavelmente mal direcionada. A devastação causada no Líbano durante a campanha militar de Israel em 2006 contra o Hezbollah enterrou qualquer simpatia remanescente que eu pudesse ter sentido em relação ao sionismo do meu pai sob pilhas de concreto destruído e os restos mortais massacrados de civis inocentes. De qualquer forma, enquanto meus colegas que haviam participado das viagens Birthright vivenciaram Israel filtrado pelas perspectivas de jovens soldados da Força de Defesa Israelense (IDF, na sigla em inglês) ansiosos para justificar sua militância, eu pude ver as contradições do Estado com meus próprios olhos que se abriam gradualmente. Vi como o entusiasmo do meu pai pelas conquistas econômicas, tecnológicas e agrícolas de Israel — sem mencionar as salas de concerto, os museus e a vida noturna agitada — obstruiu sua capacidade de enxergar a brutalidade e a opressão contínuas sobre as quais o Estado foi construído.
Mas não foi apenas a vibração da sociedade israelense que obscureceu a visão do meu pai. O fato de ele ter crescido sob o terror nazista e ter sido, em suas próprias palavras, “tão humilhado por tantos anos” significava que qualquer vislumbre de florescimento judaico, onde quer que ocorresse no mundo, o enchia de orgulho. Mais do que isso, significava que qualquer violência que tivesse fundado e sustentado o projeto de um Estado judeu era, na pior das hipóteses, um mal necessário. Assim como sua economia psíquica determinou que ele “retribuísse” seu amigo Kees por seus atos heroicos, atraindo-o para o rebanho sionista, ele ficaria permanentemente em dívida com o Estado de Israel pela maneira intransigente com que defendia a vida de quase metade da população judaica mundial.
A história, quando escrita e usada pelo opressor, é uma ferramenta ardilosa. A imaginação colonial sempre buscou inverter as relações de poder entre colonos e nativos, apagando a apropriação inicial de terras e transformando os atos subsequentes de agressão colonial em autodefesa contra incursões realizadas pelos despossuídos. Como argumento em meu livro Notes on Trumppace, com base no trabalho de Nicholas Mirzoeff e de Stefano Harney e Fred Moten, esse paradigma se reflete na ideologia supremacista do movimento trumpista, que se imagina como uma colônia sitiada por ameaças internas e externas que só podem ser mantidas à distância com a construção de barreiras de segurança maiores e melhores. É por esse motivo, entre outros, que existe uma congenialidade tão fácil entre os membros da extrema direita na política estadunidense e amplas parcelas da sociedade israelense.
É certo que a narrativa invertida do perseguidor perseguido só cresce em poder e persuasão quando é sustentada, como é o caso de Israel, por alegações de habitação ancestral e pela memória viva de uma campanha de extermínio tão ameaçadora do ponto de vista existencial que inscreveu o medo da perseguição, aparentemente de uma vez por todas, na medula de um grupo já historicamente perseguido. “Uma terra sem um povo para um povo sem uma terra” sempre dependeu de uma falsificação flagrante da realidade histórica. Mas, como ideia, ela se mostrou bonita o suficiente para os judeus que ainda se recuperavam do Holocausto — e conveniente o suficiente para uma Europa que ainda fervilhava com o antissemitismo — para racionalizar o deslocamento permanente de três quartos de um milhão de pessoas e a destruição em larga escala da sociedade palestina pré-1948.
Depois da escravidão, do êxodo, do exílio na Babilônia, dos romanos, da Inquisição, dos pogroms na Europa Oriental e, finalmente, do Holocausto, é compreensível — para não dizer desculpável — que uma geração de jovens judeus, meu pai entre eles, pudesse reconhecer erroneamente um empreendimento colonial baseado na limpeza étnica e na subjugação como um projeto de redenção. No mínimo, posso entender o senso de orgulho belicoso inspirado em meu pai pela recusa violenta de seu amigo em tolerar discursos de ódio; posso entender que a “nova masculinidade judaica” personificada por Kees se tornou, como ele diz, “um papel fácil de assumir”; e posso então traçar sua gravitação em direção ao sionismo com base na superação mais geral de sua humilhação que o movimento parecia proporcionar. Ainda assim, algo dentro de mim se retrai toda vez que me lembro daquele episódio no campo de futebol.
Ao assistir novamente ao vídeo da Shoah Foundation, minha atenção se volta para a estranha e prematura satisfação que meu pai exala quando começa a contar a história. Esse sentimento de satisfação culmina, finalmente, em algo mais próximo da alegria em um testemunho que, de outra forma, seria sombrio. Isso já está se expressando no sorriso misterioso que aparece em seus lábios, junto com o brilho mais familiar em seus olhos, no momento em que ele imita o garoto maior, aquele que lançou o insulto antissemita. Ele parece ter um prazer perverso em dizer as palavras em voz alta (“judeu sujo”), talvez até mesmo em se identificar brevemente com o agressor. Dado o que ele afirmará momentaneamente sobre sua internalização da “visão nazista”, é razoável especular que há, para ele, pelo menos alguma gratificação de autoperseguição envolvida em contar — e recontar — a história. Mas esse prazer inicial se mistura perfeitamente com a sensação mais esperada de alegria e alívio que surge nele um momento depois, quando ele descreve — e reencena, com um soco direto no queixo desajeitado — o ato de violência de seu amigo contra o assediador.
É verdade que pode ser que a satisfação prematura que estou detectando seja puramente antecipatória. Sabendo como a história termina e tendo-a contado muitas vezes antes, depois de aparentemente ter testemunhado os eventos em questão acontecerem repetidamente durante sua infância, ele pode simplesmente estar irradiando empolgação com a conclusão que está por vir. No entanto, o próprio senso de repetição que se apega a essa história — uma repetição presente na própria narrativa, na insistência de Kees para que as palavras “judeu sujo” seja repetida não uma, mas duas vezes — me leva a suspeitar que sua importância reside menos em sua resolução triunfante do que em uma profunda falta de resolução, da qual a necessidade de recontar a história é sintomática. De fato, quanto mais me dedico a isso, mais acredito que o que importa acima de tudo nessa história é o retorno repetitivo de meu pai a um ciclo de perseguição e retaliação que não tem fim; ou que, ao contrário, constitui um fim gratificante em si mesmo.
Isso já é sugerido pela forma como a narrativa é estruturada. Como comecei a relatar anteriormente, as duas “partes” aparentemente separadas da história são, na verdade, indissociáveis uma da outra. A cena no campo de futebol é colorida antecipadamente pelas experiências no Habonim às quais elas conduzem. A estrutura psicológica mapeada pela história, em outras palavras, que é algo como o terreno que meu pai passou grande parte de sua vida percorrendo, é semelhante a uma faixa de Möbius, uma história sem fim. Isso fica evidente mesmo, ou especialmente, quando ele insiste em um senso de finalidade.
“Sempre havia sangue, e era sempre o fim… você sabe, fim de jogo”, diz ele sobre as ações de Kees. Nesse momento de seu testemunho, a liberação emocional de meu pai é a mais profunda. Seus olhos estão marejados de lágrimas. Sua voz oscila à beira de um tremor ao qual nunca chega a sucumbir. “E então ele me dizia — era como um código — ele dizia: ‘venha, Yehudi, estamos indo para casa’”. Mas já na menção de casa, a mais conclusiva das noções ou códigos, há algo mais codificado. Há uma volta ao lar maior que se seguirá, a necessidade do “retorno” a Sião, que será reforçada durante as reuniões semanais dos Habonim, encontros que ocorrerão, de fato, bem longe de casa: “bem longe… na periferia da cidade”, diz meu pai, e, o que é mais importante, longe de seus pais — “aqueles de nós que tinham pais”, acrescenta ele.
No final dessa “segunda parte” da história, logo após observar que, entre as crianças sobreviventes que participavam das reuniões semanais no Habonim, “nenhuma palavra foi mencionada” sobre suas experiências de guerra, meu pai faz uma observação adicional que ainda não mencionei. Ele diz que “uma renovação e uma… transformação estavam começando a trabalhar dentro de nós, o que teria um efeito muito permanente”.
*
Aqueles cujos estudos ou práticas estão baseados no pensamento psicanalítico já devem ter percebido um problema: qualquer “transformação” baseada no silenciamento da fala e na repressão do passado corre o risco de se tornar apenas uma repetição interminável de uma cena anterior, embora em um palco diferente. Já na sequência “renovação… transformação”, há um indício de contradição. Essencial para o projeto sionista do pós-guerra é o esforço para “deixar os velhos costumes para trás” — palavras que meu pai pontua, em seu testemunho, com um aceno de mão por cima do ombro, como se dissesse adeus àquela história sombria. Mas também é necessário substituir essas formas antigas por uma imagem ao mesmo tempo revivida ou renovada do passado mais distante e projetada para o futuro próximo: a imagem do heroísmo judaico.
Para lembrar Hollander, o projeto sionista e a instituição de uma versão “robusta”, supostamente “nova”, da identidade judaica “exigiam shlilat ha-golah, ou negação da diáspora”; ou seja, uma negação da condição de exílio e dispersão que muitos judeus, na época e hoje, consideram fundamental para suas identidades, mas uma negação que o sionismo, como um projeto político radicalmente etnonacionalista, ideologicamente despreza. No caso de crianças sobreviventes como meu pai, no entanto, a existência diaspórica, o que às vezes também é chamado de galut, estava fundamentalmente entrelaçada com uma experiência vivida de perseguição genocida que, como a história demonstrou de forma dramática, não pode ser simplesmente ignorada. Ao mesmo tempo, e sem dúvida em parte como resultado disso, a imagem musculosa da “nova identidade judaica” — já bastante questionável em seus fundamentos hipermasculinos e mais hábeis — foi impregnada de impulsos patológicos: o feio prazer da violência retaliatória que percebo no retorno repetitivo de meu pai à história de Kees no campo de futebol. Nesse contexto, a “renovação” e a “transformação” podem ser descritas com mais precisão como a cristalização imperfeita de fantasias identitárias e a soldagem no lugar de um circuito fechado de perseguição e retribuição sobre a ferida purulenta dos medos e humilhações da infância.
Não é preciso dizer que o processo de socialização em questão aqui só pode significar problemas. O “novo judeu”, disciplinado ou subjetivado pelo sionismo, não pode deixar de ser assombrado por seu resto reprimido. Essa peça do quebra-cabeça psicossocial sobre a qual “nem uma palavra foi dita”, devido ao seu próprio silenciamento, estará propensa a uma reafirmação violenta. Se as observações que fiz de meu pai ao longo de sua vida adulta servirem de base, a repressão do medo e da vergonha entre os perseguidos pode até levar aqueles que silenciosamente abrigam esses aspectos ocultos de sua identidade a procurar, obsessivamente, instâncias de perseguição em potencial, a fim de se afirmarem mais completamente. Não se trata apenas do fato de que a experiência de ser vítima, nesse caso, dará licença para a afirmação agressiva da identidade etnorreligiosa, embora esse seja um pensamento bastante preocupante por si só. É o fato de que a própria vitimização passa a carregar consigo um poderoso senso de afirmação identitária. Nessas condições, o mundo em geral pode ser facilmente percebido como uma entidade hostil, e as fantasias de retribuição florescem em detrimento da reconciliação.
Essa confluência de experiência traumática não resolvida e violência retributiva repetitiva é crucial, a meu ver, para entender não apenas os anos de formação do meu pai, mas a identidade sionista do pós-guerra de modo mais geral: o movimento sionista mais amplo, tal como veio a ser remodelado após a Segunda Guerra Mundial e que, de muitas maneiras, constitui a base para o Estado de Israel hoje, não foi nada além de uma falsa resolução que abriu caminho para a repetição incansável — agora realizada em nível coletivo — da violência que afirma a identidade e é sustentada pela vitimização. A Guerra dos Seis Dias é paradigmática nesse sentido. Em seu livro Palestina: Um século de guerra e resistência (1917 — 2017), Rashid Khalidi observa que, como Washington bem sabia e os generais israelenses admitiram mais tarde, Israel tinha uma vantagem militar esmagadora contra os exércitos árabes que atacou preventivamente e devastou durante o verão de 1967. No entanto, o mito nascido dessa guerra, de “um país minúsculo e vulnerável” que enfrenta “perigo existencial constante”, continua a ser usado “para justificar o apoio geral às políticas israelenses, por mais extremas que sejam”.
Se há uma imagem que consolida essa lógica no contexto de nosso momento atual, ela pode ser encontrada no curioso acessório de vestuário adotado pelo embaixador israelense nas Nações Unidas, Gilad Erdan, após os ataques de 7 de outubro do Hamas no sul de Israel. Quando as Forças de Ocupação Israelense iniciaram uma campanha maciça de destruição em Gaza, o embaixador começou a aparecer na sede da ONU com um emblema da Estrela de Davi preso à camisa, em um ato de teatro político que foi considerado desonroso por ninguém menos que o chefe do Yad Vashem. No centro dessa estrela de Davi, que lembra os adesivos usados pelos nazistas para identificar os judeus durante o Holocausto, foram inscritas as conhecidas palavras “nunca mais”. Desnecessário dizer que “nunca mais”, aqui, decididamente não significa nenhum genocídio contra qualquer povo da Terra. Quando recentemente insinuei nas redes sociais que esse deveria ser, de fato, o verdadeiro significado da frase, fui repreendido por um conhecido sionista: “Isso significa que os judeus não serão enviados para campos de concentração novamente. Isso não tem nada a ver com qualquer outra coisa”. Mas acho que até mesmo essa admissão surpreendentemente insensível de lealdade etnonacionalista apresenta uma definição muito gentil para a frase, conforme usada no contexto acima.
Nos dois meses que se seguiram ao dia 7 de outubro, Israel lançou 29 mil bombas, projéteis e munições — quase a metade delas “bombas não-guiadas” — em uma área aproximadamente do tamanho de Detroit, mas com uma densidade populacional muito maior. Conforme relatado pelo The Wall Street Journal, esse número é mais de oito vezes maior do que as munições lançadas pelos EUA no Iraque entre 2004 e 2010. As mortes de civis, a maioria mulheres e crianças, agora chegam a dezenas de milhares. Hospitais, escolas e locais de culto foram transformados em escombros. Bebês foram deixados à morte em incubadoras sem energia, enquanto os médicos, privados de suprimentos médicos sob o cerco israelense, foram forçados a realizar amputações sem anestesia. Setenta por cento das moradias foram destruídas ou danificadas em um ato de “domicídio” que muitos juristas consideram um crime contra a humanidade. Cerca de dois milhões de pessoas foram deslocadas. Os níveis de água caíram para menos de um décimo da cota recomendada por pessoa por dia. A Human Rights Watch afirmou que Israel está cometendo um crime de guerra ao usar a fome como arma contra os civis de Gaza. Em questão de meses, mais jornalistas foram mortos em Gaza do que em qualquer outro conflito no mundo nos últimos trinta anos. Qualquer pessoa que ainda negue que Israel estava engajado desde o início em uma campanha de matança e destruição indiscriminada não precisa ir além dos três reféns israelenses mortos a tiros por soldados da IDF depois que saíram de um prédio sem camisa, agitando uma bandeira branca e, um deles, gritando por ajuda em hebraico.
Quatro meses após o início da campanha em Gaza, a proporção de mortes entre palestinos e israelenses se aproximava de trinta para um. Ainda assim, o governo israelense, seus aliados ocidentais e seus substitutos na mídia continuaram a posicionar o Estado como envolvido em uma operação precisa de autodefesa. Nesse contexto, a instrumentalização descarada do Holocausto, exemplificada pela Estrela de Davi do embaixador israelense na ONU, e utilizada diariamente para ajudar na perpetuação da atrocidade em massa, é melhor explicada pela avaliação autocrítica do jornalista israelense Gideon Levy sobre seu país de nascimento: “Como vítima, e a única vítima da história”, afirma Levy, Israel concede a si mesmo o “direito de fazer o que quiser” — aparentemente incluindo até mesmo a limpeza étnica de toda uma região e de um povo, e o sacrifício sangrento dos próprios cidadãos israelenses em nome do que a IDF chamou apropriadamente de “dano máximo”.
Quando penso em como meu pai teria reagido à façanha do embaixador da ONU, imagino-o fazendo um gesto que ele às vezes fazia. Eu o vejo colocando os dedos na testa, balançando a cabeça e olhando para cima com incredulidade. Tenho quase certeza de que sua primeira reação teria sido de incredulidade. No entanto, por mais que eu deseje que seja diferente, uma pequena parte de mim questiona essa convicção. Se eu fechar os olhos e deixar de lado minhas idealizações, também posso vê-lo virando-se para mim com um brilho familiar nos olhos, talvez dando de ombros: “Chutzpah.” E então: aquele sorriso misterioso.
Se sou capaz de imaginar isso, é porque há mais do que uma semelhança passageira entre o prazer feio que tentei identificar no testemunho da Fundação Shoah de meu pai e a autossatisfação do embaixador da ONU. Eis, então, o que finalmente considero tão preocupante na expressão do rosto do meu pai quando ele se senta diante da câmera e reflete sobre sua juventude a partir da posição — agora é preciso enfatizar — de um professor de meia-idade, seguro nos alinhamentos geopolíticos que tomaram forma no período pós-guerra e na fortaleza psicológica que ele construiu em torno de seu sofrimento. Não se trata apenas do sentimento palpável de apego à sua condição de figura central da vitimização na história ocidental do século XX, com todo o reforço dado a essa designação pelo discurso acadêmico, pelo cinema popular e pela política de identidade liberal; é a satisfação de saber simultaneamente que, graças às circunstâncias históricas, qualquer ameaça à sua identidade ou ao seu ser será tratada com rapidez, violência e, o mais importante, de uma forma que preserve seu senso de impunidade.
Quer meu pai tenha consciência disso ou não no momento em que conta sua história, por trás do golpe que ele lembra Kees desferir no garoto no campo de futebol está o espectro da superioridade militar apoiada pelos Estados Unidos, que sustenta as prerrogativas etnonacionalistas de Israel por décadas, em conformidade com o perverso princípio geopolítico da lei do mais forte. Mas há algo ainda mais inquietante em jogo aqui. Com o Holocausto efetivamente singularizado e sacralizado em um evento de proporções quase escatológicas, incomparável a qualquer crime na história, existe a fantasia coletiva de uma retribuição que seria proporcional ao sofrimento suportado pelo povo judeu. Isso é, pelo menos em parte, o que está por trás da promessa de Benjamin Netanyahu de “vingança poderosa”, suas invocações de Amalek e o chamado bíblico para “matar igualmente homens e mulheres, bebês e crianças de peito”. Isso se reflete nas afirmações do ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, de que os habitantes de Gaza são “animais humanos” e que o exército israelense “eliminará tudo” na região. É o mesmo reservatório de punição sem limites do qual o âncora israelense do noticiário do Canal 14, Shay Golden, estava se alimentando quando, jurando destruição em massa, afirmou não apenas que Israel estava “indo para Gaza (…) para o Líbano (…) ao Irã”, mas que estava “pronto para lutar com os Estados Unidos” e “o mundo inteiro”.
Um corolário dessa fantasia de retribuição sublime é a sensação de injúria suplementar ou excessiva que parece acompanhar todo ato de violência contra o Estado de Israel. Sarah Schulman escreveu sobre “a desumanização envolvida no exagero do dano causado como justificativa para a crueldade”. Em nenhum outro lugar isso ficou mais evidente do que na necessidade de aprimorar escandalosamente o que já era suficientemente aterrorizante no ataque mortal do Hamas em 7 de outubro. Os falsos relatos, repetidos na mídia e nos corredores do poder, de bebês decapitados, queimados em fornos ou pendurados em varais, de fetos arrancados do ventre de suas mães, atestam não apenas um desprezo velado pelos assassinados, uma redução da perda e do sofrimento a um espetáculo pornográfico; eles refletem a extrema desumanização da população palestina que tem sido parte integrante da base psicológica necessária para os horrores que estamos vendo agora em Gaza.
Schulman observa que na base dos sistemas de controle patologicamente rígidos está “a crença em si mesmo como humano e no outro como não humano: um espectro ou monstro”. Enquanto a IDF se ocupava em matar uma criança a cada dez minutos em Gaza, os criadores de conteúdo on-line em Israel se divertiam com estereótipos racistas, vestindo-se com keffiyehs, pintando os dentes de preto e espalhando sangue falso no rosto, zombando abertamente do sofrimento palestino. O Haaretz relata que a unidade de “guerra psicológica” da IDF operou um canal do Telegram conhecido como “72 Virgins-Uncensored” (72 Virgens — sem censura), que, de forma ilegal e clandestina, oferecia ao público israelense local imagens gráficas de habitantes de Gaza mortos. As legendas do conteúdo publicado confirmam até que ponto a desumanização do outro gera desumanidade em si mesmo. Uma postagem diz: “Queimando a mãe deles (…) Você não vai acreditar no vídeo que recebemos! É possível ouvir o ranger de seus ossos. Faremos o upload imediatamente, prepare-se”. Outro diz: “Exterminando as baratas (…) Compartilhe essa beleza”. No território, on-line e na imaginação de uma sociedade fundada e sustentada por fantasias supremacistas, o circuito de violência persecutória permanece intacto.
Ao pensar em como meu pai — uma pessoa atenciosa e culta, amada por sua família e comunidade e, diga-se de passagem, muito querida por seu único filho — poderia ter passado tanto tempo de sua vida envolvido em um ciclo de gratificação persecutória, a ponto de não haver quase nenhuma conversa longa entre nós que não tivesse, de alguma forma, uma interseção com a queixa judaica, sou levado de volta a um de seus comentários finais sobre seus primeiros dias no movimento sionista: “E nenhuma palavra foi mencionada, nem sobre a guerra, nem sobre estar escondido, nada sobre nossa história”.
*
Para Freud, a “compulsão à repetição” (para usar o termo freudiano para o comportamento repetitivo que estou descrevendo) se tornaria uma preocupação central da segunda metade de sua obra, o que acabou levando a Além do princípio do prazer, em 1920. É nesse trabalho que a famosa “pulsão de morte” é introduzida, não por acaso no contexto da contemplação das resistências intratáveis construídas na psique dos traumatizados pela Primeira Guerra Mundial. A primeira referência de Freud à compulsão à repetição, no entanto, ocorre em seu ensaio de 1914, Recordar, repetir e elaborar; e é nessa breve reflexão sobre o ambiente clínico que ele nos apresenta um insight que pode ser útil para a compreensão do material em questão. O que primeiro leva Freud à formulação é sua perplexidade com a maneira pela qual o paciente em tratamento, em vez de trazer uma experiência traumática reprimida à consciência, como a técnica psicanalítica ditaria, “a representa” no curso da transferência. Ou seja, o paciente “reproduz [a experiência] não como uma memória, mas como uma ação; ele a repete, sem, é claro, saber que a está repetindo”.
Freud oferece alguns exemplos do que foi dito acima. Primeiro, ele aponta para o paciente que contesta a autoridade de seus pais quando criança e, posteriormente, reproduz essa hostilidade com o analista. Em seguida, ele oferece o exemplo do paciente cujo “desamparo e desesperança do impasse em suas pesquisas sexuais infantis” é reproduzido como uma sensação de impotência nas tarefas diárias. Por fim, há o paciente cujo sentimento de vergonha em relação às atividades sexuais e o medo de ser descoberto reaparecem como vergonha e sigilo sobre estar em tratamento. Portanto, há vários pontos de compulsão: contestação, desamparo, vergonha, medo. Sem dúvida, há muitos outros. Mas é difícil ignorar a facilidade com que as formas exemplares de atuação em Freud podem ser alinhadas com as histórias de vida de crianças sobreviventes como meu pai. Esses eram indivíduos cujas identidades precisavam ser ocultadas para sobreviver; cujos sentidos de si mesmos eram permeados pela vergonha; e cujo “desamparo e desesperança” em um momento profundamente suscetível de seu desenvolvimento só poderiam ser acompanhados por sentimentos de contestação diante de uma autoridade indomável.
Meu pai estava convencido do papel terapêutico que o movimento sionista desempenhava na vida das crianças sobreviventes. Mas a terapia em questão aqui deve ser entendida como antitética a tudo o que a psicanálise pretende com a palavra “tratamento”. No contexto do Habonim, meu pai e seus colegas não só receberam licença para reprimir o passado, mas foram incentivados a reproduzi-lo, nos termos de Freud, “não como uma memória, mas como uma ação”. Sua reeducação envolveu não apenas a negação de suas identidades diaspóricas, mas uma renovação ativa de uma história mais profunda de heroísmo judaico, sobreposta às idealizações heteromasculinas dos séculos XIX e XX e consolidada na figura do chamado “novo judeu”. Ao mesmo tempo, a implementação coletiva do sionismo político da qual a geração da guerra participou viria a se manifestar como uma atuação simultânea de emaranhados inconscientes de medo, vergonha e desamparo, ou seja, vitimização, por um lado, e contestação absoluta, por outro. O etnonacionalismo como violência autoexoneradora: um aparato duplamente brutal, pois sua opressão externa depende da subjugação interna. Como escreveu Jacqueline Rose: “Por causa da oposição dos povos indígenas que ele estava fadado a encontrar (como [Ze’ev] Jabotinsky reconheceu), mas também porque ele alista e exige uma identificação tão apaixonada, o sionismo não consegue, embora até hoje faça grandes esforços em recalcar esse conhecimento interno, deixar de ser uma questão de violência — interna e externamente”.
Ao olhar para uma fotografia do meu pai, tirada em um acampamento de verão dos Habonim em algum momento da década de 1950, quando ele se tornou um dos líderes da seção de Amsterdã do grupo, sinto algo da violência interna necessária para manter sua fidelidade ao projeto radical que ele havia abraçado. Na imagem, ele está entre duas fileiras de crianças muito mais jovens do que ele. Ao lado dele, vestidos com uniformes, estão dois líderes de acampamento, um homem e uma mulher. Esses dois indivíduos estão de pé com as mãos atrás das costas. Eles parecem casualmente autoconfiantes e, embora seus deveres provavelmente não sejam muito diferentes daqueles dos conselheiros comuns de um acampamento de verão, eles poderiam facilmente se passar por militantes. Meu pai, no entanto, está de pé com seus longos braços pendurados ao lado do corpo. Sua camisa tem uma estampa que o distingue de seus colegas líderes de acampamento. Ele está usando óculos e — em uma escolha de moda caracteristicamente excêntrica — tem um lenço enrolado no pescoço. Meu pai não era um schlemiel, mas também não era um sabra. Ele era estudioso, sensível, charmoso, cativantemente desajeitado e, às vezes, um pouco menos cativantemente neurótico; bonito, meio nerd. De pé na fotografia, com as mãos nas coxas e os pés estendidos para fora, ele parece estar representando um papel. Mesmo que a identidade de “novo judeu” forte e pugilista tenha sido, como ele diz em seu depoimento, “um papel fácil de assumir”, foi um papel para o qual ele nunca foi muito afeito.
O fato de haver uma profunda ambivalência no cerne do sionismo do pós-guerra pode ser deduzido da maneira como o Estado israelense celebra a história dos judeus na Segunda Guerra Mundial. O dia em que o Holocausto é comemorado é conhecido como o “Dia da Destruição e do Heroísmo”. Rose observa que a data de observância foi colocada “tão perto da data do Levante de Varsóvia quanto as leis religiosas relacionadas à Páscoa permitiam”. A subsequente promulgação da “Lei de Lembrança do Holocausto e do Heroísmo” e a decisão de comemorar os mortos, mas não os sobreviventes, confirmariam posteriormente que “a lembrança era condicional — Varsóvia primeiro, os sobreviventes por último e menos [importantes]”. Para Israel, conclui Rose, “o trauma entra na psique nacional na forma de resistência à sua própria dor”. Em nível individual, como atestam as experiências de meu pai, o que o projeto nacional e político do sionismo proporcionou foi uma alternativa a uma tarefa mais difícil — talvez, como Freud a viu, a tarefa mais difícil: a de lidar com a dor.
Com relação às dificuldades de “elaboração”, Freud faz duas observações que são particularmente marcantes no contexto atual. Primeiro, ele descreve os esforços do analista para ajudar o paciente a “desenterrar suas memórias” e, por fim, chegar a uma “reconciliação com o material reprimido” como um processo de desarmamento. Compelido a atuar por meio do próprio processo de confrontar as memórias reprimidas, “o paciente”, escreve Freud, “traz do arsenal do passado as armas com as quais ele se defende contra o progresso do tratamento — armas que devemos arrancar dele uma a uma”. Em segundo lugar, ele descreve o projeto de trabalhar com a própria resistência à reconciliação e à recuperação como dependente de uma forma de desafio; nesse caso, um desafio que não traduziria o trauma em autoafirmação violenta, mas que se recusaria paciente e persistentemente a ceder a esse impulso. “É preciso dar tempo ao paciente para que ele se torne mais familiarizado com essa resistência”, escreve ele, “para trabalhar com ela, para superá-la, continuando, desafiando-a, o trabalho analítico”. Embora seja possível que alguns sobreviventes da perseguição nazista tenham conseguido confrontar sua dor após a guerra, talvez até mesmo no ambiente clínico, meu pai e seus colegas não tiveram esse tempo para trabalhar, nem para cultivar a forma mais difícil de resistência identificada por Freud. Pelo contrário, o que eles encontraram no movimento juvenil sionista foi um meio conveniente de fortalecer, em nome da militância etnonacionalista, o belicismo psicológico com o qual eles se defendiam de suas mentes perturbadas.
No verão passado, visitei a Holanda pela primeira vez desde que meu pai faleceu. No centro de pesquisa de Kamp Westerbork, local de onde 102 mil judeus foram deportados para a morte, entrevistei Bert Jan Flim, especialista em crianças sobreviventes do Holocausto, cuja dissertação foi orientada por meu pai décadas atrás. Uma experiência comum entre as crianças sobreviventes, disse Flim, é que lhes foi dito que elas “não mereciam nenhuma atenção especial”. Embora a maioria, se não todos, tivesse perdido membros da família e passado por anos de terror e devastação, eles eram considerados “sortudos” e, portanto, lhes mandavam “calar a boca”, “deixar o passado para trás e seguir a vida”. Que eu saiba, Flim não é freudiano, mas suas percepções sobre o impacto psicológico que isso teve na vida posterior das crianças sobreviventes apontam para um caso clássico de retorno do recalcado. “Se você só olhar para frente e não confrontar parte do que aconteceu”, ele me disse, “se você nunca enfrentar isso, talvez isso possa ficar dentro de você e [causar] problemas em sua vida”.
Quanto a meu pai, foi somente na década de 1980, quando participou da primeira conferência dedicada especificamente a crianças sobreviventes do Holocausto, que ele começou a se envolver seriamente com o que havia vivido quando criança. No intervalo entre seus anos de Habonim e seu primeiro acerto de contas significativo consigo mesmo como “criança sobrevivente”, sua fidelidade a Israel só se fortaleceu. Em 1967, quando a Guerra dos Seis Dias estourou, ele era um estudante de doutorado em Harvard. Em vinte e quatro horas, ele estava em um avião para Israel, onde trabalhou como voluntário em hospitais e, posteriormente, ajudou nos esforços pós-guerra. Seus primos sobreviventes mais próximos eram kibutzniks e ele os visitava com frequência no norte do país. Sua parceira durante os anos mais formativos da minha infância era uma israelense. Durante toda a minha vida, eu o conheci como um sionista liberal bastante típico, ou seja, uma pessoa capaz de ter uma infinidade de crenças contraditórias. Ele acreditava em uma solução de dois Estados, mas somente em termos que negavam aspectos fundamentais da soberania palestina. Ele acreditava que o processo de paz havia sido interrompido devido à intransigência da Organização para a Libertação da Palestina em questões como o direito ao retorno, e não devido aos termos fundamentalmente injustos das negociações. Ele se apegou à ideia de que, se Yitzhak Rabin não tivesse sido assassinado, a paz poderia ter sido possível um dia, mas evitou — pelo menos até bem perto do fim de sua vida — dar atenção à extrema direita israelense e ao movimento de colonos que foram responsáveis pelo assassinato de Rabin. Ele acreditava que a barreira de segurança era um instrumento infeliz, mas necessário, para manter a segurança israelense. Ele poderia expressar uma preocupação genuína com o sofrimento dos palestinos, especialmente com as crianças palestinas. Mas ele era fundamentalmente incapaz de reconhecer a culpabilidade israelense e podia facilmente ficar indignado com sugestões sobre os erros do Estado. Em Sabra e Shatila, em 1982, foram os carniceiros falangistas libaneses os responsáveis pela matança desenfreada de refugiados palestinos; o massacre de Qana, em 1996, no qual as IDF destruíram um complexo da ONU onde centenas de civis haviam procurado abrigo, foi um erro de cálculo de guerra; a destruição de Jenin, em 2002, foi uma resposta compreensível à intifada em andamento; e assim por diante.
Sobre os acontecimentos mais recentes em Gaza e na Cisjordânia, ele sempre comentava como tudo era terrível e desolador, antes de mudar rapidamente de assunto. Ele sabia que há muitos anos o discurso estava mudando. O que antes eram posições de extrema esquerda estavam se tornando cada vez mais comuns. Mesmo dentro do grupo de chavurah que ele ajudou a fundar em Montreal, sua posição firmemente pró-Israel começou a parecer fora de moda. No final de sua vida, as conversas entre nós sobre o Oriente Médio, que variavam entre debates animados e discussões acaloradas, gradualmente se silenciaram. De vez em quando, ele me enviava um artigo do Ha’aretz, quando estava de bom humor, ou do The Jerusalem Post, quando estava se sentindo provocador. Fiz o possível para me manter equilibrado e evitar morder a isca quando ela era oferecida. Acho que ambos sabíamos que essa era uma das muitas vertentes de nosso relacionamento que teria de ser deixada sem solução.
Durante a maior parte de sua vida, meu pai alimentou a ideia de que um dia faria Aliyah, ou seja, se mudaria para Israel. No mínimo, ele pensou, poderia comprar um pequeno apartamento de férias no Mediterrâneo, em algum lugar ao norte de Haifa. Pouco antes de morrer, ele passou um mês em Israel, alternando entre a cidade e o deserto, regozijando-se com seus entes queridos e, provavelmente, exercendo uma pressão considerável sobre o corpo de 84 anos de idade, que o deixaria subitamente debilitado, pouco depois de seu retorno para casa. Na imagem impressa em seu obituário, ele está de pé contra o pano de fundo do deserto de Negev. Ele parece bronzeado, bonito, muito mais jovem do que sua idade.
Depois que ele morreu, passei meses organizando e vasculhando os arquivos que ele mantinha em sua pequena casa de campo no interior de Quebec. Entre os manuscritos acadêmicos inacabados, recortes de revistas, fotos e pilhas de diários, encontrei um bloco de notas datado de meados da década de 1980, com o que parecia ser o início de um livro de memórias. “Finalmente está resolvido”, ele escreveu. “Estou pronto para começar minha vida em Israel.” No final das contas, as fantasias de meu pai sobre a possibilidade de construir uma vida para si mesmo na terra natal dos ancestrais judeus não passaram disso. Outra narrativa não resolvida. Uma história sem final.
Eu estava hospedado em sua antiga casa de campo em Quebec no dia 7 de outubro de 2023, uma data que coincidiu com o fim de semana do Dia de Ação de Graças no Canadá. Sozinho na floresta, sem nada além do meu telefone e do fantasma do meu pai para me fazer companhia, passei horas percorrendo as imagens que chegavam do sul de Israel. Não faz sentido minimizar o impacto retraumatizante que o ataque do Hamas teve em grande parte da comunidade judaica global. O historiador do Holocausto Omer Bartov, que continua profundamente crítico em relação ao Estado israelense, falou sobre como o dia 7 de outubro provocou nele lembranças dolorosas da Guerra do Yom Kippur de 1973. Para meu pai, isso provavelmente o teria levado de volta a 1967. Minha madrasta colocou a questão em termos caracteristicamente duros: “Se ele estivesse vivo, isso o teria matado.”
De minha parte, eu estava ciente, desde as primeiras publicações que vi nas mídias sociais, que as imagens daquele dia me assombrariam no futuro próximo. Mas, como muitos dos meus amigos mais próximos e membros da família, eu não conseguia olhar para essas imagens de morte e não pensar em outras imagens: dos milhares de edifícios e corpos impiedosamente destruídos pelo Estado israelense ao longo de sua violenta história e, o que é ainda mais preocupante, da violência que agora, inquestionavelmente, estava por vir. O ataque de Israel a Gaza tem sido previsivelmente desproporcional. Mas muito poucos, mesmo entre aqueles de nós que acompanharam de perto a ascensão de ex-líderes terroristas orgulhosamente homicidas e fascistas autoproclamados aos mais altos escalões do Knesset, poderiam ter previsto a extensão do horror que Israel desencadeou sobre o povo palestino.
Mais de um comentarista da grande mídia afirmou que Israel não teve o tempo necessário para lamentar antes de iniciar uma retaliação violenta. “Emoções intensas muitas vezes dificultam pensar cuidadosamente sobre as implicações de nossas ações”, declarou Fareed Zakaria em um segmento de televisão questionando o apelo de Netanyahu por uma “poderosa vingança” contra os autores do ataque de 7 de outubro. Tais comentários entre especialistas da mídia liberal aparentemente bem-intencionados presumem, de forma problemática, uma identidade entre o aparato do Estado israelense e a população em geral. Sem dúvida, o governo e a mídia israelenses instrumentalizaram a dor e o trauma de muitos israelenses. Mas sugerir que o próprio aparato estatal está agindo de alguma forma emocional ou compulsivamente é, ao mesmo tempo, subestimar e correr o risco de exonerar sua malevolência. O governo de Netanyahu, como tem ficado mais claro a cada dia que passa, não está preocupado nem em oferecer conforto aos enlutados nem em simplesmente realizar uma retribuição cega em nome de um público inflamado. O primeiro pressupõe uma humanidade que claramente lhe falta, o segundo pressupõe uma animalidade que ainda é própria do ser humano. Mas o Estado israelense e suas forças armadas, da forma como operam sob o gabinete de Netanyahu, não são humanos nem compostos de “animais humanos”, para lembrar as palavras do Ministro da Defesa Gallant. O Estado israelense é uma máquina de morte friamente calculista que converte o trauma não processado que descrevi ao longo deste ensaio em mais destruição. Isso foi evidenciado pelos relatos assustadores que surgiram sobre o uso, pela IDF, de “uma unidade de inteligência militar secreta e facilitada por IA” para realizar o massacre contínuo dos habitantes de Gaza.
Aqueles que comparam a cruzada de Israel a ações precipitadas e irracionais, como as supostamente empreendidas pelos Estados Unidos após o 11 de setembro, mais uma vez deturpam a malevolência dos atores envolvidos na tomada de decisões do Estado — nesse caso, os neoconservadores que há muito tempo aguardavam uma oportunidade para implementar sua desastrosa agenda geopolítica. A guerra de Netanyahu contra Gaza é, de fato, muito parecida com a cruzada do governo Bush contra o “Terror” e as façanhas no Afeganistão e no Iraque — e está usando o horror como pretexto para capitalizar compromissos ideológicos de longa data, nesse caso a intenção, inequivocamente expressa há anos entre setores extremados do governo israelense, de matar ou expulsar de seus territórios controlados aqueles que se recusam a se submeter ao “domínio judaico”. Mas com relação à realidade dolorosamente evidente de que não há solução militar para a miséria que persiste há décadas na Palestina, o governo de Netanyahu respondeu com o que Jacqueline Rose poderia chamar de sua “última resistência”: a implementação de um empreendimento de terra arrasada que a Corte Internacional de Justiça determinou como plausivelmente genocida. Esse, finalmente, é o trabalho ao qual a expressão “nunca mais” foi pervertida a realizar em nosso tempo. Não consigo imaginar desonra maior para o legado de meus mais de cem ancestrais holandeses assassinados ou para os milhões de outros cujos corpos foram incinerados nos crematórios nazistas. A campanha militar brutal de Israel deve ser combatida por pessoas conscientes em todos os lugares.
*
Outra parte do testemunho da Fundação Shoah sugere que parte do meu pai teria acreditado nisso, por mais que suas opiniões tenham sido obscurecidas por influências reacionárias. Refletindo sobre o trabalho de superação que ele iniciou tardiamente — talvez muito tardiamente — na segunda metade de sua vida, ele observa como é importante “passar por aquilo que, até muito recentemente, costumávamos ver (…) como um lugar muito escuro que não queremos visitar. Porque do outro lado do lugar escuro há algo muito positivo também”. Aqui, finalmente, a redenção em questão decididamente não é o projeto sionista, nem mesmo uma população judaica global florescente. “Certamente não estou falando apenas com judeus”, ele diz. “Estou falando com todas as pessoas de todas as cores, todas as raças e todas as identidades étnicas, porque há algo que precisamos aprender”. Primeiro, com relação às marés escuras da destruição genocida: “quão rápido isso pode acontecer” e “quão vulneráveis todos nós podemos ser”. Mas também, o que é mais importante, que algum grau de fé na “humanidade e no mundo” pode ser encontrado na própria história de sobrevivência, particularmente nas ações dos inúmeros indivíduos — a maioria deles totalmente estranhos — que agiram em nome dos que estavam em perigo. “Para minha única sobrevivência, quarenta, sessenta, oitenta pessoas contribuíram de alguma forma, de alguma maneira essencial”, declara meu pai diante da câmera, sua voz agora tremendo com uma forma mais terna de gratidão. Em outras palavras, se há uma lição a ser aprendida com o Holocausto, ela deve ser universal; e se há alguma esperança a ser depositada na humanidade, ela vem de nossa capacidade de agir em nome dos outros. O “nunca mais”, se quiser ser algo mais do que um sentimento vazio, deve significar “nunca mais” para qualquer pessoa.
Essa última frase tem sido um dos gritos de guerra entre as organizações judaicas, em grande parte lideradas por jovens, que surgiram no cenário internacional como um complemento crucial ao movimento global pela emancipação palestina. Juntamente com a frase acima, apareceu uma palavra de ordem: “não em nosso nome”. Essas palavras muitas vezes foram expressas na forma de canções, quando grupos como Jewish Voice for Peace, If Not Now e Jews for Racial and Economic Justice se reuniram em protestos não violentos e de desobediência civil em massa; ou seja, em contextos nos quais as palavras assumem um certo poder de expressão performativa. Se a primeira frase, “nunca mais para ninguém”, afirma uma relação entre o eu e o outro (ou “eu e tu”, para usar os termos familiares de Martin Buber, ele próprio um sionista profundamente ambivalente), a segunda frase, “não em nosso nome”, insiste que não existe uma identidade judaica única, que o “eu” é sempre dividido pela alteridade.
Como repreensões à afirmação da identidade etnonacionalista, com toda a violência potencial que ela acarreta, ambas as declarações podem ser pensadas em termos do que Edward Said chamou de “uma política de vida diaspórica”. No contexto de entendimentos rejuvenescidos da prática e dos princípios judaicos, é possível descobrir um antecedente para essa política no Livro do Êxodo: “não oprimirás o estrangeiro, pois conheces os sentimentos do estrangeiro, já que foste estrangeiro na terra do Egito”. Para Said, no entanto, essa política é devedora, em parte, de ninguém menos que Freud, cuja insistência nas origens egípcias de Moisés parece ir um passo além, desestabilizando o etnonacionalismo judaico em sua própria base e abrindo a porta — mesmo que por um fio de cabelo — para a possibilidade de uma nova história de florescimento coletivo e multiétnico (nas palavras de Said, “binacional”). Said escreve sobre “a profunda exemplificação de Freud da percepção de que mesmo para a identidade comunitária mais definível, mais identificável e mais obstinada — para ele, essa era a identidade judaica — há limites inerentes que a impedem de ser totalmente incorporada em uma, e somente uma, identidade”.
Esse limite foi poderosamente reafirmado pelo número crescente de judeus que, diante de personagens cínicos da mídia, diretores institucionais, editores e administradores universitários covardes e, acima de tudo, de um congresso dos EUA comprometido com as prioridades financeiras e políticas do Império, optaram por se solidarizar com o povo palestino e recusar a equação insidiosa, a-histórica e manifestamente errônea entre sionismo e judaísmo. À medida que a catástrofe em Gaza continua a se desenrolar, o movimento por justiça palestino tornou-se mais uma vez uma arena central dentro da qual as maiores lutas globais de nosso tempo — entre a humanidade e o capital, não menos do que entre a liberdade e a tirania — estão sendo travadas. Ao se unirem aos milhões de ativistas pró-palestinos que saíram às ruas nos últimos meses, os grupos de ativistas judeus ajudaram a reviver o que Jacqueline Rose, descrevendo as trocas epistolares de Freud sobre sionismo com o escritor Arnold Zweig, chama de “uma crítica ao autoencantamento nacional, às identidades que se endurecem como ferro em resposta aos males do mundo”. Além e contra a “última resistência” que surgiu após o dia 7 de outubro, que está alimentando a punição coletiva de mais de dois milhões de vidas, as vozes que agora clamam por paz insistem em um desafio mais difícil — um objetivo e um fim diferentes para uma história que vem se repetindo há muito tempo.
Texto originalmente publicado na revista Parapraxis: https://www.parapraxismagazine.com/articles/persecution-terminable
Tradução: Dafne Melo
David Markus é professor associado no Expository Writing Program da New York University. Autor de Notes on Trumpspace (2023), seus artigos e resenhas apareceram em publicações como Art in America, Frieze, Art Journal, Art Papers, Hyperallergic, Fence Digital, The Brooklyn Rail e Flash Art.