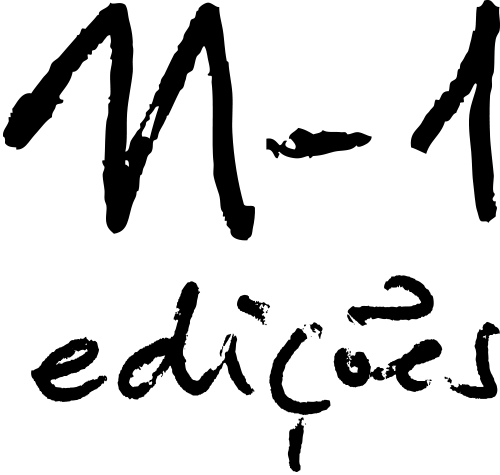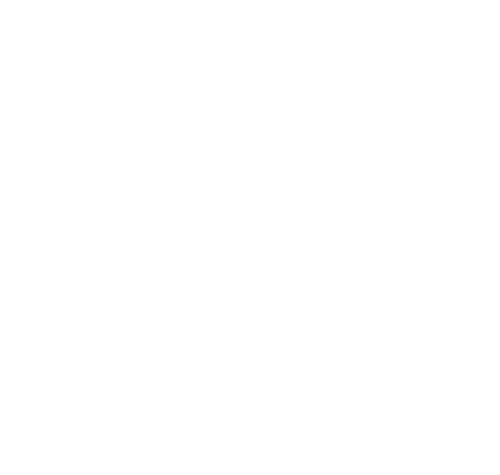A Shoah depois de Gaza (Pankaj Mishra)
A liquidação de Gaza, embora descrita e transmitida por seus autores, é diariamente ofuscada, ou até mesmo negada, pelos instrumentos da hegemonia militar e cultural do Ocidente
1.
Em 1977, um ano antes de se suicidar, o escritor austríaco Jean Améry deparou-se com notícias na imprensa sobre a tortura sistemática de prisioneiros árabes nas prisões israelenses. Preso na Bélgica em 1943, quando distribuía panfletos antinazistas, Jean Améry foi brutalmente torturado pela Gestapo e depois deportado para Auschwitz. Conseguiu sobreviver, mas nunca conseguiu olhar para seus tormentos como coisas do passado. Insistia que quem é torturado permanece sendo torturado e que seu trauma é irrevogável.
Tal como muitos sobreviventes dos campos de extermínio nazistas, Jean Améry passou a sentir uma “conexão existencial” com Israel na década de 1960. Atacou obsessivamente os críticos de esquerda do Estado judaico como “irrefletidos e inescrupulosos”, e pode ter sido um dos primeiros a afirmar, agora corriqueiramente amplificado pelos líderes e apoiadores de Israel, que os antissemitas virulentos se disfarçam de anti-imperialistas e antissionistas virtuosos.
No entanto, os relatos “reconhecidamente incompletos” de tortura nas prisões israelenses levaram Jean Améry a considerar os limites de sua solidariedade com o Estado judaico. Num dos últimos ensaios que publicou, escreveu: “Apelo urgentemente a todos os judeus que querem ser seres humanos para que se juntem a mim na condenação radical da tortura sistemática. Onde a barbárie começa, até os compromissos existenciais devem terminar”.
Jean Améry ficou particularmente perturbado com a apoteose, em 1977, de Menachem Begin como primeiro-ministro de Israel. Menachem Begin, que organizou o atentado a bomba de 1946 contra o Hotel King David, em Jerusalém, no qual morreram 91 pessoas, foi o primeiro dos expoentes mais francos do supremacismo judaico que continuam governando Israel. Ele foi também o primeiro a invocar rotineiramente Hitler, o Holocausto e a Bíblia enquanto agredia árabes e construía colônias nos territórios ocupados.
Em seus primeiros anos, o Estado de Israel tinha uma relação ambivalente com a Shoah e suas vítimas. O primeiro primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, considerou inicialmente os sobreviventes da Shoah como “detritos humanos”, afirmando que tinham sobrevivido apenas porque tinham sido “maus, duros, egoístas”. Foi o rival de Ben-Gurion, Menachem Begin, um demagogo da Polônia, que transformou o assassinato de seis milhões de judeus numa preocupação nacional intensa e numa nova base para a identidade de Israel. O establishment israelense começou a produzir e a disseminar uma versão muito particular da Shoah que podia ser utilizada para legitimar um sionismo militante e expansionista.
Jean Améry notou a nova retórica e foi categórico quanto às suas consequências destrutivas para os judeus que vivem fora de Israel. O fato de Menachem Begin, “com a Torá no braço e recorrendo a promessas bíblicas”, falar abertamente do roubo de terras palestinas “por si só seria razão suficiente”, escreveu, “para os judeus da diáspora reverem sua relação com Israel”. Jean Améry apelou aos líderes israelenses para que “reconheçam que sua liberdade só pode ser alcançada com seu primo palestino e não contra ele”.
Cinco anos depois, insistindo que os árabes eram os novos nazistas e Yasser Arafat o novo Hitler, Menachem Begin atacou o Líbano. No momento em que Ronald Reagan o acusou de perpetrar um “holocausto” e lhe ordenou que pusesse fim a ele, as Forças de Defesa de Israel tinham matado dezenas de milhares de palestinos e libaneses e destruído grande parte de Beirute. Em seu romance Kapo (1993), o escritor judeu-sérvio Aleksandar Tišma capta a repulsa que muitos sobreviventes da Shoah sentiram diante das imagens que chegavam do Líbano: “Judeus, seus parentes, filhos e netos de contemporâneos seus, antigos prisioneiros dos campos de concentração, estavam de pé em torres de tanques e dirigiam-se, com bandeiras tremulando, através de povoações indefesas, através da carne humana, rasgando-a com balas de metralhadora, reunindo os sobreviventes em campos cercados com arame farpado”.
Primo Levi, que tinha conhecido os horrores de Auschwitz ao mesmo tempo que Jean Améry e que também sentia uma afinidade emocional com o novo Estado judeu, organizou rapidamente uma carta aberta de protesto e deu uma entrevista na qual afirmou que “Israel está caindo rapidamente no isolamento total… Temos que sufocar os impulsos de solidariedade emocional com Israel para raciocinar friamente sobre os erros da atual classe dominante de Israel. Livrarmo-nos dessa classe dominante”.
Em várias obras de ficção e de não-ficção, Primo Levi meditou não apenas sobre o tempo que passou no campo de extermínio e seu legado angustiante e insolúvel, mas também sobre as ameaças sempre presentes à decência e à dignidade humanas. Ficou especialmente irritado com a exploração da Shoah por Menachem Begin. Dois anos depois, argumentou que “o centro de gravidade do mundo judaico deve voltar atrás, deve sair de Israel e regressar à diáspora”.
Dúvidas como as expressas por Jean Améry e Primo Levi são hoje condenadas como grosseiramente antissemitas. Vale a pena lembrar que muitas dessas reavaliações do sionismo e ansiedades sobre a percepção dos judeus no mundo foram incitadas entre os sobreviventes e testemunhas da Shoah pela ocupação israelense do território palestino e por sua nova mitologia manipuladora. Yeshayahu Leibowitz, um teólogo que recebeu o Prêmio Israel em 1993, já alertava em 1969 para a “nazificação” de Israel. Em 1980, o colunista israelense Boaz Evron descreveu cuidadosamente as fases desta corrosão moral: a tática de confundir os palestinos com os nazistas e gritar que outra Shoah era iminente, receava ele, libertaria os israelenses comuns de “quaisquer restrições morais, uma vez que quem está em perigo de aniquilação se vê isento de quaisquer considerações morais que possam restringir seus esforços para se salvar”. Os judeus, escreveu Boaz Evron, poderiam acabar tratando “os não-judeus como sub-humanos” e reproduzindo “atitudes racistas nazistas”.
Boaz Evron também recomendou cautela em relação aos (então novos e fervorosos) apoiadores de Israel na população americana de judeus. Para eles, argumentou, a defesa de Israel tornou-se “necessária devido à perda de qualquer outro ponto focal de sua identidade judaica” – de fato, seu vazio existencial era tão grande, segundo Boaz Evron, que eles não desejavam que Israel se libertasse de sua crescente dependência do apoio judaico-americano.
Precisam sentir-se necessários. Também precisam do “herói israelense” como compensação social e emocional numa sociedade em que o judeu não é normalmente visto como personificando as características do lutador viril e durão. Assim, o israelense fornece ao judeu americano uma imagem dupla e contraditória – o super-homem viril e a vítima potencial do Holocausto –, sendo que ambos elementos estão longe da realidade.
Zygmunt Bauman, o filósofo judeu nascido na Polônia e refugiado do nazismo que passou três anos em Israel na década de 1970, antes de fugir de seu estado de espírito de retidão belicosa, desesperado com aquilo que considerou ser a “privatização” da Shoah por Israel e seus apoiadores. A Shoah passou a ser lembrada, escreveu ele em 1988, “como uma experiência privada dos judeus, como um assunto entre os judeus e aqueles que os odiavam”, mesmo quando as condições que a tornaram possível estavam aparecendo de novo em todo o mundo.
Os sobreviventes da Shoah, que tinham mergulhado, de uma crença serena no humanismo secular, numa insanidade coletiva, intuíram que a violência a que tinham sobrevivido – sem precedentes em sua magnitude – não era uma aberração numa civilização moderna essencialmente sã. Nem podia ser atribuída inteiramente a um preconceito antigo contra os judeus. A tecnologia e a divisão racional do trabalho tinham permitido que as pessoas comuns contribuíssem para atos de extermínio em massa com a consciência tranquila, mesmo com frissons de virtude, e os esforços preventivos contra esses modos impessoais e acessíveis de matar exigiam mais do que a vigilância contra o antissemitismo.
2.
Quando recentemente voltei aos meus livros para preparar este artigo, descobri que já tinha destacado muitas das passagens que cito aqui. No meu diário, há linhas copiadas de George Steiner (“o Estado-nação cheio de armas é uma relíquia amarga, um absurdo no século dos homens amontoados”) e de Abba Eban (“Já é tempo de nos erguermos sobre nossos próprios pés e não sobre os dos seis milhões de mortos”). A maior parte destas anotações remonta à minha primeira visita a Israel e a seus territórios ocupados, quando eu procurava responder, na minha inocência, a duas perguntas desconcertantes: como Israel chegou a exercer um poder tão terrível de vida e de morte sobre uma população de refugiados; e como a política e o jornalismo ocidentais dominantes puderam ignorar, ou mesmo justificar, suas crueldades e injustiças claramente sistemáticas?
Eu tinha crescido absorvendo algo do sionismo reverencial de minha família de nacionalistas hindus de castas superiores na Índia. Tanto o sionismo como o nacionalismo hindu surgiram no final do século XIX a partir de uma experiência de humilhação; muitos de seus ideólogos ansiavam por superar o que consideravam ser uma vergonhosa falta de virilidade entre judeus e hindus. E para os nacionalistas hindus da década de 1970, detratores impotentes do então dominante partido pró-palestino do Congresso, sionistas intransigentes como Menachem Begin, Ariel Sharon e Yitzhak Shamir pareciam ter vencido a corrida para a nacionalidade musculosa. (A inveja está agora fora do armário: os trolls hindus constituem o maior fã clube de Benjamin Netanyahu no mundo).
Lembro-me de ter na minha parede uma fotografia de Moshe Dayan, chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel e ministro da Defesa durante a Guerra dos Seis Dias; e mesmo muito depois que minha paixão infantil pela força bruta se desvaneceu, não deixei de ver Israel da forma como seus líderes, a partir dos anos 1960, começaram a apresentar o país, como a redenção das vítimas da Shoah e uma garantia inabalável contra seu ressurgimento.
Eu sabia quão pouco a situação dos judeus, bodes expiatórios durante o colapso social e econômico da Alemanha nas décadas de 1920 e 1930, tinha sido registrada na consciência dos líderes europeus ocidentais e americanos, que até os sobreviventes da Shoah eram recebidos com frieza e, na Europa do Leste, com novos pogroms. Embora convencido da justiça da causa palestina, para mim, era difícil resistir à lógica sionista: os judeus não podem sobreviver em terras não judaicas e devem ter um Estado próprio. Até me parecia injusto que só Israel, entre todos os países do mundo, tivesse de justificar seu direito à existência.
Não fui ingênuo a ponto de pensar que o sofrimento enobrece ou dá poder às vítimas de uma grande atrocidade para agirem de uma forma moralmente superior. A lição da violência organizada na ex-Iugoslávia, Sudão, Congo, Ruanda, Sri Lanka, Afeganistão e em muitos outros lugares é que as vítimas de ontem podem se tornar os agressores de hoje. Eu ainda estava chocado com o significado sombrio que o Estado israelense retirou da Shoah e que depois institucionalizou numa máquina de repressão. Assassinatos seletivos de palestinos, postos de controle, demolições de casas, roubos de terras, detenções arbitrárias e indefinidas e tortura generalizada nas prisões pareciam proclamar um ethos nacional impiedoso: a humanidade está dividida entre os fortes e os fracos e, por isso, aqueles que foram ou esperam ser vítimas devem esmagar preventivamente seus supostos inimigos.
Apesar de já ter lido Edward Said, fiquei chocado ao descobrir por mim mesmo a forma insidiosa como os apoiadores de alto nível de Israel no Ocidente ocultam a ideologia niilista da sobrevivência do mais forte, reproduzida por todos os regimes israelenses desde o de Begin. É de seu próprio interesse preocuparem-se com os crimes dos ocupantes, ou mesmo com o sofrimento dos despossuídos e desumanizados; mas ambos têm passado sem grande escrutínio na respeitável imprensa do mundo ocidental. Qualquer pessoa que chame a atenção para o espetáculo do compromisso cego de Washington com Israel é acusada de antissemitismo e de ignorar as lições da Shoah. E uma consciência distorcida da Shoah garante que, toda vez que as vítimas de Israel, incapazes de suportar por mais tempo sua miséria, se insurgem contra seus opressores com uma ferocidade previsível, são denunciadas como nazistas, determinadas a perpetrar outra Shoah.
Ao ler e anotar os escritos de Jean Améry, Primo Levi e outros, eu estava tentando, de alguma forma, mitigar o opressivo sentimento de incorreção que sentia depois de ter sido exposto à sombria interpretação israelense da Shoah e aos certificados de elevado mérito moral conferidos ao país por seus aliados ocidentais. Procurava ser tranquilizado por pessoas que tinham conhecido, em seus próprios corpos frágeis, o terror monstruoso infligido a milhões de pessoas por um Estado-nação europeu supostamente civilizado, e que tinham decidido estar perpetuamente em guarda contra a deformação do significado da Shoah e o abuso de sua memória.
3.
Apesar de suas crescentes reservas em relação a Israel, uma classe política e midiática do Ocidente tem eufemizado incessantemente os fatos gritantes da ocupação militar e da anexação descontrolada por demagogos etnonacionais: Israel, diz o refrão, tem o direito, como única democracia do Oriente Médio, de se defender, especialmente de brutos genocidas. Em consequência, as vítimas da barbárie israelense em Gaza não conseguem hoje obter das elites ocidentais sequer um simples reconhecimento de seu calvário, quanto mais uma ajuda.
Nos últimos meses, bilhões de pessoas ao redor do mundo têm assistido a um ataque extraordinário, cujas vítimas, como afirmou Blinne Ní Ghrálaigh, advogada irlandesa e representante da África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, afirmou, “estão transmitindo sua própria destruição em tempo real na esperança desesperada, e até agora vã, de que o mundo possa fazer alguma coisa”.
Mas o mundo, ou mais especificamente o Ocidente, não faz nada. Pior ainda, a liquidação de Gaza, embora descrita e transmitida por seus autores, é diariamente ofuscada, ou até mesmo negada, pelos instrumentos da hegemonia militar e cultural do Ocidente: desde o presidente dos Estados Unidos afirmando que os palestinos são mentirosos e os políticos europeus entoando que Israel tem o direito de se defender, até os prestigiados órgãos de informação que utilizam a voz passiva ao relatarem os massacres perpetrados em Gaza.
Encontramo-nos numa situação sem precedentes. Nunca antes tantos testemunharam um massacre em escala industrial em tempo real. No entanto, a indiferença, a timidez e a censura prevalecentes não permitem, ou mesmo ridicularizam, nosso choque e nossa dor. Muitos de nós, que vimos algumas das imagens e vídeos que chegam de Gaza – aquelas visões do inferno de cadáveres torcidos uns contra os outros e enterrados em valas comuns, os cadáveres menores segurados por pais enlutados, ou deitados no chão em linhas ordenadas – temos silenciosamente enlouquecido nos últimos meses. Cada dia é envenenado pela consciência de que, enquanto vivemos nossas vidas, centenas de pessoas comuns como nós estão sendo assassinadas ou obrigadas a testemunhar o assassinato de suas crianças.
Aqueles que procuram no rosto de Joe Biden algum sinal de misericórdia, algum sinal do fim do derramamento de sangue, encontram uma dureza assustadoramente suave, rompida apenas por um sorrisinho nervoso quando ele diz mentiras israelenses sobre bebês decapitados. A obstinada malícia e crueldade de Joe Biden com os palestinos é apenas um dos muitos enigmas macabros que nos são apresentados por políticos e jornalistas ocidentais.
A Shoah traumatizou pelo menos duas gerações de judeus, e os massacres e a tomada de reféns em Israel, em 7 de outubro, pelo Hamas e outros grupos palestinos, reacenderam o medo do extermínio coletivo entre muitos judeus. Mas ficou claro desde o início que a liderança israelense mais fanática da história não hesitaria em explorar um sentimento generalizado de violação, luto e horror. Teria sido fácil para os líderes ocidentais sufocarem seu impulso de solidariedade incondicional com um regime extremista, reconhecendo simultaneamente a necessidade de perseguir e levar à justiça os culpados dos crimes de guerra de 7 de outubro.
Por que, então, Keir Starmer, um ex-advogado dos direitos humanos, afirmou que Israel tem o direito de “reter energia e água” dos palestinos? Por que a Alemanha começou febrilmente a vender febrilmente mais armas a Israel (e, com seus meios de comunicação desonestos e sua implacável repressão oficial, especialmente contra os artistas e pensadores judeus, deu uma nova lição ao mundo sobre a rápida ascensão do etnonacionalismo assassino naquele país)? O que explica manchetes na BBC e no New York Times como “Hind Rajab, de seis anos, encontrada morta em Gaza dias depois de ter telefonado pedindo ajuda”, “Lágrimas de um pai de Gaza que perdeu 103 familiares” e “Homem morre depois de se incendiar em frente à embaixada israelense em Washington, diz a polícia”? Por que os políticos e jornalistas ocidentais continuam apresentando dezenas de milhares de palestinos mortos e mutilados como danos colaterais, numa guerra de autodefesa imposta ao exército mais moral do mundo, como as Forças de Defesa de Israel afirmam ser?
Para muitas pessoas em todo o mundo, as respostas só podem estar maculadas por uma amargura racial há muito latente. A Palestina, como George Orwell salientou em 1945, é uma “questão de cor”, e é assim que foi inevitavelmente encarada por Gandhi, que implorou aos líderes sionistas que não recorressem ao terrorismo contra os árabes usando armas ocidentais, e pelas nações pós-coloniais, que, praticamente todas, se recusaram a reconhecer o Estado de Israel. Aquilo a que W.E.B. Du Bois chamou o problema central da política internacional – a “linha de cor” – motivou Nelson Mandela quando afirmou que a libertação da África do Sul do apartheid é “incompleta sem a liberdade dos palestinos”.
James Baldwin procurou profanar aquilo a que chamou um “silêncio piedoso” em torno do comportamento de Israel ao afirmar que o Estado judeu, que vendeu armas ao regime de apartheid na África do Sul, encarnava a supremacia branca e não a democracia. Muhammad Ali via a Palestina como um exemplo de grande injustiça racial. O mesmo acontece hoje com os líderes das mais antigas e proeminentes denominações cristãs negras dos Estados Unidos, que acusaram Israel de genocídio e pediram a Joe Biden que acabasse com toda a ajuda financeira e militar ao país.
Em 1967, James Baldwin foi indelicado o suficiente para dizer que o sofrimento do povo judeu “é reconhecido como parte da história moral do mundo” e “isso não vale para os negros”. Em 2024, muito mais pessoas podem constatar que, em comparação com as vítimas judaicas do nazismo, os incontáveis milhões de pessoas consumidas pela escravidão, os numerosos holocaustos do final da era vitoriana na Ásia e na África e os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki são pouco lembrados.
Nos últimos anos, bilhões de não ocidentais foram furiosamente politizados pela calamitosa guerra ao terrorismo do Ocidente pelo “apartheid das vacinas” durante a pandemia e pela hipocrisia descarada em relação ao sofrimento dos ucranianos e dos palestinos; não podem deixar de notar uma versão beligerante da “negação do Holocausto” entre as elites dos antigos países imperialistas, que se recusam a abordar o passado de brutalidade e pilhagem genocida de seus países e se esforçam por deslegitimar qualquer discussão sobre o assunto como “militância” desvairada. As populares narrativas do totalitarismo do tipo “o Ocidente é melhor” continuam ignorando as descrições acuradas do nazismo (feitas por Jawaharlal Nehru e Aimé Césaire, dentre outros assuntos imperialistas) como o “gêmeo” radical do imperialismo ocidental; evitam explorar a ligação óbvia entre os massacres imperialistas dos nativos nas colônias e o terror genocida perpetrado contra os judeus na Europa.
Um dos grandes perigos atuais é o endurecimento da linha de cor como uma nova Linha Maginot. Para a maioria das pessoas fora do Ocidente, cuja experiência primordial da civilização europeia foi a de ser brutalmente colonizada por seus representantes, a Shoah não apareceu como uma atrocidade sem precedentes. Recuperando-se da devastação do imperialismo em seus próprios países, a maioria das pessoas não ocidentais não estava em posição de apreciar a magnitude do horror que o gêmeo radical desse imperialismo infligiu aos judeus na Europa. Assim, quando os líderes israelenses comparam o Hamas aos nazistas e os diplomatas israelenses usam estrelas amarelas na ONU, seu público é quase exclusivamente ocidental.
A maior parte do mundo não carrega o fardo da culpa cristã europeia pela Shoah e não considera a criação de Israel como uma necessidade moral para absolver os pecados dos europeus do século XX. Há mais de sete décadas que o argumento dos “povos negros” permanece o mesmo: por que os palestinos devem ser desapossados e castigados por crimes de que só os europeus foram cúmplices? E só podem recuar com repugnância diante da afirmação implícita de que Israel tem o direito de massacrar 13 mil crianças, não apenas por uma questão de autodefesa, mas porque é um Estado nascido da Shoah.
Em 2006, Tony Judt já avisava que “o Holocausto já não pode ser instrumentalizado para desculpar o comportamento de Israel”, porque um número crescente de pessoas “simplesmente não consegue compreender como os horrores da última guerra europeia podem ser invocados para autorizar ou tolerar um comportamento inaceitável em outro tempo e lugar”. A “mania de perseguição há muito cultivada por Israel – ‘todos querem capturar-nos’ – já não suscita simpatia”, advertiu, e as profecias do antissemitismo universal correm o risco de “se tornarem uma afirmação que se autocumpre”: “O comportamento imprudente de Israel e a insistente identificação de todas as críticas com o antissemitismo são agora a principal fonte de sentimentos antijudeus na Europa Ocidental e em grande parte da Ásia”.
Os amigos mais devotos de Israel estão hoje inflamando esta situação. Como disse o jornalista e documentarista israelense Yuval Abraham, o “terrível uso indevido” da acusação de antissemitismo pelos alemães esvazia-a de significado e “assim põe em perigo os judeus de todo o mundo”. Joe Biden continua apresentando o argumento traiçoeiro de que a segurança da população de judeus em todo o mundo depende de Israel. Como o colunista do The New York Times, Ezra Klein, disse recentemente, “Sou judeu. Sinto-me mais seguro? Sinto que há menos antissemitismo no mundo neste momento por causa do que está acontecendo lá, ou parece-me que há um enorme aumento do antissemitismo, e que mesmo os judeus em lugares que não são Israel são vulneráveis ao que acontece em Israel?
Este cenário ruinoso foi muito claramente antecipado pelos sobreviventes da Shoah que citei anteriormente, que alertaram para os danos infligidos à memória da Shoah por sua instrumentalização. Zygmunt Bauman avisou repetidamente, depois da década de 1980, que tais táticas de políticos inescrupulosos como Menachem Begin e Benjamin Netanyahu estavam assegurando “um triunfo post-mortem para Hitler, que sonhava em criar um conflito entre os judeus e o mundo inteiro” e “impedir os judeus de terem uma coexistência pacífica com os outros um dia”. Jean Améry, desesperado em seus últimos anos devido ao “antissemitismo crescente”, apelou aos israelenses para que tratassem humanamente até os terroristas palestinos, para que a solidariedade entre os sionistas da diáspora, como ele e Israel não “se tornasse a base de uma comunhão de duas partes condenadas diante da catástrofe”.
A este respeito, não há muito a esperar dos atuais dirigentes de Israel. A descoberta de sua extrema vulnerabilidade face ao Hezbollah, bem como ao Hamas, deveria torná-los mais dispostos a arriscar o compromisso de um acordo de paz. No entanto, com todas as bombas de quase uma tonelada que Joe Biden lhes forneceu, eles procuram loucamente militarizar ainda mais a ocupação da Cisjordânia e de Gaza. Essa autoflagelação é o efeito no longo prazo que Boaz Evron temia quando advertiu contra “a contínua menção do Holocausto, do antissemitismo e do ódio aos judeus em todas as gerações”. “Uma liderança não pode ser separada de sua própria propaganda”, escreveu ele, e a classe dominante de Israel atua como os chefes de uma “seita” que opera “no mundo dos mitos e monstros criados por suas próprias mãos”, “já não sendo capaz de compreender o que está acontecendo no mundo real” ou os “processos históricos nos quais o Estado está envolvido”.
Quarenta e quatro anos depois de Boaz Evron ter escrito isto, é mais claro, também, que os patronos ocidentais de Israel se revelaram os piores inimigos do país, conduzindo seu pupilo cada vez mais para a alucinação. Como disse Boaz Evron, as potências ocidentais atuam contra seus “próprios interesses e aplicam a Israel uma relação preferencial especial, sem que Israel se veja obrigado a retribuir”. Consequentemente, “o tratamento especial dado a Israel, expresso em apoio econômico e político incondicional”, “criou uma redoma econômica e política em torno de Israel, isolando-o das realidades econômicas e políticas globais”.
Benjamin Netanyahu e seus seguidores ameaçam a base da ordem global que foi reconstruída após a revelação dos crimes nazistas. Mesmo antes de Gaza, a Shoah estava perdendo seu lugar central em nossa imaginação do passado e do futuro. É verdade que nenhuma atrocidade histórica foi comemorada de forma tão ampla e abrangente. Mas a cultura da recordação em torno da Shoah já acumulou sua própria longa história. Essa história mostra que a memória da Shoah não apenas surgiu organicamente do que aconteceu entre 1939 e 1945; ela foi construída, muitas vezes de forma muito deliberada, e com objetivos políticos específicos. De fato, um consenso necessário sobre a importância universal da Shoah tem sido posto em perigo pelas pressões ideológicas cada vez mais visíveis exercidas sobre sua memória.
O fato de que o regime nazista alemão e seus colaboradores europeus assassinaram seis milhões de judeus era amplamente conhecido depois de 1945. Mas, durante muitos anos, este fato assombroso teve pouca ressonância política e intelectual. Nas décadas de 1940 e 1950, a Shoah não era vista como uma atrocidade separada das outras atrocidades da guerra: a tentativa de extermínio das populações eslavas, ciganos, deficientes e homossexuais. É claro que a maioria dos povos europeus tinha suas próprias razões para não se debruçar sobre a matança de judeus. Os alemães estavam obcecados com seu próprio trauma de bombardeio e ocupação pelas potências aliadas e com sua expulsão em massa da Europa do Leste.
A França, Polônia, Áustria e Países Baixos, que tinham colaborado com entusiasmo com os nazistas, queriam apresentar-se como parte de uma valente “resistência” ao hitlerismo. Demasiadas recordações indecentes de cumplicidade permaneceram durante muito tempo após o fim da guerra, em 1945. A Alemanha teve um ex-nazista como chanceler e presidente. O presidente francês François Mitterrand tinha sido um apparatchik no regime de Vichy. Em 1992, Kurt Waldheim era presidente da Áustria, apesar de existirem provas de seu envolvimento nas atrocidades cometidas pelos nazistas.
Mesmo nos Estados Unidos, houve “silêncio público e uma espécie de negação estatal em relação ao Holocausto”, como escreve Idith Zertal em Israel’s Holocaust and the Politics of Nationhood (2005). Só muito depois de 1945 é que o Holocausto começou a ser lembrado publicamente. Em Israel, a consciência da Shoah limitou-se durante anos aos seus sobreviventes, que, como é espantoso lembrar agora, foram desprezados pelos líderes do movimento sionista.
Ben-Gurion tinha inicialmente visto a ascensão de Hitler ao poder como “um enorme impulso político e econômico para a empresa sionista”, mas não considerava os detritos humanos dos campos de extermínio de Hitler como material adequado para a construção de um novo e forte Estado judaico. “Tudo o que eles suportaram”, disse Ben-Gurion, “purgou suas almas de todo o bem”. Saul Friedlander, o mais importante historiador da Shoah, que deixou Israel em parte porque não suportava ver a Shoah sendo usada “como pretexto para duras medidas antipalestinas”, lembra em seu livro de memórias, Where Memory Leads (2016), que os acadêmicos inicialmente rejeitaram o assunto, deixando-o para o centro de documentação e memória Yad Vashem.
As atitudes só começaram a mudar com o julgamento de Adolf Eichmann, em 1961. Em The Seventh Million (1993), o historiador israelense Tom Segev relata que Ben-Gurion, acusado por Menachem Begin e outros rivais políticos de insensibilidade com os sobreviventes da Shoah, decidiu encenar uma “catarse nacional” através do julgamento de um criminoso de guerra nazista. Esperava educar os judeus dos países árabes sobre a Shoah e o antissemitismo europeu (nenhum dos quais lhes era familiar) e começar a uni-los aos judeus de ascendência europeia naquilo que parecia ser, muito claramente, uma comunidade imperfeitamente imaginada. Tom Segev prossegue descrevendo a forma como Menachem Begin fez avançar este processo de forjar uma consciência da Shoah entre os judeus de pele mais escura que há muito eram alvo de humilhações racistas por parte do establishment branco do país. Menachem Begin curou suas feridas de classe e raça prometendo-lhes terras palestinas roubadas e um estatuto socioeconômico superior ao dos árabes despossuídos e destituídos.
Esta distribuição dos salários da israelidade coincidiu com a erupção das políticas de identidade entre uma minoria afluente nos EUA. Como Peter Novick esclarece, em detalhe surpreendente, em The Holocaust in American Life (1999), a Shoah “não era assim tão presente” na vida dos judeus americanos até o final da década de 1960. Apenas alguns livros e filmes abordavam o assunto. O filme Julgamento em Nuremberg (1961) incluiu o assassinato em massa de judeus na categoria mais ampla de crimes do nazismo. Em seu ensaio “The Intellectual and Jewish Fate”, publicado na revista judaica Commentary em 1957, Norman Podhoretz, o santo padroeiro dos sionistas neoconservadores na década de 1980, não disse absolutamente nada sobre o Holocausto.
As organizações judaicas, que se tornaram famosas por policiarem a opinião sobre o sionismo, começaram por desencorajar a recordação das vítimas judaicas da Europa. Esforçavam-se por aprender as novas regras do jogo geopolítico. Nas mudanças camaleônicas do início da Guerra Fria, a União Soviética deixou de ser um aliado robusto contra a Alemanha nazista para se tornar um mal totalitário; a Alemanha deixou de ser um mal totalitário para se tornar um aliado robusto e democrático contra o mal totalitário. Assim, o editor da Commentary exortava os judeus americanos a manterem uma “atitude realista em vez de punitiva e recriminatória” em relação à Alemanha, que era agora um pilar da “civilização democrática ocidental”.
Este extenso abuso psicológico por parte dos líderes políticos e intelectuais do mundo livre chocou e amargurou muitos sobreviventes da Shoah. No entanto, naquele momento, eles não eram considerados testemunhas privilegiadas do mundo moderno. Jean Améry, que detestava o “filosemitismo importuno” da Alemanha do pós-guerra, viu-se reduzido a amplificar seus “ressentimentos” privados em ensaios destinados a perturbar a “consciência miserável” dos leitores alemães. Num destes ensaios, descreve uma viagem pela Alemanha em meados da década de 1960.
Enquanto discutia o último romance de Saul Bellow com os novos intelectuais “refinados” do país, não conseguia esquecer os “rostos de pedra” de alemães comuns diante de uma pilha de cadáveres, descobrindo que tinha um novo “rancor” dos alemães e seu lugar exaltado nos “salões majestosos do Ocidente”. A experiência de Jean Améry de “solidão absoluta” diante de seus torturadores da Gestapo tinha destruído sua “confiança no mundo”. Só depois de sua libertação que voltou a conhecer a “compreensão mútua” com o resto da humanidade, pois “aqueles que me tinham torturado e transformado num inseto” pareciam provocar “desprezo”. Mas sua cura pela fé no “equilíbrio da moralidade mundial” foi rapidamente destruída pelo subsequente abraço ocidental à Alemanha e por seu ávido recrutamento de ex-nazistas pelo mundo livre para seu novo “jogo de poder”.
Jean Améry teria se sentido ainda mais traído se tivesse visto o memorando do pessoal do Comitê Judaico Americano em 1951, que lamentava o fato de, “para a maioria dos judeus, o raciocínio sobre a Alemanha e os alemães ainda está envolto em forte emoção”. Novick explica que os judeus americanos, como outros grupos étnicos, estavam ansiosos por evitar a acusação de dupla lealdade e por tirar vantagem das oportunidades dramaticamente em expansão oferecidas pela América do pós-guerra. Tornaram-se mais atentos à presença de Israel durante o julgamento de Eichmann, amplamente divulgado e assombrado por polêmicas, que tornou inescapável o fato dos judeus terem sido os principais alvos e vítimas de Hitler.
Mas foi só depois da Guerra dos Seis Dias, em 1967, e da Guerra do Yom Kippur, em 1973, quando Israel parecia existencialmente ameaçado por seus inimigos árabes, que a Shoah passou a ser amplamente concebida, tanto em Israel como nos Estados Unidos, como o emblema da vulnerabilidade judaica num mundo eternamente hostil. As organizações judaicas começaram a utilizar o lema “Nunca Mais” para fazer lobby por políticas americanas favoráveis a Israel. Os EUA, enfrentando uma derrota humilhante na Ásia Oriental, começaram a ver um Israel aparentemente invencível como um valioso representante no Oriente Médio e iniciaram sua generosa subvenção ao Estado judaico. Por sua vez, a narrativa, promovida por líderes israelenses e grupos sionistas americanos, de que a Shoah era um perigo presente e iminente para os judeus começou a servir de base para a autodefinição coletiva de muitos judeus americanos na década de 1970.
Os judeus americanos eram, nessa altura, o grupo minoritário mais instruído e próspero da América, e eram cada vez mais irreligiosos. Entretanto, na sociedade americana rancorosamente polarizada do final dos anos 1960 e dos anos 1970, quando o sequestro étnico e racial se tornou comum no meio de um sentimento generalizado de desordem e insegurança, e a calamidade histórica se transformou num emblema de identidade e retidão moral, cada vez mais americanos judeus assimilados se filiavam à memória da Shoah e forjavam uma ligação pessoal com um Israel que viam como ameaçado por antissemitas genocidas.
Uma tradição política judaica preocupada com a desigualdade, pobreza, direitos civis, ambientalismo, desarmamento nuclear e anti-imperialismo transformou-se numa tradição caracterizada por uma hiper-atenção à única democracia do Oriente Médio. Nos registros que manteve a partir da década de 1960, o crítico literário Alfred Kazin alterna entre a perplexidade e o desprezo ao traçar os psicodramas de identidade pessoal que ajudaram a criar o círculo de apoiadores mais leal de Israel no estrangeiro:
O atual período de “sucesso” dos judeus será um dia lembrado como uma das maiores ironias… Os judeus apanhados numa armadilha, os judeus assassinados, mas o que é isso! Das cinzas, todo este inevitável lamento e exploração do Holocausto… Israel como a “salvaguarda” dos judeus; o Holocausto como a nossa nova Bíblia, mais do que um Livro de Lamentações.
Alfred Kazin era alérgico ao culto americano de Elie Wiesel, que andava por aí afirmando que a Shoah era incompreensível, incomparável e irrepresentável, e que os palestinos não tinham direito a Jerusalém. Na opinião de Alfred Kazin, “a classe média judaica americana” tinha encontrado em Elie Wiesel um “Jesus do Holocausto”, “um substituto para sua própria vacância religiosa”. A potente política de identidade de uma minoria americana não passou despercebida a Primo Levi durante sua única visita ao país, em 1985, dois anos antes de se suicidar. Ele tinha ficado profundamente perturbado com a cultura de consumo conspícuo do Holocausto em torno de Elie Wiesel (que afirmava ter sido o grande amigo de Primo Levi em Auschwitz; Primo Levi não se lembrava de o ter conhecido) e estava perplexo com a obsessão voyeurista de seus anfitriões americanos por seu judaísmo.
Escrevendo a amigos em Turim, queixou-se de que os americanos tinham “colocado uma estrela de David” nele. Numa conferência no Brooklyn, Primo Levi, quando lhe pediram sua opinião sobre a política do Oriente Médio, começou dizendo que “Israel era um erro em termos históricos”. Seguiu-se um tumulto e o moderador teve que interromper a reunião. Mais tarde, nesse mesmo ano, a Commentary, que já era ruidosamente pró-Israel, encarregou um aspirante neoconservador de 24 anos de lançar ataques venenosos contra Primo Levi. Segundo o próprio Primo Levi admitiu, esta agressão intelectual (amargamente lamentada por seu autor, agora antissionista) ajudou a extinguir sua “vontade de viver”.
A literatura americana recente manifesta mais claramente o paradoxo de que quanto mais remota a Shoah se tornava no tempo, mais ferozmente sua memória era possuída pelas gerações posteriores de judeus americanos. Fiquei chocado com a irreverência com que Isaac Bashevis Singer, nascido em 1904 na Polônia e, em muitos aspectos, o escritor judeu por excelência do século XX, retratou os sobreviventes da Shoah em sua ficção e ridicularizou tanto o Estado de Israel como o ávido filosemitismo dos gentios americanos.
Um romance como Shadows on the Hudson quase parece destinado a provar que a opressão não melhora o caráter moral. Mas escritores judeus muito mais jovens e secularizados do que Singer pareciam demasiado submersos naquilo a que Gillian Rose, em seu ensaio mordaz sobre A Lista de Schindler, chamou “piedade do Holocausto”. Numa resenha ao London Review of Books de The history of love (2005), um romance de Nicole Krauss passado em Israel, na Europa e nos Estados Unidos, James Wood salientou que a autora, nascida em 1974, “procede como se o Holocausto tivesse acontecido ontem”. O judaísmo do romance foi, escreveu James Wood, “deformado em fraudulência e histrionia pela força da identificação de Krauss com ele”. Este “fervor judaico”, que beirava o “minstrelsy”, contrastava fortemente com a obra de Saul Bellow, Norman Mailer e Philip Roth, que “não tinham mostrado grande interesse pela sombra da Shoah”.
Uma filiação obstinada com a Shoah também marcou e diminuiu muito o jornalismo americano sobre Israel. Mais consequentemente, a religião secular-política da Shoah e a identificação excessiva com Israel desde os anos 1970 distorceram fatalmente a política externa do principal patrocinador de Israel, os EUA. Em 1982, pouco antes de Reagan ordenar sem rodeios a Begin que pusesse fim a seu “holocausto” no Líbano, um jovem senador americano que venerava Elie Wiesel como seu grande professor encontrou-se com o primeiro-ministro israelense. No relato atordoado do próprio Menachem Begin sobre o encontro, o senador elogiou o esforço de guerra israelense e gabou-se de que teria ido mais longe, mesmo que isso significasse matar mulheres e crianças. O próprio Menachem Begin foi apanhado de surpresa pelas palavras do futuro presidente dos EUA, Joe Biden. “Não, senhor”, insistiu. “De acordo com nossos valores, é proibido ferir mulheres e crianças, mesmo na guerra… Este é um critério da civilização humana, não ferir civis”.
Um longo período de paz relativa tornou a maioria de nós alheia às calamidades que o precederam. Apenas algumas pessoas vivas hoje podem lembrar da experiência da guerra total que definiu a primeira metade do século XX, as lutas imperialistas e nacionais dentro e fora da Europa, a mobilização ideológica de massas, as erupções do fascismo e do militarismo. Quase meio século dos conflitos mais brutais e das maiores rupturas morais da história expuseram os perigos de um mundo onde não existia qualquer constrangimento religioso ou ético sobre o que os seres humanos podiam fazer ou ousavam fazer. A razão secular e a ciência moderna, que deslocaram e substituíram a religião tradicional, não só revelaram sua incapacidade de legislar sobre a conduta humana; elas estavam implicadas nos novos e eficientes modos de massacre demonstrados por Auschwitz e Hiroshima.
Nas décadas de reconstrução após 1945, tornou-se lentamente possível voltar a acreditar no conceito de sociedade moderna, em suas instituições como uma força inequivocamente civilizadora, em suas leis como uma defesa contra as paixões viciosas. Esta crença provisória foi consagrada e afirmada por uma teologia secular negativa derivada da exposição dos crimes nazistas: Nunca Mais. O próprio imperativo categórico do pós-guerra adquiriu gradualmente forma institucional com a criação de organizações como o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional e de grupos vigilantes dos direitos humanos como a Anistia Internacional ou a Human Rights Watch.
Um dos principais documentos dos anos do pós-guerra, o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, está impregnado do receio de repetir o passado do apocalipse racial da Europa. Nas últimas décadas, à medida que a imaginação utópica de uma ordem socioeconômica melhor se desvanecia, o ideal dos direitos humanos ganhou ainda mais autoridade a partir das memórias do grande mal cometido durante a Shoah.
Desde os espanhóis que lutam por justiça reparadora após longos anos de ditaduras brutais, passando pelos latino-americanos que se movimentam em nome de seus desaparecidos e pelos bósnios que apelam à proteção contra os sérvios responsáveis pela limpeza étnica, até ao pedido coreano de reparação pelas “mulheres de conforto” escravizadas pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, as memórias do sofrimento dos judeus nas mãos dos nazistas são a base sobre a qual se construiu a maior parte das descrições de ideologia e atrocidade extremas e a maior parte dos pedidos de reconhecimento e reparação.
Estas memórias ajudaram a definir as noções de responsabilidade, de culpa coletiva e de crimes contra a humanidade. É verdade que têm sofrido contínuo abuso por parte dos expoentes do humanitarismo militar, que reduzem os direitos humanos ao direito de não ser brutalmente assassinado. E o cinismo alimenta-se mais depressa quando os modos estereotipados de rememoração da Shoah – viagens em tom solene a Auschwitz, seguidas de uma efusiva camaradagem com Benjamin Netanyahu em Jerusalém – se tornam o preço barato do bilhete para a respeitabilidade dos políticos antissemitas, dos agitadores islamofóbicos e de Elon Musk. Ou quando Benjamin Netanyahu concede absolvição moral em troca de apoio a políticos francamente antissemitas da Europa do Leste que procuram continuamente reabilitar os fervorosos carrascos locais de judeus durante a Shoah.
No entanto, na ausência de algo mais eficaz, a Shoah continua sendo indispensável como padrão para avaliar a saúde política e moral das sociedades; sua memória, embora propensa a abusos, ainda pode ser usada para revelar iniquidades mais insidiosas. Quando olho para meus próprios escritos sobre os admiradores antimuçulmanos de Hitler e sua influência maligna sobre a Índia de hoje, fico impressionado com a frequência com que citei a experiência judaica do preconceito para alertar contra a barbárie que se torna possível quando certos tabus são quebrados.
Todos estes pontos de referência universalistas – a Shoah como medida de todos os crimes, o antissemitismo como a forma mais letal de intolerância – correm o risco de desaparecer à medida que o exército israelense massacra e mata de fome os palestinos, arrasa suas casas, escolas, hospitais, mesquitas, igrejas, bombardeia-os em acampamentos cada vez menores, ao mesmo tempo em que denuncia como antissemitas ou defensores do Hamas todos aqueles que lhe pedem que desista, desde as Nações Unidas, a Anistia Internacional e a Human Rights Watch até os governos espanhol, irlandês, brasileiro e sul-africano e o Vaticano.
Israel está hoje dinamitando o edifício de normas globais construído depois de 1945, que tem vacilado desde a catastrófica e ainda impune guerra contra o terrorismo e a guerra revanchista de Vladimir Putin na Ucrânia. A profunda ruptura que sentimos hoje entre o passado e o presente é uma ruptura na história moral do mundo desde o marco zero de 1945 – a história em que a Shoah foi durante muitos anos o acontecimento central e a referência universal.
Há mais terremotos pela frente. Os políticos israelenses decidiram impedir a criação de um Estado palestino. De acordo com uma sondagem recente, a maioria absoluta (88%) dos judeus israelenses considera que o número de vítimas palestinas é justificável. O governo israelense está bloqueando a ajuda humanitária a Gaza. Joe Biden admite agora que seus dependentes israelenses são culpados de “bombardeios indiscriminados”, mas lhes distribui compulsivamente mais e mais equipamento militar. Em 20 de fevereiro, os EUA desprezaram pela terceira vez na ONU o desejo desesperado da maioria do mundo de pôr fim ao banho de sangue em Gaza.
Em 26 de fevereiro, enquanto comia um sorvete, Joe Biden lançou sua própria fantasia, rapidamente abatida tanto por Israel como pelo Hamas, de um cessar-fogo temporário. No Reino Unido, tanto os políticos trabalhistas como os conservadores procuram fórmulas verbais que possam apaziguar a opinião pública e, ao mesmo tempo, dar cobertura moral à carnificina em Gaza. Não parece credível, mas as provas se tornaram esmagadoras: estamos assistindo a uma espécie de colapso do mundo livre.
Ao mesmo tempo, Gaza tornou-se para inúmeras pessoas sem poder a condição essencial da consciência política e ética no século XXI – tal como a Primeira Guerra Mundial foi para uma geração no Ocidente. E, cada vez mais, parece que só aqueles que foram abalados pela consciência da calamidade de Gaza podem resgatar a Shoah de Netanyahu, Biden, Scholz e Sunak e reuniversalizar seu significado moral; só eles podem ser considerados capazes de restaurar aquilo a que Jean Améry chamou o equilíbrio da moralidade mundial. Muitos dos manifestantes que enchem as ruas de suas cidades, semana após semana, não têm qualquer relação imediata com o passado europeu da Shoah.
Julgam Israel por suas ações em Gaza e não por sua exigência de segurança total e permanente, santificada pela Shoah. Conheçam ou não a Shoah, rejeitam a grosseira lição social-darwinista que Israel retira dela – a sobrevivência de um grupo de pessoas à custa de outro. São motivados pelo simples desejo de defender os ideais que pareciam tão universalmente desejáveis depois de 1945: respeito pela liberdade, tolerância em relação à diferença de crenças e de modos de vida; solidariedade com o sofrimento humano; e um sentido de responsabilidade moral para com os fracos e perseguidos. Estes homens e mulheres sabem que, se há alguma lição a ser retirada da Shoah, é “Nunca mais para ninguém”: o slogan dos corajosos jovens ativistas da Jewish Voice for Peace.
É possível que percam. Talvez Israel, com sua psicose sobrevivencialista, não seja a “relíquia amarga” a que George Steiner lhe chamou – pelo contrário, é o presságio do futuro de um mundo falido e exausto. O apoio total a Israel por figuras de extrema-direita como Javier Milei da Argentina e Jair Bolsonaro do Brasil e seu patrocínio por países onde os nacionalistas brancos infectaram a vida política – EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália – sugere que o mundo dos direitos individuais, das fronteiras abertas e do direito internacional está retrocedendo. É possível que Israel consiga efetuar uma limpeza étnica em Gaza, e mesmo na Cisjordânia. Há demasiadas provas de que o arco do universo moral não se inclina para a justiça; os homens poderosos podem fazer com que seus massacres pareçam necessários e corretos. Não é de todo difícil imaginar uma conclusão triunfante para a ofensiva israelense.
O medo de uma derrota catastrófica pesa na mente dos manifestantes que interrompem os discursos de campanha de Joe Biden e são expulsos de sua presença ao som de um coro de “mais quatro anos”. A incredulidade perante o que veem todos os dias nos vídeos de Gaza e o medo de uma brutalidade ainda mais desenfreada perseguem os dissidentes online que diariamente arranham os pilares do quarto poder ocidental por sua intimidade com o poder bruto. Acusando Israel de genocídio, parecem violar deliberadamente a opinião “moderada” e “sensata” que coloca o país, assim como a Shoah, fora da história moderna do expansionismo racista. E provavelmente não persuadem ninguém numa predominante política ocidental endurecida.
Mas o próprio Jean Améry, quando dirigia seus ressentimentos à consciência miserável de seu tempo, “não falava de modo algum com a intenção de convencer; apenas lanço cegamente minha palavra na balança, seja qual for seu peso”. Sentindo-se traído e abandonado pelo mundo livre, expôs seus ressentimentos “para que o crime se torne uma realidade moral para o criminoso, para que ele seja arrastado para a verdade de sua atrocidade”. Os clamorosos acusadores de Israel parecem hoje visar pouco mais do que isso.
Contra os atos de selvageria e a propaganda por omissão e ofuscação, vários milhões proclamam agora, em espaços públicos e nos meios digitais, seus ressentimentos furiosos. Nesse processo, arriscam-se a amargar permanentemente suas vidas. Mas, talvez, sua indignação por si só aliviará, por enquanto, o sentimento palestino de solidão absoluta e contribua, de alguma forma, para redimir a memória da Shoah.
Publicado originalmente no site da London Review of Books.
Tradução: Fernando Lima das Neves.
Pankaj Mishra é ensaísta e romancista. Autor, entre outros livros, de The age of anger: a history of the present (Farrar, Straus, and Giroux).