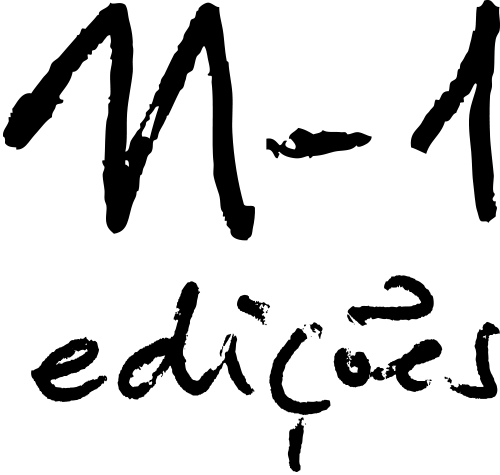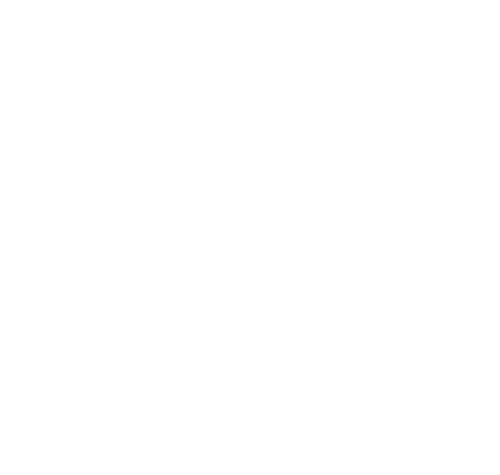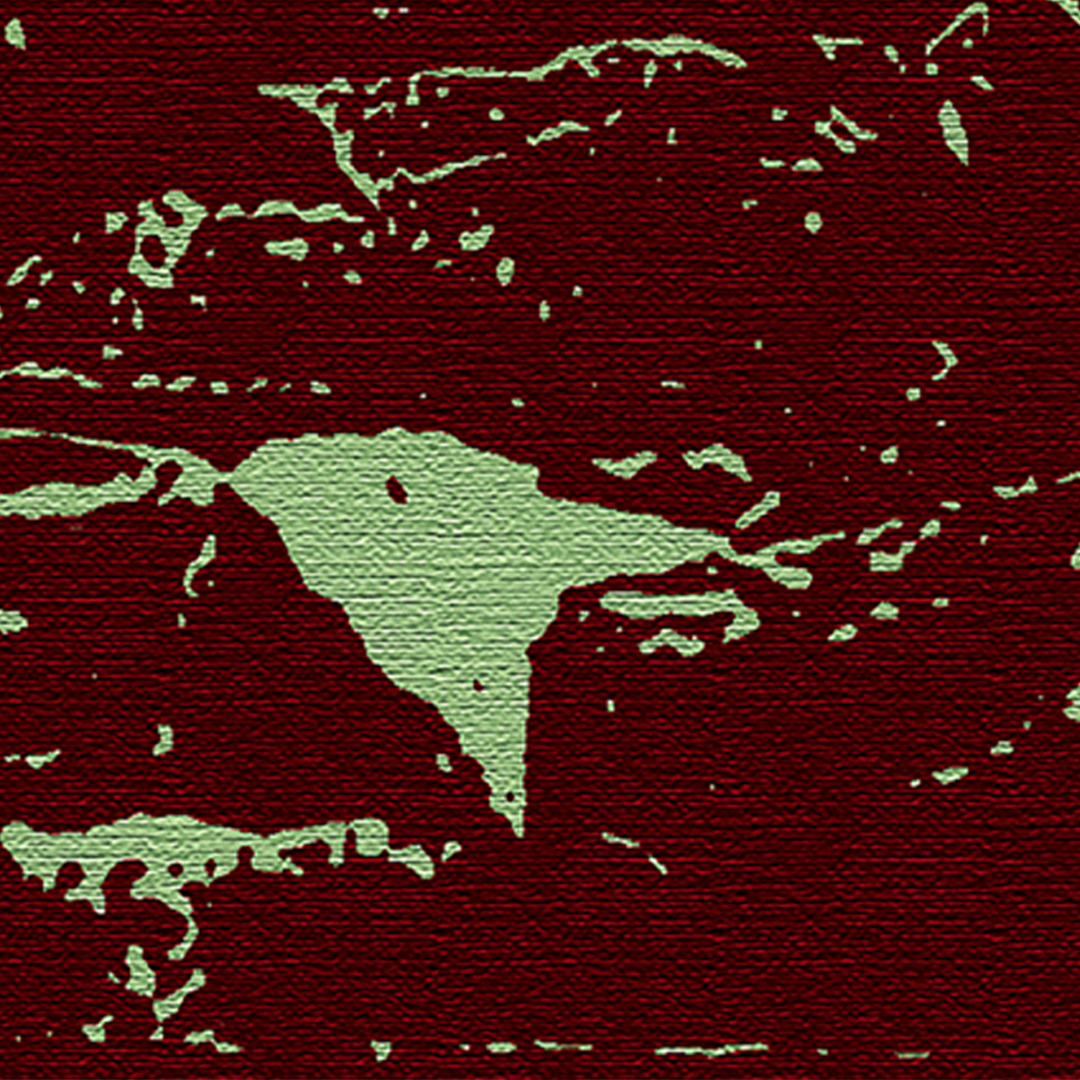
O cristão pós-cristão (Henry Burnett)
1.
Por um golpe de sorte aconteceu de estar em Portugal no dia 25 de abril de 2024, quando se comemoraram os cinquenta anos da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura salazarista em 1974. Fui à praça do Comércio na noite do dia 24, à espera da virada – se percebi bem, uma ocasião mais importante para os portugueses do que a noite de 31/12. Não poderia descrever todas as sensações que me atravessaram quando a orquestra tocou “Tanto mar”, de Chico Buarque, depois de executar as canções mais importantes do levante; de fato “foi bonita a festa, pá, fiquei contente”. Agradeci silenciosamente o privilégio de assistir as celebrações de perto, de sentir a atmosfera de liberdade que o 25 de abril produz ainda hoje no país.
Meses antes, desembarquei em Lisboa sob uma enxurrada de notícias sobre a xenofobia de alguns portugueses contra brasileiros, com vídeos onde se via, por exemplo, uma senhora distinta gritando a uma brasileira: “Sou portuguesa de raça, vá pra sua terra”. Logo na chegada, em uma das primeiras conversas, ouvi de outra senhora distinta um conselho sobre onde matricular meus filhos, pois deveria “tomar cuidado com aquele escola, porque há muitos negros e ciganos”. Lamentava estas e outras, mas pensava: quem sou eu para condenar intolerância e racismo chegando do Brasil.
Fui por outro caminho, sondei colegas intelectuais (reduto do bom senso, não é mesmo?). De primeira ouvi que era preciso relativizar, “porque só ler os jornais do Brasil pode gerar uma compreensão equivocada, porque há muitos brasileiros cá [demais, entenda-se], veja também nosso lado, não é fácil”. Num almoço amistoso, quando discutíamos questões decoloniais e eu falava dos museus portugueses dedicados ao “descobrimento”, com sua insistente glorificação do passado e dos atos heroicos dos navegadores, veio nova pancada: “não se esqueça que quando chegamos em África eles já se escravizavam sem nossa intervenção, não é bem assim” – um argumento comum na direita brasileira repetido por uma amiga que adoro, sobretudo porque nossa amizade está fundada na música. Sem vontade de contra-argumentar, silenciava, um tanto cansado. Veio então a cereja do bolo: um outdoor do Partido Chega com uma foto de André Ventura sorrindo como uma Monalisa e a palavra LIMPEZA em destaque.

Se perguntarmos, obviamente nos explicariam que a palavra se referia aos adversários políticos, mas, como toda boa propaganda, é a mensagem subliminar que fala mais alto no inconsciente coletivo – até porque o partido tem na anti-imigração uma de suas bandeiras mais fortes, apoiada por muitos brasileiros que já possuem autorização de residência e acham a “invasão brasileira” absurda. A palavra LIMPEZA, sejamos firmes, não descarta uma sugestão de limpeza étnica, ainda que Ventura (ainda) não possa dizer isso com todas as letras, porque (ainda) posa de democrático, seja lá o que a democracia (ainda) signifique. Um dos cabos eleitorais de Ventura é o ex-presidente Jair Bolsonaro, que lhe enviou um vídeo de apoio tosco – com perdão do pleonasmo. Como é possível que um país celebre com tamanha euforia sua democracia socialista (resultado longevo da revolução até a recente vitória da centro-direita), sob a sombra do Chega, e ao mesmo tempo caminhe a passos largos para um novo fechamento de fronteiras ou coisa que o valha? Ou que considere justo preservar algo “autenticamente português” num país tão miscigenado? A entrevista de Grada Kilomba ao “Roda Viva” confirmou minha angústia e aumentou minha admiração por ela.
Uma das cenas que mais me marcou na festa do 25 de abril foi a presença de militares de alta patente celebrando a democracia na área VIP do concerto. Seu papel, como se sabe, foi fundamental para a revolução, que tem entre suas peculiaridades o fato de não ter sido uma revolução comunista, ou puramente de esquerda, mas uma revolução cívico-militar.
A Revolução de 25 de Abril derrubou o salazarismo e deu início à implantação de um regime democrático no país. Foi liderada por um vasto grupo, composto por civis, exilados, políticos, artistas, intelectuais, profissionais do próprio Estado ditatorial e, diferentemente da maioria das revoluções, militares. Os militares, em sua maioria capitães ligados à esquerda portuguesa, se revoltaram contra as guerras de independência nas colônias portuguesas na África.¹
Militares aliados à democracia me deram a clara impressão de que não somos apenas “dois países separados pela mesma língua”, mas historicamente distintos, apesar do passado que nos une.
Minha presença aqui, neste momento, como disse, é um caso da sorte, poderia estar na Índia, na Hungria, nos EUA, na Itália, em diversos países, e começar este texto a partir de outra perspectiva, interligada com o que podemos chamar de um movimento internacional – em que muitos países deram uma guinada à direita do espectro político com pautas comuns (tomadas as devidas diferenças): família, religião, moral, propriedade, xenofobia e afins. Completando o quadro caótico, leio um editorial do Estadão saudando um intelectual claramente progressista, que precisa se defender do elogio do jornalão. Motivo: Francisco Bosco registrara uma concordância com o finado Olavo de Carvalho sobre a presença de autores predominantemente de esquerda nas universidades públicas brasileiras – uma bola rolando na pequena área sem goleiro para a direita brasileira. O que poderia ser um bom mote de discussão vira mais um lance de maniqueísmo. Um bom tema, sobre o qual gostaria de dizer algo, mas não neste texto. O tema aqui é outro.
A convulsão de todos esses fatos me desnorteia, não sei o que pensar, o que escrever ou qual será meu próximo projeto de pesquisa. Tudo está embaçado, embora sinta, ou me conforme em acreditar, que estou do lado certo da história. Mas… de que serve uma autocompreensão a esta altura do campeonato? No máximo como resignação, já que toda crítica diante de uma marcha firme do mundo em direção à nova barbárie parece inócua. Ou quase inócua.
Nesse meio-tempo, escrevendo sobre Nietzsche, Wagner, Bayreuth e Proust, recebo uma visita. Paro por uma semana as atividades diárias de leitura e escrita para ciceronear um amigo que chega de longe para duas conferências, em Lisboa e Madri – esta última (vale a nota pessoal) era o meu destino original neste pós-doc, antes de receber um impedimento legal de solicitação de um visto para a Espanha junto com minha família, pois não possuía vínculo empregatício com a Universidade Complutense de Madri, apesar de o projeto ter sido aprovado pela Fapesp e o financiamento estar liberado. Sim, como pesquisador fui impedido de permanecer seis meses em Madri com bolsa da Fapesp, prova de que o mundo vai se fechando de maneiras inusuais.
Na mala de mão esse amigo trouxe o livro O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia, de Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, o primeiro “se pretende um judeu pós-judeu”, o segundo define-se como “israelense, ativista, cético e pessimista”, como lemos na orelha. Abri o livro entre curioso e displicente e fui sugado a ponto de obrigar meu amigo a viajar sem ele para Madri, com a promessa de ler em uma semana. Não consegui fazer mais nada, dias e dias ininterruptos. Avisei por mensagem que ele viajaria ao Brasil sem o livro; tomei posse por usocapião e me juntei a este grupo por conta dessa leitura e da escrita obsessiva motivada por ela.
2.
Não foram muitos os livros que marcaram minha graduação em filosofia. Um deles ainda possuo, quase se desmanchando, Mito e realidade, de Mircea Eliade. Aqui o primeiro e inesquecível parágrafo lido nos primeiros meses do curso:
Há mais de meio século, os eruditos ocidentais passaram a estudar o mito por uma perspectiva que contrasta sensivelmente com a do século xix, por exemplo. Ao invés de tratar, como seus predecessores, o mito na acepção usual do termo, i. e., como “fábula”, “invenção”, “ficção”, eles o aceitaram tal qual era compreendido pelas sociedades arcaicas, onde o mito designa, ao contrário, uma “história verdadeira” e, ademais, extremamente preciosa por seu caráter sagrado, exemplar e significativo. Mas esse novo valor semântico conferido ao vocábulo “mito” torna o seu emprego na linguagem um tanto equívoco. De fato, a palavra é hoje empregada tanto no sentido de “ficção” ou “ilusão”, como no sentido – familiar sobretudo aos etnólogos, sociólogos e historiadores de religiões – de “tradição sagrada, revelação primordial, modelo exemplar”.²
É uma bela definição de mito; uma criação não estanque, plural, por vezes antitética. Sobretudo aprendemos com Eliade que o mito tem uma função. Hoje podemos dizer que tal função depende de quem o cria, o vivencia, o propaga, ou, no limite, o manipula. Existe desde sempre, nunca esteve ausente no elenco das experiências humanas. O mito é como um fio condutor da humanidade. Não existe mito sem humanidade e jamais poderia existir humanidade sem mito. Encontra-se vilipendiado de tantas maneiras que seria impossível tratar um a um cada caso. Volto alguns anos antes do primeiro contato com a obra de Eliade, à qual se juntavam leituras naquela altura essenciais sobre o tema, de Jean-Pierre Vernant a Nicole Loraux.
Por razões não muito claras, psicanaliticamente falando, tenho uma afeição especial pela hermenêutica Bíblia. As tentativas de conversão familiar ao catolicismo, todas rejeitadas com o tempo, ironicamente, tiveram sua cota nisso, pois acabaram produzindo um leitor atento, mas ateu, do Antigo e do Novo Testamento, dos estudos bíblicos clássicos e recentes, de Santo Agostinho etc.; disso resultou a aquisição de diversas edições e traduções, desde a prestigiosa Bíblia de Jerusalém até a recente tradução de Frederico Lourenço, a Bíblia de Lutero em uma edição alemã, sem falar nos presentes zelosos que minha mãe seguiu me oferecendo vida afora; sua esperança de fazer de mim um padre nunca morreu. Contudo, por pudor e insegurança nunca escrevi nenhuma linha sobre essas leituras. Até hoje.
A primeira aula que recebi sobre exegese bíblica foi em uma das salas do Ipar, o Instituto de Pastoral Regional, que ficava na ladeira do Forte do Castelo, na mesma sala onde alguns anos depois entraria pela primeira vez como professor de filosofia. O curso sobre o Evangelho de Mateus foi oferecido pelo padre Luís Mosconi. Eu devia ter entre dezessete e dezoito anos e ganhei a vaga através da paróquia onde minha mãe atuava e cantava nas missas, no bairro da Pedreira, em Belém. Eu era o músico que a acompanhava, e ela talvez tenha mexido os pauzinhos pela minha indicação.
No primeiro dia, sem dizer uma palavra, Mosconi pendurou um mapa do Oriente Médio no tempo de Jesus. Pegou alfinetes e marcou dois pontos distantes. Abriu a Bíblia e leu dois trechos do Novo Testamento que retratavam a mesma cena, um em Mateus e o outro em Lucas. O caderno onde tomei notas sobre o curso se perdeu, mas sua intenção naquele dia não. Terminada a leitura dos trechos, levantou e mostrou que cada evangelista indicava o mesmo ato de Jesus em locais diferentes, e muitos afastados um do outro. Então disse que “cada um indicava seus locais de origem como referência, ou seja, não sabemos onde estava Jesus exatamente”, e arrematou, “o mais importante é que essa informação histórica não tem a menor importância, o que precisamos é aprender a interpretar o que Ele nos diz”. Acompanhei o curso deslumbrado. Um universo intelectual se abria em uma “simples” sala de aula, centrado em um único livro, ainda que fosse a Bíblia. Tudo que veio depois ecoava, de algum modo, aquela primeira aula inteiramente livre sobre os textos sagrados.
Não foram poucas as vezes que lembrei de Luís Mosconi ao longo das últimas décadas, mas nos últimos anos sua primeira lição reverbera como algo distante e impraticável, como se fosse impossível para a maioria das pessoas simplesmente pensar, que dirá interpretar. Por isso, a coragem de Peter Pelbart e Bentzi Laor chegou até mim como uma lição de destemor e rigor hermenêutico, como se eu entrasse em outra sala de aula novamente pela primeira vez. Quero aproveitar esta via, a exegética, para pensar sobre esses dois momentos em que fui confrontado com o texto bíblico. O que é fundamental não é o fato de ter sido colocado frente a leituras esclarecidas, conscientes do teor mítico e ao mesmo tempo histórico da narração, leituras movidas por um impulso humanista de integração dos povos em todas as suas diferenças mas, finalmente, de que são pessoas com uma visão ecumênica universal. Gostaria de chamar atenção para o fato de que, no mundo que habitamos hoje, Mosconi, Pelbart e Laor deveriam estar em fronts opostos, deveriam defender suas posições por antagonismo, em chave maniqueísta, que tudo deveria se movimentar com uma clara intenção de vencer o debate a partir da afirmação do “seu” Deus, que, por acaso, é o mesmo; supondo que acreditem em Deus, claro.
Nós, que estudamos o antes e o depois do nazifascismo através dos textos filosóficos, mais do que propriamente através dos livros de história, no meu caso lendo Wagner, Nietzsche, Adorno, Benjamin, Kafka, Hannah Arendt, Agamben, Mbembe, Foucault, Gagnebin, entre outros, sem falar no monumental trabalho editorial de Jacó Guinsburg, conhecemos razoavelmente as questões que estavam em jogo na pré-ascensão do nazismo ao poder na Alemanha, sobre o período de sua ação efetiva e funesta e as consequências e reverberações de seu modus operandi sobre a política internacional no pós-guerra, do colonialismo que lhe antecipou vários procedimentos e dos seus “restos” [Agamben] desde 1945 até agora e adiante – sim, porque ele nunca deixou de habitar o mundo e tem mostrado grande capacidade de renovação.
Em função dessas leituras, podemos dizer que temos uma visão razoável sobre o judaísmo, a diáspora, o antissemitismo, a criação do estado de Israel e temas afins. Essa falsa certeza, no meu caso, desabou em parte ao ler O judeu pós-judeu. A quantidade de elementos movimentados em pouco mais de duzentas páginas impressiona. Mas isso não diz quase nada sobre a experiência de ler o livro, nem quero nem tentar comentá-lo exaustivamente. Minha ambição, não menos complicada, é pensar a interpretação dos textos sagrados da tradição judaico-cristã que orienta um dos núcleos do livro: a dimensão religiosa do conflito Israel-Palestina que parou o mundo.
O livro faz uma pergunta – talvez a mais importante entre tantas levantadas nele, e que envolvem hipóteses sobre o passado, mas, principalmente, proposições para o presente e um almejado futuro. A questão: “Como o elemento étnico ganhou tamanha primazia na relação dos judeus com os gentios, na diáspora, e dos israelenses com os palestinos, em Israel?”³. Para tentar respondê-la “foi preciso repensar”, dizem os autores. Mas repensar o quê? Toda a história do judaísmo? É o que o livro corajosamente propõe a partir de sete pontos. Vou me fixar em um. “O mito da continuidade étnica e religiosa do ‘povo judeu’”⁴, tema que reverbera em meu próprio exercício como leitor da Bíblia, sempre confrontado com a ideia da “religião verdadeira”, isso é, a prerrogativa do catolicismo, que pressupõe ser o caminho correto e único entre as centenas de subdivisões que resultaram do cristianismo histórico⁵, afinal, aqui o argumento, foi o próprio Jesus quem estabeleceu as bases da igreja apostólica romana ao atribuir a Pedro uma responsabilidade secular. “Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha Igreja, e as portas do Inferno nunca prevalecerão contra ela.”⁶ Não é o caso de fazer uma exegese desta passagem ao modo do padre Antônio Vieira, não teria competência e nem é o caso aqui. Católicos e alguns dos chamados evangélicos se digladiam há muito tentando provar o sim e o não dessa tese. Entrar na querela seria ir na direção contrária ao que O judeu pós-judeu propõe: implodir as bases míticas da centralização religiosa; e eu diria: venha ela de onde vier.
Lembro de partir do mais elementar em minhas discussões familiares. Como era possível que religiões irmãs, com idêntica origem, e, tomadas as diferenças documentais, leitoras dos mesmos textos fundadores – me refiro aos textos comuns do Antigo Testamento –, pudessem simplesmente voltar as costas uma à outra? Responder a isso parece razoavelmente simples quando pensamos no nascimento do cristianismo, na tarefa de Paulo – judeu convertido à boa-nova do nazareno –, nas primeiras seitas cristãs etc.; faríamos uma releitura de Ernest Renan, de Nietzsche etc., tudo dentro de uma cada vez mais distante análise histórico-filosófica, rica, imagética e multifacetada.
O que se seguiu ao momento da cisão é que a vertente cristã dominou o mundo quase ostensivamente, por bem ou por mal, perpetrou incontáveis atos de violência seja contra os judeus, seja contra africanos e indígenas, derramando muito sangue ao longo da sua história em nome da perpetuação de seu poder e centralidade, aliada ou não a impérios e governos. Uma história fartamente conhecida e sabiamente esquecida por quem professa a fé hoje, embora muitos teólogos sigam, como Mosconi, evangelizando sem temer as contradições e paradoxos que atravessam a história da Igreja Católica. Se entrarmos no tema da colaboração com o colonialismo ibérico este texto viraria um livro. O que diferencia o judaísmo e o cristianismo do ponto de vista histórico, textual, mítico etc., torna-se banal frente ao que agora os iguala: a violência. Quantas vezes estacava quando lia “tradição judaico-cristã” como se falássemos de uma coexistência entre matrizes divergentes e respeitosas; pela ótica do livro, concluo que elas se fundem, unidas pelo lado nefasto de seus radicalismos.
Vamos ser sinceros, as guerras e conflitos religiosos são alguns dos acontecimentos mais letais da história da humanidade, mas o fanático religioso se alimenta dessas diferenças, brande a espada contra os “falsos religiosos” do outro lado, sua vida não faria muito sentido sem isso; fé, mesmo para mim que a perdi, é uma coisa muito diferente. Parecem cada vez mais raras as pessoas que sentem a fé como um sentimento de elevação e conexão com seus deuses e deusas. Por isso, quero crer que entendo qualquer tipo de temor e de comprometimento, da parte de leitores e intelectuais, ao se depararem com passagens como esta, “o que seria do antissemita sem um judeu para odiar? O que seria do judeu sem um antissemita contra o qual brandir seu eterno sofrimento, compondo assim o núcleo da sua própria identidade? Haveria como desfazer essa mútua dependência, essa aliança macabra?”⁷. Não é preciso apenas conhecer profundamente a história do judaísmo, como os autores, é preciso ter coragem para tomar uma posição firme diante do descalabro que se tornou a reação israelense após o atentado do Hamas. Mas, atenção, não se trata de um texto de ocasião, de uma intervenção num jornal semanal, considero O judeu pós-judeu um dos livros mais importantes sobre o tema, e não temo pesar a mão ao sugerir que ele ainda possa se tornar uma referência, quiçá um clássico dos estudos sobre religião e política.
Não sendo um especialista no conflito, penso que a máquina bélica de Israel atua com um propósito muito claro. A meu ver o Hamas deu uma chance única a Netanyahu e aos radicais israelenses de perpetrar o extermínio étnico dos palestinos servindo-se de um motivo que julgavam inatacável pela comunidade internacional, e a única reação possível diante das críticas é justamente o contra-argumento do antissemitismo, já que a retaliação e suposta eliminação do Hamas não se justifica há meses. O antissemitismo é um escudo utilizado da maneira mais desonesta que já se viu até hoje, pois o atual conflito pode ser considerado único pela sua singularidade; vingança sangrenta é seu mote. É por isso que o conteúdo histórico do livro, complementar à análise crítica, vai suscitar diversas formas de repulsa, sobretudo por parte dos que se sentem representados pelo sionismo, esquadrinhado desde sua origem até sua forma de atuação recente. São muitas as lições dessa obra. Com ela aprendi que talvez seja um cristão pós-cristão.
Questões ingênuas que nunca pronunciei encontraram no livro impressionante reverberação. Sempre me perguntei, já que não podia perguntar a ninguém, por que para as pessoas fanáticas o mito religioso era tratado de modo literal, enquanto todos os mitos eram, para eles mesmos, mera ficção, como as lendas; por que Zeus era pensado como invenção de velhos livros e Deus uma entidade que paira em um recôndito lugar do universo, de onde nos mira? Uma pergunta de criança, mas que reencontrei elaborada assim. “Um cidadão grego, em nossos dias, não se ofenderia caso fosse questionado se os gregos de hoje são os continuadores de Péricles, Sócrates e Platão. E provavelmente sorriria, caso perguntassem se Hércules foi um personagem histórico verdadeiro.” E arrematam que “os judeus sempre foram um caso diferente. A presença constante do passado é inseparável do discurso do presente, que reverbera em cada judeu e impede uma reflexão crítica isenta de sentimentalismo solidário, o que é inconscientemente bloqueado como se fosse uma heresia”⁸.
Deixo aos bons leitores o mergulho numa espiral histórico-crítica extremamente bem elaborada, que ousa colocar abaixo dogmas intocáveis, e que pode auxiliar nossas reflexões não apenas sobre o caso dos judeus, mas de toda leitura rasa que movimenta as hordas da bancada evangélica – com sua utilização miserável dos textos bíblicos –, do catolicismo amedrontado pelos números e sustentado por uma moralidade contradita reiteradamente por casos de pedofilia, todos silenciando covardemente diante das violações corriqueiras que incluem até assassinatos de líderes religiosos de matriz africana, numa cruzada fundamentalista que dá base ao que há de pior no fascismo contemporâneo: a aliança entre a religião e o Estado. Não consegui ler o livro sem que o tema da intolerância religiosa viesse todo tempo à tona. Nesse sentido, é verdade que a opção foi retornar ao básico, afinal, como negar que a maioria das pessoas que professa sua fé necessita de uma reeducação filológica? (Re)aprender a ler, o livro também conduz a isto. Colocar convicções em xeque, eis o maior convite dos autores.
Do Pentateuco [a Torá] até Os protocolos dos sábios de Sião, a ambição do livro é refazer um caminho, menos que esgotar as possibilidades de ler e interpretar a Bíblia, até porque nada indica que seja possível retornar do ponto em que chegamos; a mitificação e o messianismo retornaram com força nesses começos do século xxi e mostram-se cada vez mais organizados e firmes nos seus propósitos dominadores. É fascinante percorrer os mitos de fundação do judaísmo, enfrentar as questões arqueológicas, as crenças inabaláveis, mostrar enfim que “Os mitos são uma parte integral das narrativas étnicas, nacionais e religiosas”⁹. No fundo de tudo, resta a mim a impressão de que os católicos se voltam ao Novo Testamento pelo mesmo motivo e com o mesmo fanatismo que os judeus seguem lendo o Antigo como uma carta do tempo, que precisam ser realizados como um programa, mesmo que ao custo de uma cegueira completa sobre os limites historiográficos e geográficos da biblioteca que são as dezenas de livros que compõem a Bíblia, com suas diferenças, alegorias, parábolas e mitos.
Não bastasse o monumental trabalho de releitura crítica de alguns dos textos que formam o cânone judaico, o livro não se furta em fazer proposições para o futuro das relações internacionais que Israel e os judeus diaspóricos podem/devem buscar construir a partir de agora. É aqui onde o livro assume uma postura política nítida. E não se trata, é bom que se diga, de um movimento autocentrado, mas de um conjunto de proposições em diálogo com diversos autores e autoras, sobretudo contemporâneos, de Freud a Edward Said, de Deleuze a Judith Butler, de Imre Kertész a Fanon e além. Imagino que o livro tenda a ser defenestrado nos círculos judaicos tradicionais. Quem ousaria perguntar se “não seria possível ‘desligar’ o judeu diaspórico de sua dependência tóxica do Estado de Israel?” ou “Pode um judeu desligar-se da religião judaica e conectar-se com outra fé, sem deixar de se sentir judeu?”¹⁰.
De todas as revelações e de toda potência que emanam do livro, uma é a mais surpreendente para mim: a reverberação da hipótese de Julien Pallota. “Quanto à diáspora, como deixar de desejar que, em algum momento, a aspiração predominante deixe de ser a reunião do povo na terra santa, e adotar uma espécie de internacionalismo cosmopolítico?”¹¹. Um diasporismo? Duvidei inicialmente da relação inusitada desta tese com outro livro, mas está lá, para minha surpresa e não sem um riso nervoso de canto de boca. Se algum leitor acreditava que Philip Roth era o grande “traidor dos judeus”, como é visto muitas vezes por setores tradicionais, talvez seja surpreendido ao chegar ao final de O judeu pós-judeu tendo que constatar a antevisão política do escritor. Deixo um trecho de um dos seus romances, um pequeno alívio “irônico” para um tempo sem destino.
O diasporismo tem como objetivo a dispersão dos judeus no Ocidente, sobretudo o reassentamento de judeus israelenses de origem europeia nos países europeus onde havia população judaica considerável antes da Segunda Guerra Mundial. O diasporismo planeja reconstruir tudo, não num Oriente Médio estranho e ameaçador, mas nos próprios locais onde tudo floresceu outrora, e ao mesmo tempo busca evitar a catástrofe de um segundo Holocausto, causado pela exaustão do sionismo como força política e ideológica. O sionismo decidiu restaurar a vida judaica e a língua hebraica num lugar onde nenhuma das duas existiu em nenhum nível de verdadeira vitalidade durante quase dois milênios. O sonho do diasporismo é mais modesto: um simples meio século é tudo que nos separa do que Hitler destruiu. Se os recursos judaicos puderam concretizar os objetivos aparentemente fantásticos do sionismo em menos de cinquenta anos, agora que o sionismo se mostra contraproducente e, em si mesmo, o principal problema judaico, não tenho dúvida de que os recursos dos judeus do mundo podem realizar as metas do diasporismo em metade, se não em um décimo, do tempo¹².
_______________________________________________________________________
1-Alice Elias, “50 anos da Revolução dos Cravos”, publicado no site da FFLCH/USP. Disponível em: t.ly/W-CBT.
2-Mircea Eliade, Mito e realidade, São Paulo: Perspectiva, 1972.
3-Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2024, p. 8.
4-Ibid., p. 9.
5-O livro de Juliano Spyer, Povo de Deus: quem são os evangélicos e por que eles importam (São Paulo: Geração Editorial, 2020) é um livro recente sobre o tema da presença evangélica na vida social brasileira, e traz uma interessante tabela com essas subdivisões que mencionei desde a Reforma Protestante até o ano 2000.
6-Mateus 16:18 (citado a partir da Bíblia de Jerusalém. São Paulo: Paulus.)
7-Peter Pál Pelbart e Bentzi Laor, O judeu pós-judeu: judaicidade e etnocracia. São Paulo: n-1, 2024, pp. 15-16.
8-Ibid., p. 50.
9-Ibid., p. 61.
10-Ibid., pp. 211-212.
11-Julien Pallota, Por uma internacional cosmopolita. São Paulo: n-1 edições, 2024, p. 215.
12-Excerto de Philip Roth, Operação Shylock: uma confissão. Apple Books.
Henry Burnett é compositor e professor titular do Departamento de Filosofia da Unifesp. Publicou os livros Espelho musical do mundo (PHI, 2021), Meio-dia (7letras, 2021), Música só: uma travessia filosófica entre a Europa e o Brasil (Edusp, 2024, no prelo), entre outros, além de diversos artigos e ensaios em periódicos especializados e revistas.