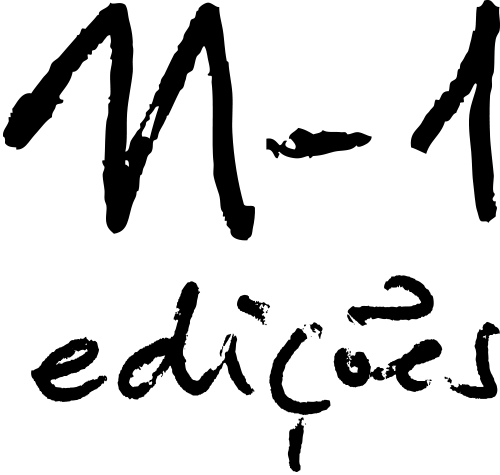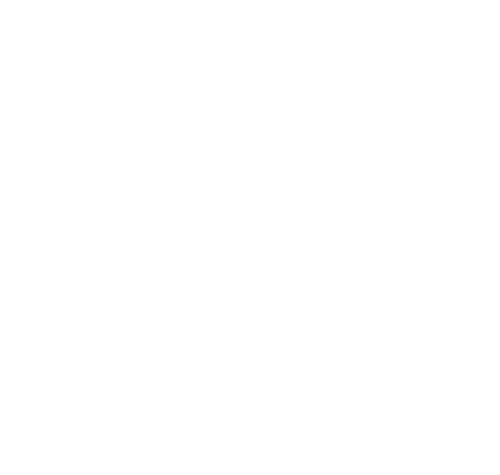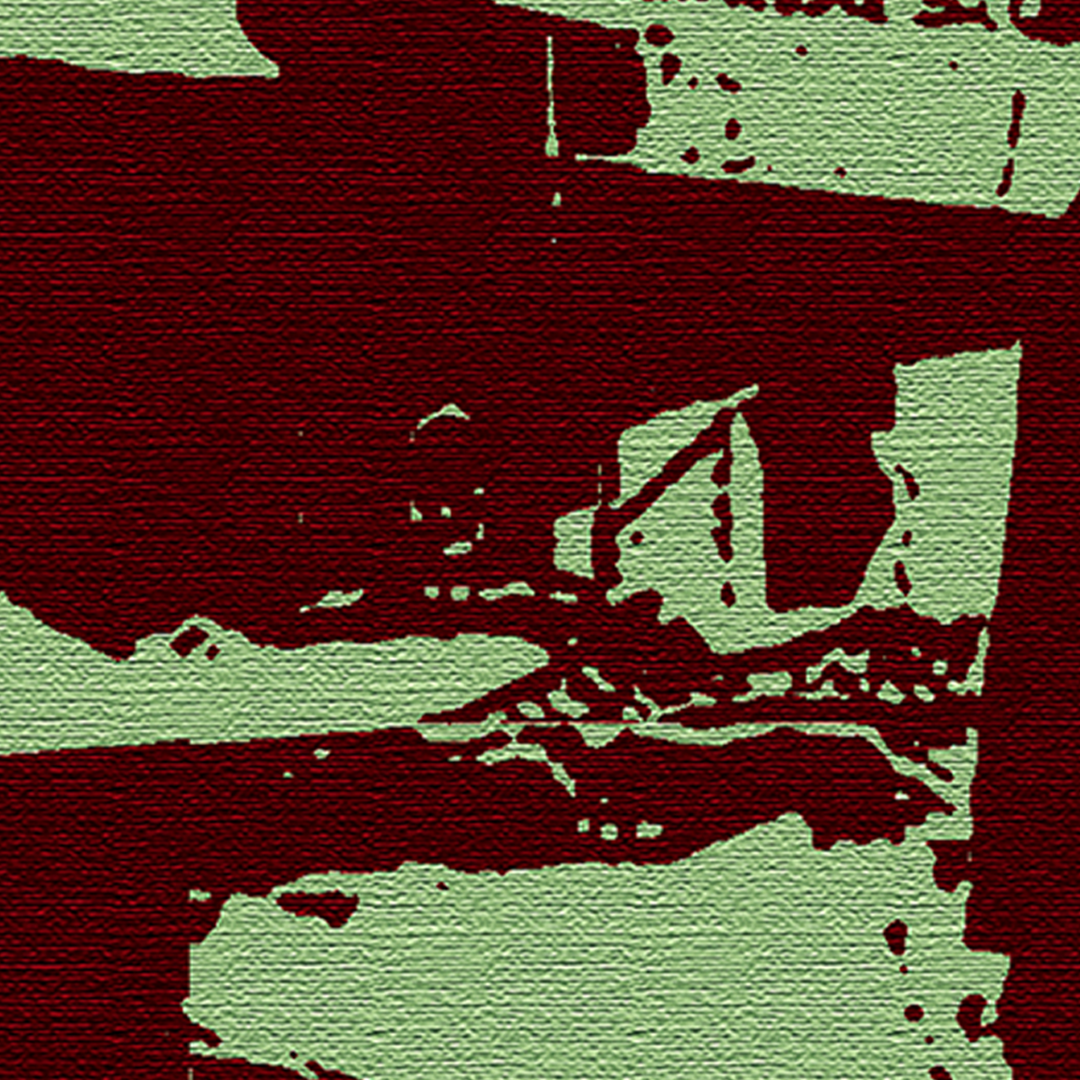
Nada de novo sob o sol colonial! (capítulo de livro de Maurizio Lazzarato)
Ninguém coloniza inocentemente, ninguém coloniza impunemente; uma nação que coloniza, uma nação que justifica a colonização – portanto, o uso da força – já é uma civilização doente, uma civilização moralmente afetada, que, irresistivelmente, de consequência em consequência, de negação em negação, pede seu Hitler, quero dizer, seu castigo.
Aimé Césaire
Numa guerra de libertação o povo colonizado deve vencer, mas ele deve fazê-lo sem “barbárie” (…) O povo subdesenvolvido é obrigado, se não quiser ser condenado moralmente pelas “nações ocidentais”, a praticar o fair-play, enquanto seu adversário se aventura, com a consciência em paz, na descoberta ilimitada de novos meios de terror.
Franz Fanon
Se compreender é impossível, saber é necessário, pois o que aconteceu pode voltar a acontecer, as consciências podem ser seduzidas e obnubiladas: as nossas também.
Primo Levi
As revoluções anticoloniais do século 19/20 puseram fim à ocupação territorial dos impérios coloniais europeus. No entanto, o colonialismo não desapareceu, e se exerce sob novas formas – monetárias, financeiras, industriais, tecnológicas. A força, a expropriação e o roubo, embora desterritorializados, continuam eficazes, talvez mais do que os dispositivos clássicos de apropriação colonial em curso desde 1942: um neocolonialismo ainda mais rapina.
No mundo de hoje só resta um caso de colonização de povoamento exercida diretamente sobre um território e um povo: o de Israel. A Palestina e os palestinos estão submetidos a um colonialismo inteiramente político, não há qualquer razão econômica para ocupar a Palestina e dominar os palestinos, apenas a vontade de ampliar o “Estado dos judeus”, tal como estipula a lei fundamental votada pela Knesset em 2018.
Não se podem aplicar à condição palestina, à sua luta e à sua resistência as categorias utilizadas pela mídia ocidental, pois se trata precisamente de uma situação colonial. Não se pode falar de uma relação entre Estados soberanos, mas entre um Estado colonizador dotado de um exército regular e uma população colonizada vivendo num território ocupado – sem Estado nem exército. A realidade da condição colonial dos palestinos é completamente ocultada pelo governo israelense, por uma boa parte da sociedade e pelas democracias ocidentais, mas, como sempre, o que é recalcado retorna com uma violência redobrada.
Parece até que anos atrás os militares israelenses leram Mil platôs, a fim de adaptar sua estratégia à irregularidade e à imprevisibilidade da guerrilha palestina. Uma leitura atenta de Frantz Fanon, de quem teriam muito a aprender ainda hoje, poderia ter sido mais útil – sua análise político-clínica das subjetividades do colonizador e do colonizado permanece inigualável. Se as classes políticas ocidentais e árabes, engajadas na negociação dos “Acordos de Abrãao”, a tivessem lido e sobre ela refletido, certamente não teriam caído na ingenuidade de considerar que os colonizados marginalizados no espaço político e midiático ocidental seriam integrados e acabariam interiorizando sua “inferioridade”. É ilusório aspirar à pacificação do Oriente Médio sem levar em conta a colonização da Palestina.
O indígena é um ser encurralado, o apartheid é uma modalidade da divisão do mundo colonial em compartimentos. A primeira coisa que o indígena aprende é permanecer no lugar e não ultrapassar os limites. Por isso os sonhos do indígena são sonhos musculares, sonhos de ação, sonhos agressivos […] Frente à situação colonial, o colonizado se encontra num estado de tensão permanente. O mundo do colono é um mundo hostil. […] Mas no fundo de si mesmo, o colonizado não reconhece nenhuma instância. Ele está dominado, mas não domesticado. Está inferiorizado, mas não convencido de sua inferioridade. Espera pacientemente que o colono descuide de sua vigilância para saltar sobre ele. Em seus músculos, o colonizado sempre está em atitude de expectativa. Não se pode dizer que esteja inquieto, aterrorizado. Na realidade, sempre está prestes a abandonar seu papel de presa para assumir o de caçador. O colonizado é um perseguido que sonha permanentemente em como se transformar num perseguidor.
As subjetividades do colonizador e do colonizado comunicam, elas se contaminam, sobretudo pela violência “absoluta” que o primeiro introduz e exerce sobre a pele dos indígenas. Sartre, instruído por Fanon, o compreendeu bem: “Como não reconhecer na ferocidade desses camponeses oprimidos a ferocidade dos colonizadores, que eles absorveram por todos os poros e da qual não conseguem se livrar?”.
Essa violência “absoluta” foi exportada ao mundo primeiro pela Europa, depois pelos Estados Unidos: “A barbárie da Europa ocidental é imensa, superada apenas, mas de longe, por uma única: a estadunidense”, diz o poeta Aimé Césaire. Nas condições da colonização, só a violência conta, comenta Fanon: “O colonialismo não é uma máquina de pensar, não é um corpo dotado de razão. Ele é a violência no estado de natureza e não pode inclinar-se senão diante de uma violência ainda maior”.
Enquanto persistir a colonização, enquanto durar a ocupação colonial, não será possível uma solução política, pois em situações coloniais sempre há um lado “sobrando”, seja o do colonizador, seja o do colonizado. Não há alternativa viável a menos que se ponha fim à condição imposta aos palestinos – de exilados, aprisionados, subjugados e humilhados em sua própria terra.
“A zona habitada pelos colonizados não é complementar à zona habitada pelos colonos. Estas duas zonas se opõem, mas não em favor de uma unidade superior. Regidas por uma lógica puramente aristotélica, elas obedecem ao princípio de exclusão recíproca: não há conciliação possível, um dos termos está sobrando.” A maldade, a brutalidade e a violência ilimitadas estão inscritas na própria relação colonial.
A situação na Palestina é uma prova a mais disso. As forças de resistência palestinas, como o Hamas, têm por objetivo a destruição do Estado de Israel e desejam jogar os judeus israelenses ao mar. Contudo, elas não dispõem nem dos meios nem das alianças necessárias para tanto. O que configura uma aspiração ilusória para os palestinos é, ao contrário, uma realidade implementada dia após dia, ano após ano por Israel. Ele pode expulsar os palestinos da Palestina graças a seu exército, o mais poderoso da região, e graças às suas alianças militares e políticas com os Estados Unidos. Na prática são os israelenses que cotidianamente, com seus colonos armados, implementam a palavra de ordem “do rio ao mar” – uma acusação atribuída pelos ocidentais aos palestinos. Alguns dias antes do 7 de outubro, num discurso nas Nações Unidas, Netanyahu explicava a reorganização do Oriente Médio na esteira dos Acordos de Abrãao, e mostrou um mapa em que a Cisjordânia tinha desaparecido, ilustrando perfeitamente a ambição de Israel.
Há décadas, e não só desde o governo Netanyahu, a ocupação de terras pelos colonos prossegue inexoravelmente, constituindo um processo de limpeza étnica sob os olhos de todas as democracias zelosas pelos direitos humanos. O último ato desse processo consiste na expulsão da população de Gaza, depois de sua destruição.
A violência extrema
A mídia e a opinião pública do Ocidente ficaram escandalizadas pela violência do 7 de outubro. A hipocrisia do colonizador transforma a violência exercida em violência sofrida e se enxerga como vítima. Na realidade, no regime colonial a brutalidade pode explodir a qualquer momento. A condição colonial e a violência inaudita em que ela implica, regularmente reproduzida entre colonos e colonizados na Palestina, podem ser ilustradas pelo seguinte artigo de Marx escrito para o New York Tribune em 26 de setembro de 1857, onde ele relata a rebelião dos trabalhadores indianos contra a Companhia Britânica das Índias Orientais.
As violências cometidas pelos Sepoys na Índia são verdadeiramente atrozes, monstruosas, indizíveis (…) Mesmo na catástrofe presente, seria um erro imperdoável atribuir aos Sepoys o monopólio da crueldade e à outra parte o da caridade. As cartas dos oficiais ingleses transpiram malignidade (…) Naturalmente, para a sensibilidade europeia as horríveis mutilações infligidas pelos Sepoys (o corte do nariz, dos seios etc.) são piores que o lançamento de projéteis inflamados sobre as casas de Cantão por um secretário da Sociedade da Paz de Manchester ou do que o açougueiro de árabes empilhados nas cavernas sob as ordens de um marechal francês [na Argélia], ou que qualquer outro instrumento filantrópico utilizado nas penitenciárias britânicas (…) Quanto a encontrar paralelos às atrocidades dos rebeldes, não é preciso remontar à Idade Média, como diz a imprensa londrina, nem sair da história contemporânea da Inglaterra. Basta estudar a primeira guerra do ópio: um acontecimento de ontem, por assim dizer. Ali, a soldadesca britânica cometia horrores unicamente pelo prazer de os cometer (…) O estupro, a execução de crianças pelas baionetas, o incêndio das cidades eram um divertimento gratuito, contado pelos próprios oficiais e funcionários ingleses, não pelos mandarins.
Como se pode constatar, as coisas não mudaram muito de lá para cá.
Um genocídio menor no final do século xix na África nos relembra a natureza da violência colonial: os alemães desembarcam na atual Namíbia, ocupam o país, se apossam das terras e dos recursos e tratam os Hereros que ali vivem como animais, os desumanizam. Em 1904, os indígenas se rebelam, massacram soldados e colonos, cortando narizes e orelhas e mutilando os mortos e feridos. Com quinze mil homens, o general Lothar Von Trotha conduz uma guerra de dois meses que culmina no massacre dos Hereros. A ordem oficial de extermínio e de destruição total (Vernichtungsbefehl) do general Von Trotha está assim formulada: “No interior das fronteiras alemãs todo herero, com ou sem armas, com ou sem gado, será abatido. Não aceitarei nem mulheres nem crianças, eu os reenviarei ao seu povo ou os deixarei serem massacrados”. As tropas alemãs os cercam por três lados e só lhes deixam uma saída: o deserto.
Nada de novo sob o sol colonial!
Essa é a regra estabelecida pela muito civilizada Jus publicum europaeum: a guerra é regulamentada entre Estados ocidentais, mas nas colônias a violência cega, feroz e sem limites está autorizada. Relações entre Estados são regidas pelo direito, mesmo o direito de guerra; ao contrário, nas colônias vige a ausência de qualquer direito ou qualquer regra. Habeas corpus de um lado, ausência total de outro.
O Jus publicum europaeum não existe mais, porém, se aplica sempre, de fato, a Israel, que não reconhece outro direito senão o da força armada e se sente legitimado a massacrar os colonizados exatamente como os aborígenes, os indianos, os Herero, os árabes, os sul-africanos foram reduzidos a meros “animais, bestas ferozes”, como diz ainda hoje o governo democrático de Israel.
O problema não é só o de não cair na armadilha das elites midiáticas e políticas que gostariam de fazer dos colonizadores as vítimas dos colonizados, mas de pôr fim à relação colonizador-colonizado, elemento absolutamente fundamental da exploração do homem pelo homem, da mulher pelo homem. A responsabilidade pela violência se encontra nas relações e naqueles que as implementaram.
Essa violência constitui a face velada e inconfessável da democracia e do direito e emerge necessária e regularmente no período de acumulação primitiva. A “violência absoluta” que a relação colonial contém pode igualmente ser expressa pela anedota de Alain Badiou sobre o antigo teorema subjetivo da impassibilidade dos chineses:
Conheço antigos colonos cujo pesadelo era a calma regular de seu servidor, sua adesão perfeita e sem atrito com o sistema racista da servidão. Eles continuavam convencidos, com razão, que ao primeiro sinal (…) este homem digno, este excelente cozinheiro, este apaixonado pelas crianças, descarregariam sobre eles, em pleno peito, as balas de uma artilharia habitualmente reservada à caça matinal do cavalheiro (afinal, esse maldito homem carregava diligentemente a caça e o lanche).
O critério que rege a diferença entre a civilização e um mundo bárbaro e atrasado, que confunde política e religião, é a democracia e o patriarcado. Os regimes ocidentais utilizam este último de maneira instrumental: a democracia teria civilizado a relação de poder homem/mulher, fazendo-a desaparecer, signo de nossa superioridade com relação às sociedades do Sul, onde o patriarcado coexiste com o autoritarismo político, o fundamentalismo e as ditaduras. O patriarcado, não obstante, é transversal ao Norte e ao Sul, e nem a democracia nem o capitalismo o eliminaram. Ele persiste em toda relação de poder em todas as partes do mundo – não é exclusividade do mundo islâmico, como nos quer fazer crer a habitual hipótese do choque de civilizações.
As revoluções do século xx feriram mortalmente o colonialismo, mas não o dizimaram. Na persistência obstinada do que parecia pertencer ao passado, a mídia ressuscitou e amplificou o velho orientalismo da cultura europeia. Os brancos se atribuem uma identidade em contraste com os não brancos, essa humanidade considerada violenta, não civilizada e hierarquicamente inferior, pois não conhece a racionalidade instrumental, emblema do Ocidente sobre o qual ele construiu sua dominação planetária. É evidente no uso da força: os palestinos matam degolando, mutilando, são bárbaros pavorosos, ao passo que os israelenses, como bons ocidentais, praticam o massacre, o extermínio, o genocídio de maneira racional, aplicando rigorosamente a razão. As milhares de bombas fornecidas pelos Estados Unidos e lançadas por Israel são guiadas pela inteligência artificial, de modo que os civis assassinados são parte de um cálculo que minimiza as perdas: “Nada acontece por acaso, explica um oficial, quando uma menina de três anos é morta numa casa de Gaza é porque alguém no exército decidiu que não era grave matá-la, era o preço a pagar para atingir um outro alvo. Não somos o Hamas. Não se trata de mísseis lançados ao acaso. Tudo é intencional. Sabemos exatamente quantos danos colaterais há em cada casa”.
Os israelenses aplicam hoje aos palestinos a racionalidade instrumental encarnada pela produção industrial da morte sofrida pelos judeus ontem. Sete antigos oficiais dos serviços de inteligência (críticos com relação à utilização da inteligência artificial), interrogados pela mídia israelo-palestina de esquerda “+972”, comparam o processo algorítmico a uma “fábrica de assassinatos em massa”. O exército mais moral do mundo conjuga violência armada e fome, sem nenhum escrúpulo.
O que não se quer (ou não se pode) ver
Nós nos apaixonamos pelo que fazíamos com os palestinos a ponto de nos acostumarmos. Quando você luta numa guerra contra um rival que é inferior em todos os sentidos, você pode perder um soldado aqui, outro ali, mas você continua no controle total. É bonito fingir que se está combatendo numa guerra quando na realidade não se está em perigo.
General de brigada Shimon Naveh
Com frequência nos perguntamos por que os massacres, extermínios em massa e genocídios, como os dos indianos, dos aborígenes, dos colonizados ou dos judeus, todos perpetrados pela Europa civilizada e pelas potências capitalistas, puderam passam “desapercebidos”, mas hoje as democracias ocidentais estão totalmente cegas diante de sua reprodução na Palestina.
Ver não é um simples reflexo de uma realidade “objetiva”. Ver, antes de ser uma questão perceptiva e fisiológica, é uma ação “política”. Não se vê com os olhos, mas com os desejos, os interesses, as expectativas, os projetos. No capitalismo, e com mais razão no colonialismo, vê-se através da divisão, e, portanto, se veem coisas diferentes conforme a posição que se ocupa na divisão do trabalho e do poder (capitalista-operário, colonizador-colonizado, homem-mulher): um “ver” que prefiro chamar não situado, mas partisan.¹ O olhar é sempre partisan, porque está sempre condicionado pelos fios ideológicos e materiais, é sempre questão de ponto de vista da resistência que seleciona o que deve ser retido e o que se deve excluir. Mesmo uma pessoa dotada de razão, como Donatella di Cesare, cuja profissão de filósofa deveria conduzir a cultivá-la, nós a ouvimos gritar que o apartheid não existe numa grande nação como Israel, que tem como única mácula um governo corrupto.² O espírito crítico, afinado por séculos de sutileza metafísica, orgulho da Europa, pode evaporar em um único instante. Não é a primeira vez que isso acontece, e está sempre vinculado a uma escolha política.
Com efeito, a ilusão de que a filosofia é o amor da sabedoria, do conhecimento e da razão foi desmascarada por Nietzsche, que contra Espinosa afirmava: o conhecimento e a razão não são uma superação das paixões, dos afetos, das forças inconscientes que agem em nós, mas um produto de seu conflito. Espinosa opunha intelligere (compreender, conhecer) à ridere, lugere et detestare (rir, deplorar, detestar), pois só quando se aplacam estes últimos é que os primeiros podem se produzir. Nietzsche afirma não só que isso não é verdade, mas que é exatamente o contrário do que acontece. É porque as paixões se enfrentaram, entraram em conflito, que o conhecimento pode aparecer. Na formação da razão o decisivo não é a necessidade de conhecer, mas de esquematizar, simplificar, reduzir, abstrair; necessidade de lutar, de impor-se, de dominar as coisas e os outros, e não de conhecer abstratamente. A razão e o conhecimento são expressões da vontade de potência, mais do que do amor da sabedoria, do conhecimento ou da verdade. Vemos com os olhos da vontade de potência, não com os da fisiologia ou da razão.
É assim o caso de Habermas, que, depois de ter colocado em evidência os limites da razão instrumental e de ter acreditado no seu ultrapassamento por uma teoria da ação comunicativa e da racionalidade discursiva, considera que a lógica do consenso linguístico não pode funcionar para povos como os palestinos, que se entregam ao massacre. A ação comunicativa, assim como a instrumental, é uma vontade de potência e funciona como tal no genocídio contemporâneo. Exprime a vontade de dominar, de conquistar, de vencer – herdeiros nisso do pior da tradição cultural de uma Europa exsangue. A advertência de Adorno ressoa ainda hoje: “Auschwitz demonstrou de maneira irrefutável o fracasso da cultura […] mas também que qualquer cultura depois de Auschwitz é um lixo”.
A cultura se eleva à sua quintessência de “lixo” quando circula pelas redes midiáticas high-tech, verdadeiros esgotos, para legitimar um novo genocídio, ou quando se refugia silenciosa e temerosa nas universidades esperando tempos melhores para exibir sua erudição inútil e inofensiva.
Quando a Escola de Frankfurt não produzia “democratas para o abate” do tipo Habermas, com Benjamin e Horkheimer, afirmava a identidade entre a cultura europeia e a barbárie. Uma vez mais isso se confirma. Como o diz o poeta Aimé Césaire: “O colonizado tem uma vantagem sobre o colonizador, ele sabe que seu opressor mente”.
O Estado da África do Sul, apoiado nos conhecimentos adquiridos durante o apartheid, acusou Israel de genocídio diante do Tribunal Internacional, e lançou vários desafios aos Estados e à classe política ocidental. Denunciou frente ao mundo inteiro a hipocrisia de seus princípios e critérios de superioridade moral e política, contestou a ordem internacional imposta pelo aliado mais poderoso de Israel, os Estados Unidos, desafiou a memória branca dominada pela Shoá e trouxe à tona a série de genocídios da colonização – lembrando à consciência muito seletiva do mundo ocidental o seu número, a quantidade espantosa de vítimas e os muitos séculos ao longo dos quais eles foram perpetrados impunemente.
Mesmo uma minoria da opinião pública ocidental, sobretudo nos Estados Unidos, sabe que os “colonizadores” mentem. Não será fácil fazer aceitar esse massacre como uma legítima defesa de Israel. A guerra civil que se manifesta hoje como divisão da opinião pública mundial corre o risco de se transformar em divisão política nos próximos anos, com consequências imprevisíveis. Se o governo americano ainda tinha a esperança de atrair uma parte do Sul como “aliado” na guerra da Ucrânia, a questão palestina endureceu as posições, apagando essa possibilidade. O jogo midiático, no qual Hamas e Putin desempenham o papel de agressores do Ocidente, enquanto o Ocidente aparece como vítima inocente, ao lado das imagens de violência sem precedentes conduzidas pelas potências democráticas (qualificadas de “civilizadoras”), não funciona. Que a opinião pública transforme seu desacordo em força política é outro problema urgente, pois o poder só compreende a força.
Só as revoluções anticoloniais mudaram o clima político no qual a Europa estava mergulhada por séculos, ao reverter a diferença estabelecida entre os “selvagens” e a “civilização europeia”. Terminadas as revoluções, os estereótipos coloniais ressurgiram com força na figura dos imigrantes ou dos cidadãos de fé islâmica.
Os desejos, os interesses e os projetos políticos que favorecem o massacre (através de um covarde bombardeio contra dois milhões de pessoas indefesas) são múltiplos. Em ordem decrescente: Israel representa a evolução antidemocrática que as sociedades ocidentais praticam, mas que se recusam a reconhecer; é a vanguarda, o pioneiro na experimentação das técnicas, estratégias e dispositivos de uma “guerra contra a população”, que se desenvolve desde os anos 1970, e que pode testar sua eficácia ilimitada contra os palestinos, sem qualquer lei ou norma, exatamente como os europeus e os estadunidenses fizeram por séculos com outros indígenas, com outros “nativos”; Israel está no centro do que Balibar chamou com acuidade, depois do fim do colonialismo histórico, de “colonização do centro”, tornando-se um posto avançado e uma sentinela da “colonização generalizada”.
A etnicização do Estado
Mesmo de um ponto de vista formal, Israel não é uma democracia – ou, melhor, não é mais democrática que as democracias ocidentais. Nos anos 1980, a fórmula “Estado judeu e democrático” significava que não havia Estado judeu sem democracia e que só havia democracia em Israel no âmbito de um Estado judeu. Em 2018, uma nova lei fundamental foi votada, afirmando a natureza judaica do Estado de Israel. A exclusão do termo “democrático” tem por função discriminar e hierarquizar os cidadãos. O parágrafo (c) do artigo 1o da lei afirma pela primeira vez que “o povo judeu é o único a poder exercer o direito à autodeterminação nacional no Estado de Israel”. Os judeus, que representam três quartos da população, são os proprietários do Estado, enquanto os árabes, mais de um quinto da população, e as outras minorias não possuem tal privilégio e só têm direitos individuais.
Na época, o presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald S. Lauder, antigo amigo íntimo de Netanyahu, tinha qualificado a nova lei de “destrutiva”, pois repudiava os valores universalistas da cultura judaica e colocava em xeque a primazia de Israel como a “única democracia do Oriente Médio”. O que colocava em risco a ligação entre a diáspora (não só dos Estados Unidos) e o Estado-nação judeu, “privando Israel da retaguarda estratégica da qual ele tanto necessita”.
Pode-se definir como democrática uma lei que contraria o princípio de igualdade entre todos os cidadãos? “O mal é mais antigo, não começa com os governos de extrema direita.” Desde 1967, o Estado israelense produziu quatro tipos de regimes jurídicos diferentes que vigoram para a comunidade palestina: um para os palestinos que têm a cidadania israelense; outro para os palestinos de Jerusalém; um terceiro, que é o da lei militar e ao qual estão submetidos os palestinos de Gaza e da Cisjordânia; e, por fim, um conjunto de regras que visam impedir o retorno dos palestinos que vivem fora do controle israelense. Israel pratica a detenção administrativa de milhares de palestinos sem que o detido seja informado das acusações que pesam sobre ele, portanto, sem possibilidade de processo. Também guarda cadáveres como reféns, pois se recusa a devolver às famílias para os respectivos funerais trezentos corpos de palestinos.
Nelson Mandela notava que em Israel a propriedade estava submetida a um regime duplo, que não datava do atual governo fascista:
Se você olhar os territórios ocupados em 1967, constatará que existem dois regimes jurídicos diferentes, que representam duas abordagens da vida humana: uma para as vidas palestinas, outra para as vidas israelenses. Existem igualmente duas abordagens diferentes da propriedade da terra. A propriedade palestina não é reconhecida como uma propriedade privada porque pode ser confiscada.
O que se pode observar nos Estados europeus e ocidentais são exatamente progressão e intensificação da discriminação racial. Eles não têm coragem de reconhecer, mas suas ações são ditadas pela mesma lógica: o Estado é o Estado dos italianos, dos britânicos, dos franceses etc. (“Primeiro os italianos”, “Os franceses em primeiro lugar”, “Os ingleses antes de tudo” – eis os slogans brandidos pela extrema direita desde os anos 1980, e tornados hoje patrimônios de todos). As políticas de preferência nacional não visam só aos imigrantes, mas também aos cidadãos europeus de origem não ocidental, em particular os muçulmanos. A França de Macron, histericamente favorável a Israel, na verdade considera os milhões de muçulmanos, legalmente franceses, como cidadãos de segunda classe. Desde os anos 1980 o Estado busca a hierarquização de seus cidadãos através de leis como a do véu, que dizem respeito única e exclusivamente à religião muçulmana.
Os democratas dinamarqueses, membros de uma Europa altamente “civilizada”, tiveram a coragem de adotar as técnicas discriminatórias de Israel. O governo dinamarquês, primeiro liberal, depois social-democrata, introduziu na lei um conceito incrivelmente racista de “não ocidental” (uma pessoa que, mesmo tendo nascido na Dinamarca, só tem um genitor “ocidental”). A cada ano, os bairros pobres habitados por “não ocidentais”, verdadeiros guetos, são alvos de revistas policiais e objetos de segregação racial. Seus habitantes são penalizados de maneira mais pesada pelos mesmos delitos do que os “verdadeiros cidadãos dinamarqueses”, e as crianças “não ocidentais” devem, depois do primeiro ano, passar trinta horas obrigatórias por semana no jardim de infância para assimilar os “valores dinamarqueses”. É uma vitória total para a extrema direita, que nem precisa chegar ao poder para ver suas ideias implementadas, elas já são adotadas pelos democratas. O que Israel pratica há décadas foi progressivamente retomado pelas democracias em declínio. O governo Macron, com o voto da direita e da extrema direita, insere pela primeira vez a “preferência nacional” numa lei que antes era um modelo universal proveniente da “pátria dos direitos do homem”. A palavra de ordem dos fascistas e xenófobos está inscrita na gestão dos direitos sociais, avançando uma etapa suplementar na impossibilidade de distinguir as democracias ocidentais das “autocracias”. Essa direita liberal social-democrata parece tornar-se hegemônica, pois, contrariamente aos populismos mais grosseiros, pretende-se liberal no plano da “moral” (sobre o aborto, as minorias sexuais etc.), concentrando seu ódio de classe na implementação de uma política de rejeição à imigração e de integração forçada dos não ocidentais.
O governo italiano assinou um protocolo com a Albânia que prevê a construção de um campo de concentração para os imigrantes. Segundo os termos da neofascista Meloni: “O acordo determina que a Albânia dará à Itália a possibilidade de utilizar certas zonas do território albanês para construir, por sua conta, sob sua própria jurisdição, duas instalações ou centros de gestão dos imigrantes clandestinos”. Praticamente uma Guantánamo para imigrantes. As tecnologias israelenses e os dispositivos de controle testados na pele dos palestinos serão bem-vindos.
A colonização generalizada
A cumplicidade com Israel é política, e não simplesmente ideológica, pois cada Estado, sobretudo europeu, tem seus imigrantes, seus muçulmanos, seus cidadãos de origem não ocidental, seu Sul sobre o qual pode exercer suas políticas racistas. Trata-se de uma segregação suave comparada ao apartheid dos palestinos, mas a lógica é a mesma.
A solidariedade obsessiva, cega e incondicional do Ocidente com o racismo de Israel tem razões estruturais muito profundas. Para compreendê-las, é preciso levar a sério os conceitos de “hipótese colonial generalizada” e de “colonização do centro”, propostas por Étienne Balibar: “Quando o capitalismo terminou sua conquista, com a distribuição e a colonização do mundo geográfico – tornando-se assim planetário –, ele começou a recolonizar ou a colonizar seu próprio centro”. Gilles Deleuze e Félix Guattari, no início dos anos 1980, tinham evocado os “terceiros-mundos interiores” no Norte, com o que a linha de corte separando a metrópole da periferia foi fraturada. Ela atravessou o oceano e se infiltrou no Norte, traçando novas fronteiras, novos territórios selvagens e novas exclusões/inclusões de populações não brancas.
A colonização, que deu origem ao capitalismo, aos Estados e depois às democracias ocidentais, perdura sob outras formas no coração desses Estados. A hipótese de uma colonização generalizada se distingue do neocolonialismo, que só faz definir as novas modalidades de colonialismo, mas reproduzindo a clivagem Norte/Sul. A colonização do centro, ao contrário, tenta explicar como a divisão racial atravessa a Europa (diferentemente desta, Israel e Estados Unidos sempre geriram a própria população através de políticas raciais, tornando-se modelos de ordem e de controle interno). Uma vez finda a colonização, o capitalismo começou a “colonizar” a composição de classes dos países do Norte, não só porque os imigrantes e os cidadãos de origem “colonial” se contavam aos milhões, mas também porque a mão de obra precisava voltar a ser “servil” (precária, dirão gentilmente) como tinha sido nas colônias e durante muito tempo no Norte.
Israel é um laboratório de discriminação racial e política, de guerra contrainsurrecional, que experimenta nos territórios as estratégias militares de “guerra contra a população”, conduzidas cotidianamente contra os palestinos à margem de qualquer marco legal. Novas armas e técnicas foram implementadas para controlar as sublevações, as insurreições e a guerrilha, mas, dado o ataque palestino, perderam boa parte da eficiência que lhes era atribuída.
Depois da queda do muro de Berlim, paradoxalmente multiplicaram-se muros, arames farpados, fronteiras blindadas, significando não a vitória da democracia, mas a etnicização do Estado, a colonização generalizada, um nacionalismo cada vez mais fascista, a defesa reacionária das identidades brancas.
O racismo enquanto elemento constitutivo da identidade ocidental nasceu muito cedo, mas, no início da contrarrevolução dos anos 1980, encontra sua justificação estrutural nessa mudança de época produzida pelas revoluções do século xx. Se os brancos já não têm como definir sua identidade em contraste com a selvageria do Sul, ainda assim não conseguem prescindir do racismo.
No momento da explosão da questão palestina, a Austrália, país estratégico da OTAN, onde a perseguição dos aborígenes foi praticada até os anos 1950, rejeitou por 59% dos votos a reivindicação de reconhecimento constitucional dos aborígenes enquanto população original do país. Chegados da África entre cinquenta a quarenta mil anos atrás, os aborígenes estão condenados a viver nas reservas fixadas pelos colonizadores, que desembarcaram por volta de duzentos anos atrás numa terra que encontraram, como todos os colonizadores, incluindo Israel, “desabitada”. O grande problema de Israel é que ele nunca vai conseguir estabelecer uma verdadeira “reserva” para os palestinos, já que está rodeado de milhões de “indígenas”. Os indígenas, tal como os aborígenes, foram massacrados numa época em que a supremacia do Ocidente era esmagadora, até mesmo sem rivais. Os genocídios, os extermínios em massa e os massacres eram considerados atos normais de civilização. Hoje, apesar da propaganda ocidental, podemos assistir tudo ao vivo, sem, contudo, conseguir parar o massacre.
Violência, mal absoluto e psicopatologia
O problema da violência, do uso da força armada que se dissemina rapidamente, tem uma de suas raízes mais importantes precisamente na colonização, o lado obscuro da acumulação capitalista. Com o bombardeio de Gaza mergulhamos novamente no coração das trevas.
A vertiginosa e angustiante espiral de violência à qual assistimos nada tem a ver com um “mal absoluto”, insondável, indizível e inexplicável unicamente pela religião ou pela psicopatologia e pela angústia. A violência é histórica, política, capitalista. O poeta Aimé Césaire disse em alto e bom som: os brancos continuam buscando refúgio no psiquismo doentio ou numa doença “religiosa ou mística” para não cortar as cabeças das três Górgonas contemporâneas: a violência racial, a violência de classe, a violência de gênero (assim se despolitiza o problema, reduzindo-o à desorientação psíquica). Considerado como o abismo da razão, Hitler só encarna um delírio psicótico para aqueles que querem ignorar sua origem histórico-política. Hitler é a exportação colonial da violência capitalista ilimitada que regressa à Europa. A famosa definição marxiana do capitalismo, “potência imanente que não conhece limites”, se aplica, assim, à sua violência, que nas colônias tornou-se violência absoluta, mas a partir do século xx invadiu também a civilização europeia, que a criou e a exportou. Do nazismo, o que escandaliza o século xx – tão humanista, cristão, burguês e distinto – não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si, mas é o crime contra o homem branco, é a humilhação do homem branco e de ter aplicado à Europa procedimentos colonialistas que até então só eram aplicados contra árabes da Argélia, coolies da Índia, negros da África…
A “banalidade do mal” é uma fábula de Hannah Arendt para apaziguar os ocidentais, imputando-o aos terríveis Estados totalitários. Hitler encarna a violência exercida pelos séculos por europeus contra populações consideradas inferiores, é filho do desenvolvimento “banal” do capitalismo, de seu Estado e de sua democracia, e não o resultado de um obscurecimento abissal da política como pluralismo exercido pelas ditaduras. As democracias contemporâneas não hesitam um minuto ao reproduzir o genocídio considerado específico aos Estados totalitários, revelando a função ideológica do conceito de “totalitário”.
Seu ex-marido, Günther Anders, parece ter sido mais perspicaz: o nazismo (com sua banalização do mal) é o signo precursor de um regime que não vai demorar para reaparecer, pois suas condições não são “a ausência de pensamento”, o abismo da razão, mas a acumulação “banal” do capital e sua necessária e indispensável violência absoluta da acumulação primitiva.
A flagrante falta de empatia pela morte, pelo sofrimento, pela fome, pelas torturas e humilhações dos palestinos, transmitidos ao vivo, é fruto de um longo trabalho de formatação da subjetividade à indiferença, que passa pelo trabalho e pelo consumo.
A organização do trabalho e do consumo produz potenciais criminosos (ou cidadãos indiferentes), que, como os nazistas durante o processo de Nuremberg, não demonstravam qualquer empatia e não se sentiam em absoluto responsáveis pela “produção” industrial da morte. Para eles, assim como para o capital, todas as produções se equivalem, desde que sejam eficazes, racionalmente organizadas, respondendo a critérios de quantificação e de calculabilidade. Vale notar que racionalidade, eficiência, calculabilidade etc. fazem parte da linguagem utilizada pelo Exército israelense para justificar seus bombardeios.
Para qualquer empresário, é absolutamente indiferente produzir automóveis, iogurte, eventos esportivos, imóveis ou saúde da população. Esta indiferença quanto ao conteúdo e às finalidades do produto contamina o trabalhador, que deve também fazer abstração de todo julgamento sobre a finalidade de sua atividade. A empresa capitalista pede um “engajamento total” do trabalhador, que nunca deve se sentir concernido pela finalidade de sua produção. Ela estabelece uma separação estanque entre a produção e o produto: “O estatuto moral do produto (gás tóxico ou bomba de hidrogênio) não faz sombra alguma sobre a moralidade do trabalhador que participa da produção”. O “produto mais repugnante não pode contaminar o próprio trabalho”. O trabalho, assim como o dinheiro do qual é a condição, “não tem cheiro”. “Nenhum trabalho pode ser moralmente desacreditado por sua finalidade.”
O ser humano que trabalha fez o “juramento secreto” de “não ver ou melhor de não saber o que faz”, de “não levar em conta sua finalidade”, de “não buscar saber o que faz”. O “saber” as consequências não é necessário para trabalhar. Antes o contrário.
Sua ignorância é desejada no interesse da empresa. Seria falso, contudo, supor que ele precisaria saber. Na verdade, ao menos no ato do trabalho, a visão da finalidade (ou mesmo da utilização que se fará desta finalidade, de todo modo já “pré-vista”) não lhe serviria para absolutamente nada. Ela até o atrapalharia.
Os seres humanos são treinados para a “colaboração”, para a indiferença, para “não ver”, “não saber”, para a falta de empatia, para a dessensibilização em relação ao sofrimento de outrem (mesmo confrontados a um genocídio) não em razão de uma ideologia, mas de agenciamento, dispositivos, práticas, servidões que não se reduzem ao trabalho. Hoje, até o consumidor se encontra na mesma posição do nazista: não quer/não pode saber, ver, julgar. Não deve se perguntar sobre as modalidades de fabricação do produto (utilização de pesticidas, exploração de trabalhadores e crianças em condição equivalente à escravidão) nem sobre as consequências que a fabricação e o consumo têm sobre o planeta ou a saúde. O consumo tampouco “tem cheiro’ – assim como o trabalho, pois só serve para produzir dinheiro. O trabalhador, tal como o consumidor, não deve ser valorizado como produtor de valor econômico (ponto de vista do Capital), mas como produtor da destruição das relações de poder às quais está assujeitado (ponto de vista de classe), condição indispensável para não cair na indiferença, na falta de empatia, na “colaboração” (no genocídio).
Portanto, em relação à época de Anders, o problema da indiferença, da perda de afetos, da falta de empatia se agravou ainda mais, pois, se o trabalhador é indiferente ao produto e à produção, o consumidor é indiferente ao que consome. Que o fluxo de consumo seja contínuo é mais importante aos seus olhos do que o que ele carrega.
O que acontece quando ele é promovido, organizado e financiado pelas democracias? “Poderia eu viver comigo mesma se realizasse esta ação?”, se pergunta Arendt ao fazer referência à ação dos nazistas. Aparentemente, os políticos, os jornalistas, os capitalistas e os militares das democracias contemporâneas conseguem viver muito bem, dormir, levar a vida mais normal e pacífica, armando, financiando e cobrindo os genocídios. Estão em paz consigo mesmos porque pensam estar promovendo os valores do Ocidente, e é totalmente verdade, pois esses valores sempre implicaram o assujeitamento, a humilhação, a exploração por parte da população branca e a escravidão, a servidão, até a supressão de tudo o que não é branco!
O que é realmente banal é o deslizamento progressivo e sem ruptura da democracia rumo ao fascismo, do liberalismo rumo à ausência de liberdade, da concorrência para a guerra. Isso aconteceu na primeira metade do século xx e se repete hoje de maneira ligeiramente diferente. A origem do mal “totalitário” já estava contida no individualismo possessivo, na incitação ao enriquecimento, na livre concorrência das empresas, nas privatizações, nas centralizações do Estado democrático e do capitalismo, mas, sobretudo na propriedade privada, que conjuga economia e política – coração e finalidade da produção –, ela é uma instituição jurídica estabelecida pelo Estado.
Há tempos entramos na banalidade do novo fascismo, ainda que não se possa indicar a data precisa em que nele caímos. Isso começou quando suprimimos de nossas teorias os conceitos de imperialismo, de guerra, de guerra civil, de negativo, de negação, exaltando ingênua e irresponsavelmente uma vida já liberada do poder e do capital, ontologicamente potente, em si revolucionária.
A burguesia, enquanto classe, está condenada, queiramos ou não, a assumir toda a barbárie da história, das torturas da Idade Média à Inquisição, da razão de Estado ao belicismo, do racismo à escravidão, nos diz o poeta Césaire.
Franco Berardi (Bifo), com seu mantra do fim do político, opera uma inversão entre causa e efeito: “Eu me convenci de que o único método cognitivo capaz de compreender a violência que se espalha no Oriente Médio, e numa grande parte do mundo, é o da psicanálise, da psicopatogenealogia”. Parece que a tarefa dos teóricos e dos intelectuais desde os anos 1970 foi a de “desarmar” conceitualmente (reduzindo a relação de poder sistêmico à psicologia) o proletariado contemporâneo já em si mesmo tão enfraquecido.
As psicopatologias que Fanon (formado na escola de Tosquelles, no hospital psiquiátrico de Saint Alban, modelo da clínica de La Borde dirigida por Oury e Guattari) encontra e analisa nos pacientes argelinos têm suas causas no aniquilamento subjetivo produzido pelo capitalismo colonialista, na violência da predação que infecta tanto a alma como o corpo do colonizado. Ao lado da decolonização política, Fanon reivindica a necessidade de uma decolonização subjetiva, a mais importante, a qual consiste, sem dúvida, em liberar-se da violência do colonizador.
A “desumanização sistemática” praticada pelo colonialismo, em que reina o regime da guerra e da exceção permanentes, tem sua própria versão ocidental. Há cinquenta anos estamos submetidos a guerras e guerras civis larvares que, elas também, “multiplicam os transtornos mentais e favorecem a emergência de fenômenos patológicos específicos”, nos despersonalizam, nos inferiorizam, embora de maneira diferente do que entre os colonizados. Muitas doenças mentais têm sua origem na impotência subjetiva que cada um sente, na humilhação que nos rebaixa a todos, produzindo uma frustração racista, sexista e classista. Esta condição de impotência foi ampliada ao paroxismo pelo genocídio em curso, ao qual acompanhamos ao vivo, informados mas impotentes.
Durante a Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra e na União Soviética, “a descrição das patologias se multiplicou. Hoje, sabemos com certeza que não é preciso ser ferido por uma bala para sofrer pela guerra, seja no corpo ou no cérebro”, dizia Fanon. Continua sendo verdade hoje, com as bombas que caem continuamente sobre Gaza e sobre nós, espectadores, mesmo tendo a sorte de não estarmos na mira do Estado de Israel.
Existe uma violência cotidiana, a da exploração do trabalho, das relações homem-mulher, do colonialismo e do neocolonialismo, uma violência que parece invisível mas que se acumula no corpo. A luta contra a opressão vai de par com a “liquidação de todas as não verdades introduzidas nos corpos pelo opressor”. Não se trata apenas de “rechaçar as forças inimigas”, mas também “os nós de desespero cristalizados no corpo”, que sofre a exploração, a dominação e a guerra.
Em vez de uma psicanálise de massa, Fanon propõe a luta pela liberação como um antídoto eficaz: “Só a luta pode exorcizar realmente as ficções sobre o homem que inferiorizam e mutilam literalmente os mais conscientes entre nós”.
No seu livro sobre a Argélia, ele nota que a declaração de guerra da Frente de Libertação Nacional (FLN) contra a ocupação francesa “curou” muitas patologias produzidas pelas humilhações, desumanizações e angústias sofridas pelos colonos. Os colonizados reduzidos à passividade são revitalizados pela luta aberta contra o opressor, mesmo que não sejam militantes da FLN. Esse tratamento faria bem a todo mundo, com certeza seria melhor do que os vários métodos de “tratamento” e as impotentes “relações a si” em voga hoje em dia.
Trata-se de refletir sobre a afirmação do poeta segundo a qual esta violência, que é preciso considerar hoje a um só tempo neocolonial e de colonização generalizada exercida pelos Estados e as classes politicas e econômicas ocidentais, “trabalha para descivilizar o colonizador, para embrutecê-lo no sentido próprio do tempo, para degradá-lo, para despertar os instintos escondidos, luxúria, violência, ódio racial, relativismo moral”. O “colonizador” do centro que se habitua a “ver no outro a fera, a tratá-lo como uma fera, tende objetivamente a se transformar ele mesmo em fera”. As palavras do poeta preservam toda sua pertinência: os palestinos são sempre qualificados de “animais selvagens” pelo primeiro-ministro Netanyahu e de “animais humanos” pelo ministro da Defesa Yoav Gallant. Um ministro socialista francês qualificou os habitantes das periferias de “pequenos selvagens”.
Essa violência da “colonização generalizada”, da qual Israel é um dos ápices, está destinada a regressar e fazer explodir a civilização que a produziu. A Europa acabou assim, os Estados Unidos também acabarão assim? A guerra mundial e civil atual pode igualmente ser lida desse ponto de vista. A modernidade, as Luzes, o constitucionalismo, o direito, o liberalismo, orgulhos da Europa altamente civilizada, durante séculos tiveram seu contrário nas colônias, dirigidas por potências europeias as mais modernas e esclarecidas. Nas colônias, essas belas invenções não contavam, reinava somente a violência ilimitada da acumulação primitiva: “Em geral, a escravidão velada dos trabalhadores assalariados na Europa tinha necessidade do pedestal da escravidão sem frase no Novo Mundo” (Marx), com o corolário necessário da acumulação primitiva, que acompanha, como neste momento, o desenvolvimento (ou a crise) do capital e da democracia. Com as duas guerras da primeira metade do século xx, uma única e mesma grande guerra civil mundial, a Europa e o Ocidente puderam experimentar sobre a própria pele o lado sombrio e recalcado de sua civilização: brancos desumanizam outros brancos com procedimentos que nada têm a ver com as Luzes. Para Adorno e Horkheimer, “a autodestruição” à qual tendem as sociedades capitalistas no nazismo é apenas uma de suas manifestações, e tem suas raízes no Iluminismo.
Também aqui o nazismo funciona como exorcismo, pois permite convocar o mal absoluto, considerando-o uma simples e momentânea interrupção de um progresso civilizado e infinito, a infecção superficial e temporária de um corpo fundamentalmente são.
A fábula do Ocidente esclarecido que acusa os outros por não terem saído da barbárie, da religião e do desespero, da vida e do pensamento “selvagens”, não se sustenta frente ao espetáculo diário de barbárie que exerce quem dá aulas a respeito. É por isso que, mesmo na guerra da Ucrânia, os países do Sul não se situam do lado do Ocidente e não cedem às mentiras que fizeram dos israelenses vítimas.
“Colonização: ponta de lança de uma civilização da barbárie por onde pode infiltrar-se a negação pura e simples da civilização”, adverte o poeta. E acrescenta: o maior perigo sempre vem do interior do Ocidente, pois a violência produzida em cinquenta anos de globalização gera um “choque bumerangue”, que, se há um século recebia o nome de Hitler, sempre pode, sob o nome de Hitler, sob outra forma, repropor uma violência abissal.
A quantidade de explosivos lançados sobre Gaza em 28 de outubro ultrapassa as doze mil toneladas, uma potência equivalente à bomba lançada sobre Hiroshima (em janeiro, o volume de bombardeio foi duas vezes mais potente que a primeira bomba atômica). Tudo somado, os estadunidenses, sempre na vanguarda e na desmesura, já tinham encerrado o debate hipócrita sobre as mortes civis, somando cento e sessenta e seis mil (queimados vivos, deformados pela bomba atômica) em Hiroshima e oitenta e oito mil em Nagasaki, com centenas de milhares de feridos. Os japoneses que sofreram as sequelas da bomba somam seiscentos e cinquenta mil, chamados de “hibakusha”, um termo composto de ideogramas “sofrer”, “explosão”, “pessoa”. O New York Times publicou declarações de oficiais israelenses segundo as quais a estratégia utilizada pelos aliados em Dresde e em Hiroshima, a saber, é a de bombardear indiscriminadamente para forçar o inimigo a render-se.
Depois dessa façanha humanitária estadunidense é ridículo discutir a distinção entre militares e civis, sobretudo num país colonizado, onde só existem colonizadores e colonizados. Com efeito, com a invenção dos bombardeios aéreos, já não é possível fazer a distinção entre civis e militares, pois, vistos do alto, estão todos armados e todos indefesos.³ As bombas têm muito poder, mas não o suficiente para distinguir mulheres, crianças, idosos e civis de combatentes. O bombardeamento de Gaza está aí para provar que não pode haver bombardeio “cirúrgico” – é preciso ter um olhar “político” partisan (ver através dos desejos e interesses, o olho nunca é “objetivo”).
O Ocidente, que reencontrou sua identidade “colonial” na “luta global contra o terrorismo” (com um começo ainda hesitante na guerra do Iraque, mas hoje fanaticamente unido porque sente seu poder ameaçado), está preparando o “retorno” da violência que exerceu através da guerra contra o “mal”. A “guerra sem fim contra o terrorismo” é um signo precursor das catástrofes planetárias por vir, porque retornarão sobre o solo daqueles que as propagaram.
Há décadas que os Estados Unidos impõem seu veto em favor de Israel no Conselho de Segurança: trinta e cinco vezes desde 1970. Hoje, ainda que sozinhos, mesmo completamente isolados, colocaram-se contra um cessar-fogo imediato, provando uma vez mais que não querem a paz – nem na Palestina nem no resto do mundo. Definitivamente, a “governança” mundial se chama guerra, desestabilização, caos e operações de polícia, muito diferentes da biopolítica e do neoliberalismo. Uma última função da indústria de armamentos, e não a menos importante, surge com a economia de guerra.
Dos cem bilhões de dólares de ajuda a Kiev, sessenta bilhões nunca saíram dos Estados Unidos, pois foram para encomendas à indústria militar estadunidense, um setor estratégico para o funcionamento do capitalismo que regula o ciclo de acumulação, constituindo o correspondente das exportações no imperialismo clássico: fornecem a demanda necessária para a realização da mais-valia quando o consumo diminui.
Segundo o Departamento de Estado, os Estados Unidos ganharam duzentos e oitenta e três bilhões de dólares graças às vendas de armamento em 2023: o governo federal vendeu 80,9 bilhões de dólares em armas (cinquenta e seis por cento a mais do que em 2022), o resto foi vendido por empresas estadunidenses. Ao longo de cinco anos, entre 2018 e 2022, quarenta por cento do comércio mundial de armas esteve nas mãos dos Estados Unidos. No quinquênio anterior, essa cifra era de trinta e três por cento.
O secretário de Estado estadunidense Antony Blinken está mais consciente do que os críticos do capitalismo sobre a função de motor econômico-político da indústria de guerra. Ele repetiu, a propósito do financiamento israelense, a declaração cínica que já tinha feito sobre o financiamento da guerra contra os russos:
Se olharem os investimentos que fizemos na defesa da Ucrânia (…), 90% da ajuda à segurança que fornecemos foi gasta aqui nos Estados Unidos – em nossas fábricas, em nossos fabricantes (…) Isso criou mais empregos estadunidenses e mais crescimento em nossa economia.
¹ No sentido de membro da resistência. (N.T.)
² Confiamos mais em Nelson Mandela do que em qualquer filósofo quando se trata do conceito de apartheid: “No que diz respeito à ocupação israelense da Cisjordânia e de Gaza… as chamadas áreas autônomas palestinas são bantustões”.
³ A partir da Primeira Guerra Mundial, a distinção entre soldados e civis não tem mais sentido, pois desde então os civis são as vítimas mais numerosas. A guerra é total, portanto igualmente contra a população. O inventor do bombardeamento aéreo, que o experimentou pela primeira vez, como de praxe, nas colônias, não era tão hipócrita quanto os jornalistas contemporâneos: “Há cem anos, um general italiano já afirmava que na guerra moderna ‘todo mundo se torna um combatente’ […] não pode mais haver distinção entre beligerantes e não beligerantes”, Fabrizio Tonello, no site Volere la luna.
Maurizio Lazzarato é um pensador independente. Publicou entre nós Fascismo ou revolução?, Guerras e capital e O que a guerra da Ucrânia pode nos ensinar?, entre outros. Acaba de concluir Rumo a uma nova guerra civil mundial?, a sair pela n-1 edições, do qual faz parte o presente texto.