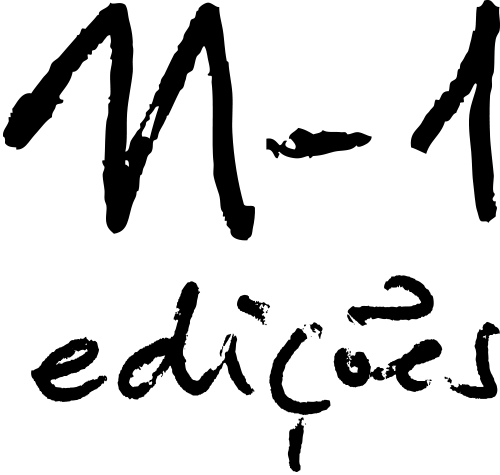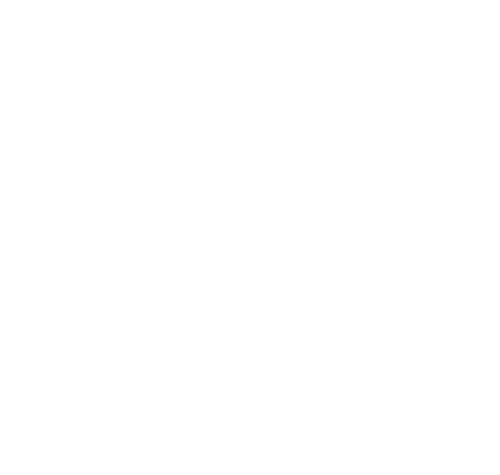A decomposição social de Israel (Bentzi Laor)
Pode parecer um despropósito e até uma injustiça falar sobre os acontecimentos internos de Israel enquanto se presencia uma catástrofe a tal ponto gigantesca na Faixa de Gaza, cujo responsável, aliás, é esse mesmo Estado. Mas seria demasiadamente trivial inserir a invasão militar e a destruição de uma comunidade de dois e milhões e meio de palestinos como “mais um capítulo de violência levado a cabo pelo opressor colonialista israelense” num conflito que já dura tantas décadas.
Esse não é simplesmente “mais um” capítulo na incontável série de guerras, incursões, atentados terroristas e expulsões que abalaram a região. A transformação interna da sociedade israelense nas últimas décadas, cuja causa maior é precisamente a violência que marcou as várias encruzilhadas de sua história recente, abriu as portas para o fascismo fundamentalista que hoje se encontra no poder e que rompeu a aparente coesão social do país.
A vulnerabilidade demonstrada frente à invasão do Hamas no 7 de outubro último, seguida pela invasão vingativa de Gaza, em paralelo à aceleração tanto da anexação “de facto” da Cisjordania quanto da tentativa de abolir as instituições democráticas do país, parece indicar que essa crise sui generis é irreversível.
A aliança perversa entre um primeiro-ministro processado por suborno e corrupção e os partidos religiosos fundamentalistas que almejam mais poder e autonomia, principalmente no controle exclusivo dos territórios ocupados da Cisjordânia, permitiu desde janeiro de 2023 alavancar uma ampla reforma jurídica e administrativa. Seu objetivo era a transformação do Poder Judiciário e do serviço público em colaboradores mansos e leais da coalizão de extrema direita no governo. Apesar das manifestações gigantescas contra tal golpe de estado dissimulado, a população laica e progressista israelense tem conseguido poucos resultados para interromper o processo.
Foi nesse contexto – em que o governo fundamentalista, preocupado unicamente em satisfazer os setores religiosos e os interesses dos partidos da coalizão que apoiam o primeiro-ministro, abandona com desprezo o “resto” da população (que representa mais do que a maioria…) – que o Hamas identificou uma janela de oportunidade única para sua invasão do 7 de outubro. A fragilidade da sociedade israelense, agravada gradualmente durante um longo período de tempo, somada à arrogância militar que sempre desprezou a capacidade de resistência dos palestinos foi um convite para uma mudança da equação.
O desmoronamento da sociedade israelense continua a se desenrolar de forma acentuada desde então. O exército é mantido atualmente num falso estado de guerra (já que a invasão, a destruição e a ocupação de Gaza estão consumadas) para disfarçar o fato de que Israel está ocupando definitivamente a totalidade do território. Os refugiados civis israelenses, removidos das regiões fronteiriças com Gaza e com o Líbano, na grande maioria habitantes de kibutzim (de esquerda e, portanto, inimigos do governo), não recebem atenção alguma. E pior, o abandono dos civis sequestrados pelo Hamas à própria sina representa, na prática, a extinção da última “fogueira da tribo” que mantinha o mínimo de solidariedade da sociedade civil israelense.
De desastres naturais se ocupa o Todo-Poderoso
Num colóquio realizado em 2006 no Instituto van Leer em Jerusalém, o filósofo Adi Ophir descreveu desastres naturais (inundações, epidemias, terremotos etc.) como algo que ocorre no limite entre o poder político e seu exterior. Diz Ophir: “O poder político se encontra numa posição vulnerável diante do que a natureza pode causar. Com efeito, o desastre natural é a ameaça que vem de fora do poder político. Quando o desastre natural é de grandes proporções, o poder político recua e se retira da zona afetada”.
Ophir dá como exemplo a fuga da corte inglesa de Londres em 1665 diante da peste negra que se espalhou pela cidade, procurando se proteger e se esquivando da responsabilidade de enfrentar a situação. Cita também um caso parecido, da peste no sul da França em 1721, que foi isolada e abandonada pelo governo monárquico central.
Sempre haverá explicações que isentem o poder central de responsabilidade em desastres naturais. Ophir lembra que, na Idade Média, o poder político central se ocupava dos “problemas da vida presente”, enquanto o poder religioso se ocupava dos “problemas da vida eterna”. Isso sempre deu uma margem de manobra ao poder político para evitar a administração de desastres e tragédias, evocando caprichos divinos como causas irrefutáveis.
Com o desenvolvimento do Estado moderno, e o aperfeiçoamento da governabilidade, tal como descreveu Foucault, esta separação se tornou mais e mais manipulativa. A intervenção (ou não) do poder central em desastres naturais, longe de se basear numa separação de poderes, passou a ser uma escolha deliberada do poder central de “encolher-se” por pura conveniência, mas, “…assim como Deus pode a cada momento voltar a ocupar o espaço que antes desocupou”, completa Ophir, o poder central faz o mesmo promulgando as leis de exceção.
Desastres naturais, em princípio, lembra o autor, não são previsíveis, o que a priori isenta o poder central de culpa por falta de preparação e alerta. Sabemos hoje que tal premissa há tempos perdeu sua validade, já que os próprios governos possuem uma responsabilidade histórica pelos desastres climáticos. Mas não nos enganemos, uma vez ocorrido o desastre, o poder está completamente engajado em administrá-lo segundo estratégias que lhe convêm. Em suas ações toma (ou não) medidas que evitam o agravamento, se encarrega (ou não) do cuidado com as pessoas afetadas, indenizações, reconstruções etc. Enfim, todas as medidas que protegerão (ou não) as vítimas existentes e as potenciais.
Assim, estamos diante de dois extremos de governabilidade: a “providencial”, que se orienta pela intervenção proativa e pela minimização dos efeitos dos desastres, e a “catastrófica”, que opta pela esquiva e pelo abandono da população.
Tragédias políticas como desastres naturais
Uma guerra imposta “de fora” ou uma guerra civil podem ser classificadas por governos autoritários, de forma paradoxal, como “desastres naturais” ou “atos divinos”, no sentido em que o poder central se considera isento de responsabilidade direta, mas pode manipular sua gestão. Como explicam os aliados religiosos de Netanyahu, “essa é uma guerra santa, de salvação, que Deus nos presenteou, e temos que agradecer pelo privilegio de viver um momento tão especial” (citando um dos ministros da coalizão).
As atitudes pomposas e cerimoniais que caracterizam a conduta de Netanyahu e sua família, imersos num modo de vida luxuoso e extravagante que lembram o anacronismo do casal Ceaucescu, destoam das regras razoáveis de conduta e de ostentação que caracterizam as democracias e suscitam um fascínio carismático sobre seus adeptos. Lembram o que escreve Agamben em O reino e a glória sobre as relações entre o poder como governo e gestão e o poder como realeza cerimonial. Citando Carl Schmitt, Agamben mostra que governos modernos estão carregados de elementos teológicos que possibilitam ao governante tanto o poder de “reinar” (simbolicamente) como o poder de “gestionar” (politicamente). Nesse contexto, impulsionado por aliados fundamentalistas, Netanyahu pode se isentar da responsabilidade pela guerra e adotar a face teológica de quem encara um ato divino inevitável (a guerra como desastre natural). Como fachada, faz aparições públicas cerimoniais com discursos retóricos vazios de conteúdo mas com impacto quase religioso sobre seus adeptos. Em paralelo, se arma de uma exército de propaganda que o louva constantemente, controlando a opinião pública e administrando a glória teológica.
Tratando-se de um conflito entre “nós” (a parte da população que apoia o regime) e “eles” (o inimigo externo ou a oposição interna), o poder central impõe um regime de governabilidade “providencial” que protege os primeiros e outro, “catastrófico”, que penaliza o segundo.
Neste capítulo do conflito palestino-israelense, mesmo levando em conta a gigantesca diferença entre a tragédia vivida pelos palestinos comparada com a crise interna israelense, tanto os palestinos de Gaza como as vítimas civis israelenses (já marcadas anteriormente como opositores ao regime – pois denunciam sua omissão) que se tornaram refugiados internos passaram a viver “vidas expostas”, cada uma de outra forma. Essa definição ressoa com a de “vida nua”, de Agamben, no sentido em que está submetida à possibilidade arbitrária de exclusão ou de inclusão pelo poder. Se no caso palestino a exclusão e o abandono são o produto de uma invasão que almeja impossibilitar a continuidade de uma vida comunitária, sem abrigo, sem alimentação e sem recursos médicos, visando a uma ocupação militar definitiva, no caso doméstico israelense estamos diante de uma variante muito menos trágica, porém mais perversa: o poder central exclui suas próprias vítimas (lembremos que na maioria é uma população opositora ao regime) de medidas que poderiam ajudá-las a voltar a alguma normalidade, ignorando suas misérias e aprofundando sua crise humanitária, como se não fossem cidadãos do próprio país. Já se ouviu ministros fascistas afirmarem que “talvez se substitua a população que lá vivia (opositores do regime) por outra (fundamentalista)”.
Os palestinos já contam quase quarenta mil mortos e tentam sobreviver em meio a uma destruição total, que inclui um grau extremo de domicídio (destruição massiva de casas mesmo já desabitadas) e de ecocídio, com o explícito desígnio de sabotar as condições elementares de vida, e encontram-se em total dependência de remessas externas de alimentação e medicamentos, que chegam de forma aleatória e ficam à mercê de bombardeios incessantes por parte de Israel.
Os refugiados israelenses, provenientes de comunidades destruídas pelo Hamas (nas vizinhanças de Gaza) e de localidades que seguem sendo bombardeadas pelo Hizbollah (na fronteira com o Líbano), vivem há meses em lugares provisórios, a maioria traumatizada pelas perdas de familiares, mortos ou raptados (aproximadamente dois mil no total), abandonados pelo governo, sem perspectivas de reconstrução e de restauração de uma vida coletiva, desprezados e humilhados pelo próprio governo, que se recusa a fazer qualquer esforço para recuperar seus familiares sequestrados, como se fossem apátridas em seu próprio país. Note-se que o modo pelo qual o governo, de forma intencional, não prioriza nem se interessa por eles faz com que a responsabilidade pelo destino dos sequestrados seja do próprio governo. A morte evitável desses, depois de meses e meses de abandono, significa que o governo permitiu que morressem por omissão deliberada, sem que a lei o culpe. Aqui também ressoa a figura do “homo sacer” de Agamben, aquele cuja morte está excluída do direito e da responsabilidade do poder.
Se há algum elo que conecta as vítimas de ambos os lados, apesar do abismo que os separa, é a origem de seu sofrimento atual: a perversão do governo israelense. O poder central exclui parcela de sua própria população de medidas que poderiam lhe devolver alguma normalidade, ignora seu sofrimento e aprofunda sua crise humanitária.
Os “protegidos” israelenses, os religiosos de todas as gamas que sustentam a aliança perversa com o primeiro-ministro, ao contrário, recebem continuamente fundos ilimitados (de um orçamento já extremamente deficitário por causa da guerra): os colonos recebem proteção militar para suas atividades violentas contra os palestinos dos territórios ocupados da Cisjordânia, e os ultraortodoxos têm o privilégio de isenção do serviço militar obrigatório para poderem “estudar as Sagradas Escrituras”, aumentando a carga de serviço militar dos que não estão isentos (reservistas que há meses não voltam para casa).
O abandono de alguns setores da população e a proteção seletiva de outros estão intimamente ligados, criando uma coexistência entre vidas expostas e vidas protegidas – é notável a capacidade do Estado moderno de regular e manobrar os graus de abandono e de proteção de sua própria população.
O nó górdio (como o expressa Ophir) não pode ser desatado. O governo da autodestruição cria suas próprias tragédias e as utiliza como meio de controle. Mas até que ponto tal sistema é sustentável?
Estados suicidários
Em artigo publicado em fins de 2021, Vladimir Safatle escreveu sobre a natureza dos Estados Suicidários. Referindo-se ao “Essai sur l’Insecurite du Territoire”, de Paul Virilio, diz o autor que um Estado dessa natureza “…não deve ser compreendido apenas como gestor da morte para grupos específicos. Ele é o ator contínuo de sua própria catástrofe, o cultivador de sua própria explosão, o organizador de um empuxo da sociedade para fora de sua própria autorreprodução”.
Safatle explica que “há várias formas de destruir o Estado, e uma delas, a forma contrarrevolucionária própria ao fascismo, seria acelerar em direção à sua própria catástrofe, mesmo que isso custe nossas vidas. O estado suicidário seria capaz de fazer da revolta contra o Estado injusto, contra as autoridades que nos excluíram, o ritual da liquidação de si em nome da crença na vontade soberana e na preservação de uma liderança que deve encenar seu ritual de onipotência mesmo quando já está clara sua impotência”.
Tudo isso ocorre de forma exemplar em Israel. A guerra é prolongada artificialmente e de forma incessante, como uma trajetória em bicicleta em que não se pode parar de pedalar para não perder o equilíbrio. Alimenta-se assim a suposta coesão de uma sociedade já desmembrada, em torno de um objetivo inalcançável (o que Netanyahu chama de “a vitória absoluta”). Como num laboratório de experiências sociais e políticas, a exclusão e o abandono de setores inteiros da população a expõe a injustiças jurídicas, à privação de auxílio material e até à própria morte.
Já vimos na história recente episódios deste gênero, onde a continuidade do poder foi mais importante do que a preservação do Estado e da própria sociedade. Hitler, ao se dar conta de uma derrota iminente, declarou que, se a guerra está perdida, a nação merece perecer. Franco manteve a Espanha em uma situação precária durante décadas, na posição de pária da Europa ocidental, para poder manter o regime e perseguir os eternos inimigos. E, antecipando o futuro, vemos como Trump promete a eliminação das instituições democráticas estadunidenses, se for reeleito, o que recriaria um cenário parecido ao que antecedeu a trágica guerra civil do século XIX.
Em Israel somos testemunhas da criação de milícias fascistas armadas, do controle dos meios de comunicação – que passam a servir de porta-vozes do regime e alimentam um discurso belicoso bem orquestrado – e do uso da polícia como instrumento de repressão. Tudo isso em paralelo à mobilização de centenas de milhares de soldados (em serviço militar e reservistas) para manterem aceso o fogo da mobilização total.
Como a implosão é irreparável, e não há como recompor os fragmentos da sociedade, a máquina de (auto) destruição não pode parar. No caminho, como bônus, o fascismo israelense auxilia a ascensão do fascismo mundial, especialmente nos Estados Unidos, o que garantirá a continuidade do processo suicidário.
Trata-se, sem dúvida, de um processo insustentável. No futuro há de se explicar como a obsessão judaica em ignorar a existência dos palestinos no lugar escolhido como seu abrigo político contra o antissemitismo e em outorgar a si mesmo o status de povo eleito, cujos direitos são exclusivos e indiscutíveis, terão sido os ingredientes que promoveram a ascensão do fundamentalismo judeu e seu rompante suicidário. Como a crônica de uma tragédia anunciada.
Resta saber qual será a posição dos judeus diaspóricos: assistirão atônitos ao drama, ainda presos à inércia do apoio incondicional ao Estado de Israel e suas barbaridades, ou se libertarão dessa tutela, assumindo uma atitude crítica?
Bentzi Laor vive em Israel e é ativista de direitos humanos nos territórios ocupados. Trabalhou durante mais de 30 anos em cargos diretivos em empresas multinacionais. É formado em Engenharia, e graduado em Filosofia e Administração de Empresas. É coautor de O judeu pós-judeu: Judaicidade e etnocracia (n-1 edições).